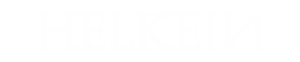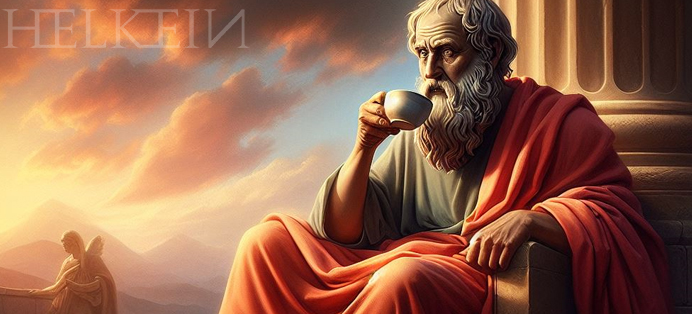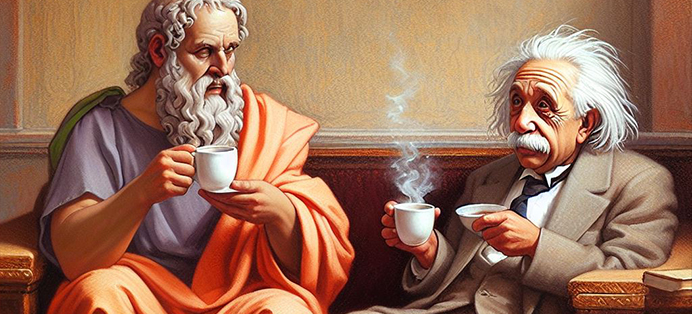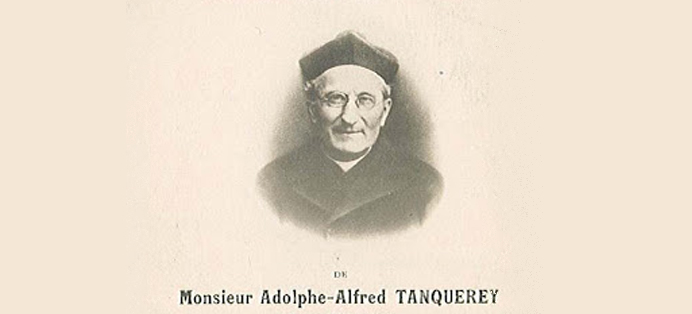Ao insensato parece recto o seu proceder;
o que porém é sábio ouve os conselhos.
Pr. 12:15
Os seguintes conselhos, destinados àqueles que desejam estudar filosofia, foram escritos como síntese de experiências em torno do ensino e do aprendizado da matéria; contém, portanto, explicações de tom biográfico e anedotas que visam guiar o interessado pela amizade com a sabedoria através de sua figura real: enquanto problema. No entanto, como urge que ocorra com qualquer escrito de pretensão filosófica, o despojo da forma não pode ofuscar a precisão; por isto tomei o cuidado de referenciar minhas afirmações naquelas feitas por filósofos para mostrar que nesta disciplina tudo deve ser enraizado na tradição.
Este ensaio foi redigido visando um leitor autodidata; meus esforços miram, portando, equipá-lo com noções básicas que lhe permitam estudar, dentro do possível, sozinho. É sabido pelo menos desde Platão[1] que o aprendizado rigoroso da filosofia se dá com a ajuda de um preceptor; entretanto, diz Schopenhauer, é complicado encontrar um filósofo e pior ainda dois ao mesmo tempo[2], nos restando a tutoria da imagem dos mestres do passado – pois a “filosofia é aquilo que seus fundadores quiseram, não aquilo que seus sucessores fizeram dela”.[3] Tal atitude, creio, parecerá estranha para muitos; talvez torçam o nariz, ainda, por conta de muitas das concepções que proferimos serem diametralmente opostas não apenas à opinião popular acerca da filosofia, mas também ao que chamam de consenso acadêmico. Neste ponto devo acrescentar que o foco jaz no estudante, não num diploma, e a endoxa que mais importa é aquela advinda dos criadores da matéria. Nisto, advertimos, dito algum será despropositado. Espero que estes conselhos auxiliem todo aquele que quiser seguir os passos dos filósofos.
- O que, exatamente, é estudado?
Todo homem, diz Aristóteles, está naturalmente desejoso de saber, isto é, o desejo de saber é inato; esse desejo já se manifesta na criança pelos “porquês” e os “como” que ela não cessa de formular…
Régis Jolivet – Curso de Filosofia p.19
Certa feita, nos tempos de faculdade, meu professor de metafísica contou, num teor de desabafo, a seguinte anedota: “quando perguntam para outros professores no que consiste o conteúdo que lecionam, é fácil responder; o de matemática pode dizer que ensina a calcular. Mas para o professor de metafísica isso é bem complicado”. A história reflete, no drama daquele que leciona a matéria mais intrincada da filosofia, o todo da disciplina, uma vez que tanto seu objeto quanto sua definição tendem a ser disputados: há os que a tratam como legisladora dos limites e funções da razão humana[4], os que procuram reduzi-la a uma filologia das proposições científicas[5], os que debatem se a filosofia é ou não ciência e também os que especulam se ela é uma forma de conhecimento válido. Esse turbilhão de questões costuma, em manuais, ser atirado no rosto do estudante e, caso esteja em aula, o sujeito é convidado a refletir sobre cada uma delas; mas isto é um erro: o leigo ainda não possui o aparato crítico para avaliar grandes questões e, em verdade, adquiri-lo-á apenas depois de alguns anos de estudo. A filosofia não possui atalhos; uma pletora de questões imediatas – e fora de foco – serve apenas para lançar o estudante no que chamo de politeísmo opinativo: um estado em que a pessoa, posta diante de uma série de teses cujo escopo não pode ser examinado devido à falta de princípios de avaliação, fica incapaz de decidir como proceder.[6] Este problema, advindo não apenas de um ensino duvidoso, mas também de um estudo desorganizado, possui pelo menos quatro resultados: a desistência da matéria, a escolha da opinião mais adequada a sentimentos, o relativismo (ou ceticismo), onde se desiste de saber qualquer coisa, e a busca por orientação adequada. Mas onde encontrá-la, uma vez que as opiniões variam? Para responder, precisamos, antes de especular o que é filosofia, precisamos seguir seu itinerário comum: examinar o que há em nossas mãos e depois arriscar algumas definições. E, para examinar a filosofia, importa que conheçamos sua história.
- A Filosofia e sua História
A história da filosofia é a história dos problemas filosóficos, das teorias filosóficas e das argumentações filosóficas. É a história dos debates entre filósofos, das conquistas e dos erros dos filósofos. É a história de sempre novas tentativas de tomar de assalto questões inevitáveis, na esperança de conhecer, entre outras coisas, sempre mais a nós mesmos e de encontrar orientações para a nossa vida e menos frágeis motivações para nossas opções.
Giovanni Reale & Dario Antiseri – História da Filosofia Vol.1: Antiguidade e Idade Média p.5
Qual é a diferença entre a filosofia e sua história? É uma pergunta quiçá chocante, mas capaz de confundir muitos eruditos que se recusaram a ensinar história da filosofia por crer que isto reduziria a disciplina à sua história – em vez disso, preferiram tratá-la como se fosse uma disciplina feito a física, onde podemos estudar com manuais especializados e fórmulas cuja historicidade não importa. No entanto, antes de tratar desta forma de ignorância, devemos apontar que a história de um objeto difere dele mesmo: a história da medicina é uma coisa e a prática médica é outra, da mesma forma que a mecânica é uma e sua história é outra. Entretanto, enquanto é possível ser um exímio médico ou mecânico prescindindo da história da disciplina, isto não ocorre com a filosofia, pois ambas são inseparáveis numa relação de dependência distinguível em pelo menos três sentidos: o primeiro consiste em apontar que o desconhecimento da história da filosofia nos leva a repetir erros há muito corrigidos; o segundo refere-se à organização das fontes primárias, corresponde à compreensão da filosofia a partir de seus representantes de todas as épocas; e o terceiro, referente à aquisição do status questionis e seu viés cronológico – uma vez que os filósofos elaboram respostas em diálogo com seus antecessores. Comentemos cada um destes aspectos.
Conforme o primeiro sentido, devemos ter em conta que há problemas filosóficos resolvidos e questões em aberto cuja resolução depende do conhecimento e seu desenvolvimento histórico. Não conhecer a história da filosofia leva à repetição de conclusões definitivamente impugnadas e/ou distorcer a estrutura do problema. No entanto, ambas as nuances do problema esbarram em duas crendices de senso comum: a de não haver problemas filosóficos resolvidos e que conclusões filosóficas não dependem de sua estrutura histórica. O estudante atento perceberá que a segunda crença contradiz a primeira – a menos que haja um relativismo implícito.
Quanto à primeira crendice, basta apresentar algum problema perenemente resolvido; a tese de que o ser é e o não-ser [absoluto] é impossível serve de exemplo de problema resolvido; sua primeira apresentação ocorre em Parmênides, ainda sem a completude da idéia de ser, e permanece sustentada, de diversas maneiras, até hoje. Nos termos de Mário Ferreira dos Santos, se algo há, o nada absoluto é impossível, pois, se houvesse um nada deste jaez, não seria possível que algo viesse a ser. Bem compreendida, a tese fica estabelecida.[7] Quanto à segunda crendice, cumpre observar que a resolução de problemas filosóficos opera mediante a coleta e avanço de resoluções parciais deixadas por outros filósofos. Platão, por exemplo, pôs, no Crátilo, a questão dos nomes: eles possuem uma estrutura natural ou convencional? Isto passou para Aristóteles, que oferece uma resposta mais completa em seu Da Interpretação; mas isto não poderia ser feito corretamente se o segundo não soubesse como a questão foi posta pelo primeiro. Observemos, ainda, que eventuais mudanças na forma do problema significam antes que sua resolução exige mais considerações do que a impossibilidade de uma resposta. Nisto, fica claro que ambas as crendices não acordam com o que de fato acontece na filosofia.
Por outro lado, problemas filosóficos possuem, semelhante ao ocorrido na ciência, graus de impermeabilidade: temas metafísicos podem, n´algum sentido, ter resolução definitiva; já temas morais, devido à sua concretude, podem variar conforme uma série de circunstâncias – característica presente mesmo num sistema moral dotado de um cânone.[8]
Para seguir a primeira comparação com temas científicos, uma objeção comum contra a idéia do aprendizado de história da filosofia é baseado no fato de que, na maioria das ciências, não precisamos saber a história do problema para resolvê-lo da mesma forma que não interessa quem foi Pitágoras para quem executa o teorema. Entretanto, a comparação não vale, pois a filosofia, embora resolva os problemas que lhe competem, não se resume a uma técnica de resolução cujo operar independa de aspectos apontados por outros. A concepção dos problemas filosóficos depende da compreensão de sua historicidade; é por isto que o teorema de Pitágoras pretere adaptações que conservem seu sentido para nós, enquanto os temas políticos comentados por Aristóteles pedem contextualização – caso contrário, o anacronismo impossibilita a compreensão tanto da sentença quanto de sua aplicação contextual. Podemos exemplificar nossas afirmações expondo noções de história da metafísica: ela surgiu como resposta ao problema do esgotamento da esfera do imanente; se as entidades físicas não podem possuir causas intrínsecas, então devem ser extrínsecas; exige-se, portanto, uma estrutura que fundamente as coisas submissas à esfera do devir.[9] Isto posto, a meta-física continuou seu caminho, mas, em certo ponto, a concepção de sua função se esvaiu e ela passou a ser vista como mero sistema de proposições apriorísticas focadas no tema de Deus, da Alma e o Princípio do Cosmo. Demonstrado que tal sistema não possui razão de ser devido à falta de referente real, a metafísica é demolida. No entanto, é fácil ver que o destruído foi antes uma forma viciosa que se esqueceu de sua origem do que uma metafísica real. É isto o que acontece quando ocorre, em termos voegelianos, uma dogmatomaquia: os filosofemas se tornam cascas alheias à sua substância real.
O peso do estudo da história da filosofia nos leva à distinção entre fontes primárias e fontes secundárias.
A primeira distinção nos leva ao segundo sentido do nosso tema, a organização do escopo da filosofia de acordo com seus representantes na medida em que esta conserva certa dependência estrutural de suas fontes primárias. O sentido disto consiste em que os problemas filosóficos são, essencialmente, problemas humanos passíveis de reformulação indefinida desde que seus fundamentos sejam sólidos; é por isto que, ao contrário do que ocorre com disciplinas cuja reformulação torna materiais antigos obsoletos, a filosofia sempre pode recorrer a seus pais. Platão, Aristóteles, Cícero, Plotino, Sto. Agostinho e outros conservam, enquanto suas teses espelham uma realidade indubitável, filosofemas perenemente consultáveis. Entretanto, daqui surge a idéia de síntese manualística, digo, resumo das principais teses em manuais de filosofia. Mas isto é nocivo por vários motivos. O primeiro motivo é a prioridade da fonte primária à proporção que a função da fonte secundária é guiar-se pela primeira; ter em mãos apenas a fonte secundária sem conhecimento prévio da primária é submeter-se a possíveis erros de compreensão[10] – e nem o melhor dos comentaristas espelha seu comentado. O segundo motivo é a impossibilidade de síntese do percurso proposto pelo filósofo; os diálogos platônicos, por exemplo, propõem um itinerário dialético por uma série de aspectos de um problema visando uma conclusão positiva ou negativa. Isto é tão impossível de se fazer fora da fonte primária como há uma longa série de tentativas que atribuíram ao filósofo as opiniões de seus personagens.
A predominância manualística, em suma, acarreta todos os problemas referentes à falta de traquejo com história da filosofia pois, a rigor, tenta reduzir a filosofia a uma coleção de conclusões. Isto é tão rigorosamente contrário à concepção da matéria que encontramos sua impugnação muito cedo: Heráclito[11] afirmava, com razão, que a mera coletânea de opiniões não produz conhecimento; Platão[12] erigiu o símbolo do doxographos para referir-se ao colecionador de opiniões escritas. Podemos ilustrar o dito mediante o aprendizado de músicas num instrumento qualquer, e isto por duas razões: a) não é possível aprender peça alguma mediante meras descrições e b) caso um leigo decore uma tablatura e a reproduza passo a passo, provendo a aparência de uma execução perfeita, não aprende; neste sentido, reproduzir argumentos filosóficos decorados equivale e dizer que o homem da sala chinesa sabe chinês. A filosofia não é composta, como crêem alguns, numa guerra argumentativa cujas armas são a produção de argumentos pro et contra – o que, na verdade, espelha a deturpação erigida pelos antigos sofistas, focados antes na imposição de pontos do que na descoberta da verdade. Feito a música, a forma correta de aprender é praticando, num itinerário definido, com o auxílio de quem já sabe tocar.[13]
Desembocamos, assim, no terceiro sentido, o da aquisição de um status quaestionis e a fatalidade de seu viés cronológico. Uma vez que os problemas filosóficos são desenvolvidos historicamente e o estudante precisa conhecer as fontes primárias, fica patente que a compreensão da evolução de um problema mediante fontes primárias ocorre num viés cronológico. A idéia de uma cidade celeste e uma cidade profana, na filosofia de Sto. Agostinho, inspira-se na estrutura da República de Platão, que, por sua vez, fornece uma problemática tratada tanto na Política de Aristóteles quanto na De República de Cícero. O tema da causalidade das coisas geradas, surgida no Timeu de Platão, passa à Física (e outras obras) de Aristóteles e, daí, é desenvolvida por outros. Para “montar” o problema da causalidade sem pensá-la como mera série de dados empíricos (sic) espelhados no exemplo de uma bola de bilhar exige que se conheça a origem da questão – procedimento feito num viés cronológico conforme o que chamaremos de transitividade dos problemas: as respostas dos filósofos referem-se a questões postas por outros.
O viés cronológico da problemática filosófica é o grande impugnador da idéia de um estudo de trás para frente, erro trifauce que necessita de a) um endossamento implícito da idéia de percurso evolutivo ininterrupto da filosofia b) a necessidade de uma fé cega nos ditames do autor referentes a outros autores e à construção do problema e c) a aceitação de alguma dose de anacronismo.
O primeiro erro consiste em crer que a filosofia evolua ininterruptamente e a forma mais recente de tratar um problema é, necessariamente, a melhor, como se filósofos fossem computadores aperfeiçoados em proporção geométrica. Tal concepção, que atribui à filosofia a necessidade de um progresso análogo à da tecnologia, é baseada em dois desvios: a) a metonímia do progresso do conhecimento e o iguale indevido do progresso do saber com o da técnica. O primeiro desvio confunde a quantia de conhecimento registrado com a de conhecimento adquirido; é possível sintetizar todo o saber humano em registros, mas este será compreendido apenas por alguns poucos. Nisto devemos apontar que é não apenas o que acontece mas também a ocorrência do agravante de que mesmo os que compreendem um tema avançado costumam distorcer outro. Daqui concluímos que o saber humano é uma figura de linguagem de seu registro. Todavia, cumpre apontar que o tal “progresso” é, também, historicamente falso.[14] Há uma boa série de tecnologias humanas perdidas, feito o fogo grego, a técnica de construção de pirâmides, etc, e períodos em que a filosofia mesma decai, como o ecúmeno após as conquistas alexandrinas ou a idade das trevas ocorrida entre o fim do império romano e o sec. IX – fica a curiosidade de que, no primeiro exemplo, o problema principal é a dificuldade de compreensão de registro; no segundo, seu desparecimento parcial.[15] O segundo desvio confunde a principal característica da filosofia, o conhecimento do quid (que é, essência) das coisas com seu uso. Podemos construir um computador inteiro atentando apenas a certas propriedades essenciais para sua confecção sem nos preocuparmos em especular, profundamente, o quid de uma porção de silício e como se encaixa no conceito de matéria. Inversamente, pouco importa a idéia de matéria para que construamos processadores, posto que o necessário se resume a certas propriedades fenomênicas.[16] Esta distinção explica, também, como houve progresso tecnológico alheio ao progresso filosófico e vice-versa.
O segundo erro, derivado do primeiro, referente a crer dogmaticamente que o que um autor mais recente diz do mais antigo é a maneira correta de tratar suas idéias; ora, se no percurso da filosofia o mais recente é o melhor, então o que o novo diz do antigo é correto – o estudante atento verá que há, aqui, um argumentum ad novitatem. Tal crendice já foi diagnosticada pelos filósofos:
“Não há nenhum erro maior do que o de acreditar que a última palavra dita é sempre a mais correta, que algo escrito mais recentemente constitui um aprimoramento do que foi escrito antes, que toda mudança é um progresso. As cabeças pensantes, os homens que avaliam corretamente as coisas são apenas exceções, assim como as pessoas que levam os assuntos a sério. A regra, em toda parte do mundo, é a corja de pessoas infames que estão sempre dispostas, com todo empenho, a piorar o que foi dito por alguém após o amadurecimento de uma reflexão, dando a essa piora um aspecto de melhora […] Assim, o curso da ciência muitas vezes é um retrocesso.”
Eliminado o primeiro erro, o segundo se esvai. Entretanto, este merece explicações especiais na medida em que aceita que o que o novo diz do antigo é correto. Isto pode ser facilmente afastado mediante o exame da leitura que os filósofos fazem de seus predecessores e a constatação de que ela é quase sempre torta. Daqui derivam dois aspectos dignos de atenção: a) os filósofos raramente são bons comentadores e b) interpretações antigas, quando corretas, são perenes. Então não faz sentido dizer que o novo é melhor, novamente, por conta do progresso filosófico diferir do tecnológico: um computador ficará obsoleto em dez anos, mas um filosofema durará, fresco, por milênios. No entanto, o aspecto mais notório de tal concepção é ser eminentemente dogmática; se o leigo conhece o autor A comentado por B, a crença de que o que B disse de A é correto baseado em sua novidade é falaciosa. A única forma de saber se o que B disse de A segue é conhecendo o feito por A.[17] O mesmo vale para as teses e, no limite, para o problema filosófico; se não sabemos montar o status quaestionis então crer, cegamente, que o autor mais recente o fez corretamente é questão de crença (em sentido pejorativo).
O terceiro erro, algo subordinado aos anteriores, refere-se à aceitação implícita do anacronismo na medida em que, não conhecendo as teses dos antigos senão mediante lentes modernas, fica vulnerável a qualquer coisa que digam.[18] Entretanto, a grande chaga deste erro e de seus predecessores, para além da crença de que o último recebido é o melhor, consiste na exclusão da idéia de um pensamento dialético/crítico, hábito formulado no processo de compreensão de um problema desde sua origem até o ponto em que está, i.e., a montagem do status quaestionis. Neste sentido, a substituição do pensamento filosófico pela aceitação do “dado”, e suas consequências enquadra-se, rigorosamente, nos já citados símbolo platônico do doxographos e na idéia de dogmatomaquia em Eric Voegelin.
Podemos exemplificar a distorção anacrônica das idéias antigas – e dos problemas filosóficos em geral – nas cristalizações que conhecemos como “ismos”, formas de posicionamento existencial onde compreendemos a realidade enquanto interpretada a partir de um de seus aspectos.[19] Os dois “ismos” mais comuns compõem a dicotomia entre empirismo e racionalismo: o primeiro focado na experiência enquanto percepção como fundamento de todo conhecimento e o segundo na atividade racional enquanto lógica como única forma de conhecer algo. No limite, o empirismo reduz todo o saber humano ao particular empírico; o racionalismo, ao universal a priori (independente da experiência). Tais termos, desde que utilizados com parcimônia para identificar as posições tomadas pelos filósofos na modernidade, não são problemáticos; o imbróglio se inicia quando os utilizamos para classificar filósofos antigos ou contemporâneos cujas posições não cabem neste escopo. Quando transpomos estas categorias para filósofos antigos, cometemos anacronismo por conta de distorcermos sua compreensão do mundo. Há dois exemplos clássicos de anacronismo: a atribuição de empirismo a Aristóteles e a de racionalismo a Platão. O primeiro erra ao identificar as demandas do empirismo moderno[20], como seu foco na percepção dos particulares, à empiria aristotélica, que para além de não limitar-se à percepção, incluir a memória; o segundo erra por isolar a parte apriorística da gnoseologia platônica a seu último grau, quando na verdade há quatro deles, partindo, inclusive, da experiência. É na mesma clave que ocorre a oposição entre idealismo e materialismo, resumidas na idéia de movimento da matéria (sic) para o intelecto no segundo e do intelecto para a realidade no primeiro. Aqui, novamente, Platão é vítima de detração em dois casos: a) acusação de idealismo por conta da teoria das idéias e b) de idealismo político por conta da idéia de pólis perfeita na República. E, outra vez, erros bobos, uma vez que o primeiro ignora os graus de conhecimento na filosofia platônica e o segundo a idéia de zetema.[21] Entretanto, quiçá, os pré-socráticos sejam os mais deturpados, uma vez que o materialismo transforma a idéia de physis em matéria no sentido moderno – e, nisto, a água se torna a do miojo.
Eliminados os três erros, o surgimento, compreensão e evolução dos problemas filosóficos aparece naturalmente durante o estudo dotado de viés cronológico. Um estudo “inverso”, ademais, forçaria o estudante a retornar para o início na medida em que, o entendimento correto dos filosofemas dos pensadores modernos exige a compreensão da pergunta que querem responder e esta, por sua vez, leva o estudante cada vez mais “para trás”. Neste sentido, estudar “inversamente” não é apenas errado, mas perda de tempo.
Podemos conferir um exemplo do problema verificando que o termo substância, em Descartes, difere daquele encontrado em Sto. Tomás; entretanto, seu desenvolvimento na filosofia do primeiro ocorre em contraposição à do segundo na medida em que o francês especula num contexto de contraposição da tradição que inclui grande influência do italiano. A idéia da filosofia cartesiana é substituir a escolástica de seu tempo por um sistema mais certeiro e enxuto; entretanto, para avaliarmos o sucesso do cartesianismo, não apenas histórica mas filosoficamente, é preciso saber que problema ele que responder[22] e também se consegue – pois há, sempre, duplo risco: a) a confecção de um pseudoproblema e b) a ineficiência da resposta que, por sua vez, pode multiplicar o primeiro.
Esclarecida a idéia de inseparabilidade da filosofia e de sua história, convém expor alguns benefícios de um estudo conforme o dito viés cronológico.
O primeiro benefício é a minimização de problemas interpretativos mediante a compreensão contextual dos filósofos. Uma vez que lemos a fonte primária, i.e., o texto filosófico acompanhado de material contextualizante, como um volume de história da filosofia, o estudo se torna mais suave e produtivo. Neste sentido, edições críticas dotadas de comentários são ótimas para compreensão de textos complicados e/ou fragmentários, à maneira dos filósofos pré-socráticos, evitando erros clássicos feito entender o fogo[23] citado por Heráclito que nem o usado para esquentar a água do miojo e não uma natureza ígnea que simboliza certa fluidez ligada diretamente à sua tese mais famosa, o devir – leitura errônea que levou muitos a ver no filósofo um materialismo que nunca existiu.[24] Este benefício praticamente elimina o risco de anacronismo, tão alertado por Fustel de Coulanges: “Disso nos advieram inúmeros erros. Enganamo-nos totalmente quando só apreciamos esses povos antigos por meio de opiniões e de fatos de nosso tempo”.[25] O segundo benefício é o exercício do pensamento dialético e formação do crítico na medida em que se acompanha o percurso do tratamento das idéias durante a história. Estudando desta forma, acompanhando o surgimento e desenvolvimento dos problemas num e noutro filósofo, somos levados à pergunta: qual tratamento/resposta é o correto? Este exercício, forçado por Platão nos diálogos aporéticos, é a chave da compreensão filosófica em geral na medida em que faz com que exercitemos nosso raciocínio e memória através do efeito Zeigarnik. É aqui, também, que o estudante adquire noção da história das idéias e de como o desenvolvimento de seus componentes não é linear: ocorre por solavancos, uma vez que saltos cognitivos adquiridos numa época são perdidos na geração seguinte[26] e, na mesma clave, erros eliminados numa geração reaparecem na outra como se fossem filosofemas definitivos; há, ainda, o caso da alteração semântica dos termos de forma X que significa uma coisa em filósofo A e outra em B; nada disso pode passar despercebido pelo estudante de filosofia.[27] Vejamos um exemplo:
A ειδοσ (eidos) platônica é comumente interpretada como se fosse um conceito; entretanto a proliferação de tal concepção é tão numerosa quanto falsa uma vez que a idéia platônica é uma unidade estrutural real extra-mentis que serve de forma para o mundo e para as coisas; embora possa ser conceituada, ela não é um conceito. Na mesma clave podemos expor, ainda, a interpretação que Schopenhauer faz da idéia Platônica e como esta difere do “original”. Em seu O Mundo como Vontade e como Representação I 154, o filósofo identifica a idéia com a Vontade (no sentido próprio de sua filosofia) de forma que os objetos concretos constituem graus de objetivação das idéias. É, funcionalmente, a mesma concepção de Platão; entretanto, visto se dois dizem a mesma coisa, não é a mesma coisa[28], o hyperouranion topon o campo que contém as idéias nada tem que ver com a noção de Vontade (compreendida como coisa em si, cega, impessoal, enfim, cuja causalidade e conceito diferem bruscamente das eidos); ademais, as ειδοσ são paradigmas não apenas de coisas, mas também de categorias morais, feito a justiça. Assim, salta aos olhos não apenas que são coisas diferentes, mas que ler Platão sob viés Schopenhaueriano ajuda a entender antes do segundo do que o primeiro. O mesmo ocorrerá com quase todos os filósofos e, daí, a preocupação com um estudo algo cronológico.
O terceiro benefício é a percepção da perenidade interpretativa dos problemas filosóficos. Verificando como temas filosóficos podem ser reinterpretados durante milênios sem que seus fundamentos sejam drasticamente alterados, é perceptível que um filosofema, na medida em que contém um grau de veracidade, pode ser continuamente compreendido em todas as épocas. Este é, por exemplo, o caso do problema do mal em sua fórmula agostiniana e do argumento ontológico que, nascido sob forma de oração, recebeu versões em lógica modal.[29]
2.1. Se está na Internet, então é verdade!
Para além dos erros consagrados, advindos do problema dos ismos e dos desvios citados, há aquele referente a frases consagradas. São aforismos e trechos atribuídos a filósofos de maneira duvidosa e espalhados de tal maneira que podem ser encontrados até em epígrafes de teses de doutorado. Um exemplo comum é a atribuição do seguinte ditado a Platão: “o maior castigo para aqueles que não se interessam por política é que serão governados pelos que se interessam”. O pensador ateniense nunca disse isto; trata-se de uma interpretação de um trecho da República em que se fala da participação do filósofo no governo da pólis – algo restrito e indesejável caso represente um perigo para a alma da pessoa; neste caso, o conselho é invertido e recomenda-se o afastamento.[30] Outro caso popular é a atribuição, a Dante, do seguinte ditame: “os lugares mais quentes do Inferno são reservados para aqueles que escolheram neutralidade em tempos de crise”. Eis, novamente, uma concessão falsa, inexistente no corpus do poeta; entretanto, é comumente usada como artifício retórico em contextos políticos como forma de forçar a plateia a escolher um lado. Há, ainda, casos mais sérios, como a atribuição das afirmações do comentado ao comentador; foi assim que acusaram Sto. Tomás de dizer que a mulher é um “homem inferiorizado”, quando, na verdade, a tese ocorre no contexto de uma disputa: primeiro o filósofo expõe algumas opiniões e depois as discute e dá um veredito.
Todos estes erros são facilmente evitáveis desde que se conheça as fontes. O estudante que tenha lido algo de um filósofo percebe quando se diz algo esquisito dele: como admitir que se chame Aristóteles de individualista quando se leu A Política? Os problemas saltam aos olhos: o individualismo é um posicionamento muito recente, ainda mais do que a idéia de indivíduo, noção sequer existente no tempo de Aristóteles. O mesmo vale para a atribuição de comunismo a Platão, desvio cômico, uma vez que a idéia de comunismo depende de uma noção de propriedade surgida mais de um milênio e meio após a escrita da República.
Posta a importância da história da filosofia e das fontes primárias, partamos para o próximo assunto.
- Começando do Começo
[…] por conseguinte, ninguém deve aventurar-se na metafísica sem antes ter previamente adquirido um conhecimento de todos os ramos das ciências da natureza, mesmo que seja um conhecimento apenas geral, porém fundamentado, claro e coerente. Pois o problema tem de preceder a solução.
Arthur Schopenhauer – O Mundo como Vontade e como Representação Tomo II p.217
Hugo de S. Vitor nos diz, em seu Didascalicon, que o estudante que deseja conhecer algo deve ter em conta que toda atividade necessita de duas coisas: a operação (trabalho) e a razão do operar; trabalhar sem um sentido é tão inútil quanto um planejamento sem execução – “Quem trabalha sem critério evidentemente trabalha, mas não progride.”[31] Logo em seguida, postula três problemas que atrapalham os estudos: a negligência, a imprudência e a má sorte. O primeiro ocorre quando não nos esforçamos; o segundo, quando não nos organizamos; e o terceiro, por alguma fatalidade da vida, como uma doença ou a falta de instrução adequada. Neste sentido, tomando o conselho, o estudo da filosofia deve obedecer, fatalmente, a uma ordem.
Todas as áreas do conhecimento possuem uma hierarquia para sua instrução: para escrever, aprendemos o alfabeto; para contar, as operações fundamentais. No entanto, tais noções parecem se esvair quando tratamos de filosofia, pois quase todo leigo crê, de alguma forma, que o correto é iniciar por a) qualquer autor ou b) seu tema favorito. Na mesma clave, todo estudante de química sabe que não se inicia a disciplina pela síntese proteica; entretanto, o de filosofia costuma ver com bons olhos iniciar em Hegel ou Metafísica. Isto ocorre por uma distorção que faz com que a filosofia não seja levada a sério, recebendo a alcunha de discussão subjetiva sobre os temas da vida, espécie de conversa de bar enfeitada, em vez de disciplina rigorosa. O desvio ocorre por pelo menos três vulgarizações: a dos a) filosofastros, a dos b) filodoxos, e a c) pseudo-sociológica.
A vulgarização do filosofastro refere-se àquele que, lendo desorganizadamente o que julga como filosofia, divaga sobre temas mundanos; nisto, posto que trabalha negligente e imprudentemente, carente de método, sem se preocupar com a avaliação da origem de suas próprias crenças ou com a absorção da herança histórica de sua disciplina, não é capaz de produzir mais do que entulho. Enquanto doxographos este sujeito é capaz de citar muitas idéias e sua “erudição”, impressionando o incauto, pode fazer com que se passe por filósofo – entretanto, uma vez que seu horizonte de consciência equivale às pernas da mentira, seus ditames, impugnados perante exame, caem por terra e mancham a imagem da filosofia, que ganha a pecha de mera divagação. O filosofastro pode ser identificado por comumente identificar-se como “livre-pensador” e por certa ânsia de divulgar um “pensamento original” – que, na verdade, jamais ultrapassa o limite do pertencente ao vulgo de seu tempo.
A vulgarização do filodoxo refere-se àquela do erudito que, mesmo treinado por um filósofo, não teve a centelha da verdade acendida em sua alma[32] e, em vez de se tornar um amante da verdade, tornou-se do espetáculo.[33] O filodoxo, perenemente caracterizado como incapaz de atingir a esfera da verdade e relegado à opinião[34], é quase sempre um intelectual público cujas sentenças são formas retrabalhadas do filosofastro – algo natural, uma vez que a diferença entre ambos é praticamente de grau. Entretanto, o problema do filodoxo é, feito os antigos philosophe, passar-se por filósofo; ainda que possa, efetivamente, possuir concepções originais e elaboradas – pois, ao contrário do que normalmente se crê, não é necessariamente tolo –, serão sempre algo disformes, fazendo com que este seja um grande divulgador de erros como o relativismo e, em última análise, o niilismo – daqui a filosofia ter tomado fama de entristecedora, causa de crises existenciais e reveladora da nulidade do mundo; sintetizando algo grosseiramente as opiniões de Sciacca em seu Filosofia e Antifilosofia, o filodoxo é o representante da história dos erros filosóficos.
A vulgarização pseudo-sociológica é a distorção que nubla a distinção entre a sociologia e a filosofia, fazendo com que a segunda seja reduzia a um tratamento reflexivo de temas sociais e, em última análise, à crítica da sociedade – uma verdadeira inversão, como se a função desta fosse antes transformação do que a compreensão. É nesta mesma clave, tratada como “instrumento social”, que a filosofia se torna joguete nas mãos da intelectualidade orgânica que a vê como espécie de membro do partido. Este erro, algo intencional e tão comum em salas de aula, é a origem do desinteresse dos jovens tanto pela filosofia quanto pela sociologia, problema de compreensão parelho àquele dos que, tomando para si tais concepções, se tornam algo localizado entre o filosofastro e a massa de manobra. Quase todos os erros citados no capítulo anterior deste texto advêm desta forma de vulgarização.
Distorções expostas, importa entender que a filosofia é uma disciplina rigorosa que, embora trate de temas humanos[35], nem de longe refere-se apenas ao subjetivo enquanto “uma verdade por cabeça” – característica pertencente antes ao filodoxo do que ao filósofo. Isto é facilmente verificado na história da filosofia, e podemos exemplificá-lo com Platão, Sto. Tomás de Aquino e Kant. O primeiro, mediante a criação do arquétipo do filodoxo em oposição ao filósofo, o amante da opinião e o da sabedoria, expõe explicitamente que a idéia de “subjetivismo” está fora do âmbito da filosofia e refere-se, rigorosamente, ao seu inverso – ademais, se o válido fosse a mera opinião, de que valeria relegar seu ensinamento superior a discípulos instruídos em vez de espalhar por aí para que o povo opinasse?[36] O segundo, no capítulo I da Suma Contra os Gentios, argumenta que o ofício do sábio é impor a ordem enquanto referente à sabedoria divina e, assim, publicar a verdade[37] – este também redigiu Questões Disputadas sobre a Verdade, cujo primeiro capítulo postula o lugar devido à verdade e à opinião e seus sentidos. E o terceiro, cuja Crítica da Razão Pura é, mediante engenharia reversa, espécie de fisiologia da razão, destina sua obra à eliminação de abusos [da razão] mediante a delimitação do que é possível saber e o rigor de nossas certezas. O tratamento da filosofia como divagação tristonha e subjetivista é obra de detratores, não de filósofos.
3.1. O Conselho de Sócrates
[…] mas cada um deles julgava-se muito sábio nas outras matérias de grande importância – tolice que eclipsava o saber que realmente possuíam…
Platão – Apologia de Sócrates 22e
Mas observem-se que tais autores trataram das matérias incluídas na universalidade de seu conhecimento, porque eram filósofos. Se se especializaram em algum assunto, fizeram-no sem perder o fundamento na universalidade, que é a Filosofia.
Mário Ferreira dos Santos – Invasão Vertical dos Bárbaros p.102
Uma vez adentrados os estudos filosóficos, é natural que o leigo pergunte acerca de uma especialização; afinal, como ocorre com outras disciplinas, os filósofos parecem possuir especialidades. No entanto, isto é impreciso. A especialização genuína, na filosofia, é sempre setorial e atrelada antes à preferência do autor que ao estudo integral de um campo específico; aquela especificação cujo erudito domina um tema e balbucia noutro é, eminentemente, antifilosófica. O exame dos grandes filósofos nos mostra que sabiam o suficiente para mover-se em segurança no tratamento das múltiplas disciplinas de sua área, sendo por isto que há obras de filosofia contendo vários temas interligados num todo estruturado, característica que abarca mesmo aquelas cuja espinha dorsal é específica. A República, de Platão, utiliza a justiça como tema central mas versa sobre ética, política, cosmologia, gnoseologia e metafísica. O mesmo acontece com as Enéadas de Plotino, A Cidade de Deus de Sto. Agostinho, Suma Contra os Gentios de Sto. Tomás, etc. e, neste os cumes da disciplina são sempre polímatas ou – no mínimo, universalistas.[38]
A filosofia opera feito um organismo cujos componentes não sobrevivem isoladamente; a metafísica, referindo-se ao ser, trata dos princípios subjacentes a tudo o que há; isto significa que tratar dos fundamentos da antropologia nos leva, fatalmente, a uma antropologia metafísica que servirá, por sua vez, de estofo para temas éticos – afinal, o referente da ética é o homem. A gnoseologia (conhecimento geral) e a epistemologia (conhecimento específico)[39] não preterem de suporte metafísico da mesma forma que o estudo da metafísica não ignora pressupostos gnosiológicos. Não custa lembrar que exame temático algum ocorre sem noções de lógica, ao menos a informal. Neste sentido, as disciplinas filosóficas manifestam-se numa multiplicidade coroada pela unidade metafísica.
É oportuno reter que nada disto implica que a metafísica seja uma espécie de coringa cujo exame permite conhecer todas as outras disciplinas, algo próximo do sofisma encontrado no Eutidemo: “conhecem todas as coisas se realmente conhecerem uma coisa”.[40] O mesmo vale, por dois problemas, para qualquer disciplina filosófica: a unidade orgânica da filosofia impede o isolamento de seus componentes e o estudo das disciplinas isoladas distorce seus fundamentos.[41] Quanto ao primeiro, há uma interdependência temática cuja inteligibilidade das partes depende do conhecimento ao menos parcial do todo; com isto não dizemos que para estudar filosofia seja necessário dominar todas as suas disciplinas, esforço tão inútil quanto impossível, mas destacamos a necessidade de conhecer o suficiente para prosseguir num tema favorito. Quanto ao segundo, cria-se a aberração do especialista, alvo de crítica entre os filósofos pelo menos desde a de Sócrates àqueles que, sabendo algo, julgaram saber o resto.[42] Entretanto, n´alguma forma de barbarismo vertical,[43] este modo de estudar se propagou, procedimento contra intuitivo, uma vez que não ocorre em outras disciplinas em geral. Não nos especializamos, no período fundamental e médio, numa matéria de cada vez para depois adentrar outras. Não há faculdade em que se estude uma especialidade antes das matérias gerais. O fenômeno parece, assim, um vício específico de ciências humanas na medida em que não são levadas a sério o suficiente pra que se compreenda sua ordem disciplinar. Isto posto, como proceder? Focar em apenas uma matéria distorce o todo e o aprendizado simultâneo de todas, numa síncrise da unidade, é impossível. Resta uma via média: o básico de cada disciplina inserida no organismo da filosofia e conforme o viés cronológico anteriormente citado. Mas tal opção pressupõe que os escritos dos antigos contenham, em germe, todas as disciplinas filosóficas ensinadas desde a reta compreensão de seus problemas. Eis o que efetivamente acontece, ainda que a fórmula dos temas sofra alterações com o tempo.
O princípio dos estudos filosóficos é muito semelhante ao modelo da aquisição do conhecimento humano em geral, a ordem do conhecer, donde partimos do que “há à mão” e, deste fundamento real, avançamos em direção ao que não está dado concretamente[44] mas serve de fundamento para aquilo que vimos primeiro: “é pelo que é fácil que convém chegar ao mais difícil”.[45] Este trabalho de “ligação” entre o dado (as coisas) e o tipo de especulação próprio da filosofia costuma ser feito, em seus rudimentos, por obras destinadas à introdução da filosofia; importa que sejam sempre da melhor qualidade, pois são a pedra fundamental que põe os princípios do estudo – e um erro diminuto no início se torna imenso no final. No entanto, a imagem do raciocínio filosófico operante no postulado e resolução de um problema só pode ser dada de duas formas: a imperfeita, posta nos livros de filosofia enquanto fonte primária; e a perfeita, possível apenas na presença de um filósofo vivo. Não é impossível que um estudante capacitado simule, numa espécie de engenharia reversa,[46] o processo que o autor de um livro utilizou para partir de A para B, “reconstruindo imaginativamente a atividade intelectual que as gerou”;[47] entretanto, Platão já ensinava que os livros não podem se defender, e daí ocorrem deturpações; por outro lado, é muito complicado encontrar um filósofo vivo disponível – quando muito, bons professores de filosofia resolvem o problema. Entretanto, resta ao autodidata o trabalho de ler as fontes com cuidado e compará-las com os comentários de escritores especializados, os comentadores; eis, em suma, o trabalho de simular imaginariamente uma sala de aula onde o material é, por exemplo, o Crátilo, e o professor é o Thomas A. Szlezák – “presente” em livros como o Ler Platão. Portanto, o conteúdo do início dos estudos filosóficos é composto de uma introdução adequada, a fonte primária dos primeiros filósofos e alguns comentários especializados.
Estudar desta forma produz todos os benefícios e evita todos os problemas vistos no capítulo 2 deste artigo e é, também, a maneira correta de se adquirir cultura filosófica, corpo de instruções composto pela bibliografia filosófica, técnica de análise dos textos e pelo conhecimento da história da filosofia.[48] Neste processo se conhece, de pronto, a origem dos problemas filosóficos, a forma como foram postos e sua história, tudo de forma “diluída” de forma que o leigo esforçado pode compreender com a ajuda de um ou dois comentários, obtendo o corpus de conhecimento básico que, mais tarde, servirá de estofo para que o estudante se especialize em sua disciplina favorita.
[…] o que nos cabe dizer é que o filósofo, que realmente o é, está devidamente capacitado para tratar universalmente de diversas matérias, não o está o especialista, que não tiver a vinculação necessária. […] Não é necessário que vá ler a obra de todos os grandes autores que citamos, pois corresponderiam a muitos milhares de volumes…
Mário Ferreira dos Santos – Invasão Vertical dos Bárbaros p.103-4
- A Disciplina das Causas Supremas
“[…] a Filosofia é a ciência de todas as coisas pelas causas primeiras (causa eficiente e causa final), e pelos princípios primeiros […] a Filosofia é a ciência do ser, enquanto, em todos os seus níveis, o próprio ser que é seu objeto formal […] “Ser”, com efeito, pode significar quer a essência ou a natureza das coisas, quer a própria existência. Ora, a filosofia está ordenada, primeira e essencialmente, à existência, porque ela visa a descobrir, em cada domínio do ser, as condições mais gerais ou condições absolutas da existência.”
Régis Jolivet – Tratado de Filosofia Tomo I: Lógica e Cosmologia p.14.
Esclarecida a maneira de estudar filosofia e seus percalços, urge explicarmos o que é a filosofia e sua utilidade; seguiremos, para isto, o princípio de que a filosofia é o desejado por seus fundadores e não o feito por seus sucessores. Nisto, a definição clássica de filosofia[49] consiste no amor à sabedoria conforme seguinte contexto: uma vez que por sapientia significamos o conhecimento integral de todas as coisas e suas propriedades, apenas Deus é sábio; ora, o homem sabe de algo mesmo sem saber de tudo, então segue que sua sabedoria é parcial, incompleta, e a totalidade [do conhecimento] pode ser amada e buscada, mas não possuída. Então o filósofo é aquele que ama e busca a sabedoria numa busca incessante, mas não vã – uma vez que sabe alguma coisa. No entanto, tal definição, sobretudo na forma de amor sapientia, é imprecisa e pode nos induzir a confundi-la [a filosofia] com outras disciplinas. Ademais, chamá-la de “amor à sabedoria” é antes um elogio que uma definição. Tomá-la como busca das causas últimas pode nublar sua distinção com a teologia e a ciência moderna e, assim, ficamos perdidos. Precisamos, então, de uma explicação mais robusta.
Tomando como guia as concepções dos filósofos pré-socráticos, a filosofia surge como tentativa de compreensão noética do cosmo mediante a explicação de sua estrutura enquanto derivada de um princípio,[50] e daí a necessidade de explicar três coisas: a) compreensão noética, cosmo e princípio.
Compreensão noética consiste no exame do real conforme o nous [νουσ], termo grego comumente traduzido por razão.[51] No entanto, tomá-los como sinônimos nos induz ao erro de compreender o nous como se fosse a razão racionalista, o que demanda sua precisão para evitarmos anacronismos. Latu sensu, nous refere-se à capacidade humana de reflexão;[52] strictu, a mais elevada que há,[53] definiens do homem enquanto zoon noetikon;[54] seu aspecto estrito aparece em Aristóteles como faculdade e capacidade de conhecer e utilizar princípios;[55] herdado por Sto. Tomás de Aquino sob o nome de intellectus, diferencia-se de ratio:[56]
O intelecto, com efeito, parece designar o conhecimento simples e absoluto. […] Já a razão designa certo discurso, no qual de uma coisa a alma humana atinge ou chega a outra que deve ser conhecida. Donde, diz Isaac, no livro Sobre as Definições, que o raciocínio é um trajeto da causa ao causado. […] embora o conhecimento da alma humana seja, propriamente, por via da razão, é, contudo, uma participação daquele conhecimento simples, que se acha nas substâncias superiores, pelo que se diz que têm a potência intelectiva. […] Semelhantemente, também não há no homem uma potência especial, pela qual simples e absolutamente, e sem discurso, obtenha o conhecimento da verdade. Mas tal apreensão da verdade está nele por meio de um hábito natural, que se chama intelecto dos princípios. Não há, pois, no homem uma potência separada da razão, que se chame intelecto, mas a própria razão se diz intelecto, participando da simplicidade intelectual. […] o ato da razão, que é discorrer, e o do intelecto, que é apreender simplesmente a verdade, relacionam-se como a geração ao ser e o movimento ao repouso.
Sto. Tomás de Aquino – Questões Disputadas sobre a Verdade q.XV a.1. Resp.
Entendido desta forma, o intellectus (nous) é uma faculdade ordenadora mediante princípios cognitivos inerentes[57], hábitus principiorum, que permitem o conhecimento das coisas.[58] Este hábito dos princípios – cujo conteúdo não é inato ou apriorístico – surge quando o intelecto forma, em contato com o real, a noção de ente como primeiro princípio teórico; noutros termos, a estrutura do conhecimento humano é adequada à realidade cognoscível[59] e o intelecto opera enquanto instrumento e critério de ordem.[60]O uso do intellectus e da ratio para buscar o fundamento (causas últimas, arché) de tudo o que há e fugir da situação de ignorância compõe a operação filosófica prototípica.[61] A Intelecção do real sub clave philosophica é a chamada compreensão noética. Uma vez que o primeiro princípio teorético é o ente, tudo o que investigarmos será sub ratio entis significando aquilo que é; há, aqui, uma dupla via: o ente adentra o intelecto enquanto princípio passivo[62] e depois é utilizado como princípio gnosiológico cuja regra trata a realidade de onde veio como estruturalmente inteligível. Neste sentido, a filosofia pré-socrática procurava pelo fundamento do cosmo – compreendido como potencialmente infinito, estruturalmente inteligível, por vezes chamada de logos – na medida em que este princípio contivesse a explicação do todo que origina enquanto causa de todas as coisas (arché).[63]
Este protótipo de filosofia na qualidade de intelecção do real mediante causas últimas logo precisou de atualizações devido à ascensão do fenômeno sofístico. Os sofistas, espécie de professores itinerantes, foram eruditos que comercializavam “cursos” de retórica e várias outras artes; no entanto, também possuíam teses originais cujo conteúdo poderia ter aparência filosófica, mas conteúdo antifilosófico. Neste contexto, encontramos, em Platão, a tentativa de distinguir o filósofo de seu inverso; examinemos como ela acontece.
Em República 478c, o tema é a opinião; não se pode opinar sobre o não-ser, apenas sobre o que é [ser]; analogado o não-ser à ignorância e o ser ao conhecimento, a opinião versará sobre o que “não pode ser ignorância nem ciência”, i.e., um medium. Então, Sócrates especula [479a] a existência de um homem que não crê na existência das coisas em si enquanto idéias eternas [eidos], apenas [de coisas] em sua concretude; o exemplo fornecido é a descrença na beleza [enquanto paradigma], substituída pela crença nas coisas belas. Uma vez que todas as coisas de determinada categoria parecem mais ou menos com seu modelo quando relacionadas com outras (aparecendo mais ou menos belas, mais ou menos pesadas) segue que não possuem concepção fixa senão em virtude de um paradigma; nisto, não pertencem plenamente ao ser [entendido como a ideia], mas também não são nulas [não-ser]. As coisas jazem, então, no entremeio [τῆς μεταξὺ οὐσίας] entre o ser e o não-ser (479c);[64] ora, este é precisamente o objeto da opinião. Então, a opinião versa sobre o múltiplo, as coisas em geral, enquanto a ciência, focada no que sempre é, versa sobre a unidade da idéia. Portanto, aquele que crê e trata apenas da multiplicidade, sem alcançar a unidade, terá apenas opiniões (479e) e não conhecimento seguro (identificado com o ser eternamente idêntico), implicando ainda que este opina sobre o que não conhece – uma vez que o conhecimento identifica-se estritamente com a unidade ideal. Este sujeito, afeito à multiplicidade da opinião e descrente da unidade do conhecimento, é o filodoxo (philodoxos, φιλοδόξους) (478a).
Desde Platão, a figura do filodoxo[65] é importante para a identificação do filósofo na medida em que opera como sua contraparte: enquanto o segundo procura compreender o todo enquanto estrutura inteligível redutível, no limite, a princípios (s), o segundo não ultrapassa o âmbito da concretude; em linguagem platônica, ele está preso no entremeio e, em termos modernos, à imanência, jamais superando a multiplicidade rumo à unidade – daqui que o filodoxo nunca é, strictu sensu, bom metafísico.[66] O filósofo fica associado, então, à idéia de conhecimento seguro, mas não completo, i.e., sabedoria; tal noção é fixada pelos escolásticos no adágio totum, et non totaliter (o todo, mas não a totalidade). Ademais, a determinação do filodoxo serve para diferenciá-lo do sofista, i.e., o filodoxo que vende a aparência de sabedoria.[67]
É notório que a contribuição platônica ocorre no contexto da recém-nascida metafísica enquanto exploração das idéias no plano suprassensível; uma vez descoberta a face eterna do ser, aquela que garante o conhecimento humano na medida de sua conformidade com os paradigmas, a noção de filosofia enquanto busca das causas últimas faz com que o filósofo digno de nome seja sempre, n´algum grau, metafísico. Essa cisão, que ajuda a definir quem é filósofo e quem não é, foi elaborada na contribuição de Aristóteles quando este procurava delimitar o escopo do pináculo das disciplinas filosóficas enquanto continente da estrutura que definirá todas as outras: “[…] é preciso adquirir a ciência das primeiras causas, pois nós dizemos conhecer cada uma das coisas, quando pensamos conhecer a causa primeira.”[68] A partir daqui, o tema das causas últimas, implícito nos pré-socráticos, é explicitado na etiologia aristotélica: o filósofo digno de nome deve percorrer a investigação até esgotar todas as causas possíveis e, em especial, a primeira entre elas – o que implica numa exposição do filodoxo como aquele que, preso na esfera do múltiplo, não se preocupa com as causas daquilo que vê.[69]
Fica mais fácil, com estes elementos, em mãos, esboçar uma definição mais precisa de filosofia, o que faremos com o auxílio de alguns autores que sintetizam tudo o que explicamos acima. No primeiro volume de seu Elementos de Filosofia, D. Thiago Sinibaldi aponta que a filosofia é a “sciencia que trata das causas supremas dos entes, descobertas pela luz natural da razão”.[70] Aqui temos três elementos: ciência em sentido geral, digo, conhecimento certo e organizado/concatenado[71]; a etiologia das causas últimas[72] em referência aos entes; e a luz natural da razão, i.e., o Intellectus – ademais, não se esquece da dita noção de sabedoria vetada ao homem.[73] Podemos, daqui, esboçar uma definição no modelo de classificação dos objetos da filosofia enquanto material, formal-motivo e formal-terminativo.[74] O objeto material da filosofia precisa ser o ente enquanto noção comuníssima, i.e, transcendental metafísico e daqui sua capacidade de versar sobre todas as coisas; Régis Jolivet o expressa assim: “Materialmente, a Filosofia versa sobre todo o saber ou todo o real.”[75] O objeto formal-terminativo da filosofia deve ser o intellectus, e isto por sua dependência da noção de compreensão noética e todo o complexo que acarreta. E o objeto formal-motivo, aquele que dá sua peculiaridade, é sua atenção às causas: “o ponto-de-vista das causas primeiras e dos princípios supremos de todo o real.”[76]
Esta definição, suficientemente lata, permeia outras várias e engloba, implicitamente, a idéia de uma atividade cognitiva independente de seu registro: portanto, o filósofo o é mesmo que suas idéias não tenham sido escritas, vide o caso de Sócrates.[77] O tema é tão forte em Platão[78] que este faz questão de postular a superioridade do autor sobre o texto, i.e., a função do registro escrito é servir de ferramenta mnemônica para o filósofo; aquele que não puder defender seu logos para além do posto em sua obra, incapaz de operar uma articulação noética fornecendo exemplos e respondendo perguntas, não pode ser chamado de philo-sophos. Daí:
“[…] se é capaz de defender o que escreveu numa discussão quando contestado, e mostrar o poder de exibir mediante o seu próprio discurso que as palavras escritas têm pouco valor, não deve fazer jus a um título com bases nesses escritos, mas sim da séria busca que está por trás deles. […] o nome filósofo ou algo semelhante se lhe ajustaria melhor e lhe seria mais conveniente.
Platão – Fedro 278c-d
Enrico Berti, em seu Convite à Filosofia[79], verá a disciplina como atividade de pesquisa que busca pelo todo [ens in communis] numa problemática transcendente às ciências particulares; voltamos, aqui, ao tema das causas; mas seu enfoque, desde o início do livro, é mostrar que a filosofia comporta dimensões existenciais.
Com dimensões existenciais dizemos que a filosofia liga-se diretamente à cosmovisão da pessoa e, nisto, é inseparável daquele que filosofa. Um matemático pode “deixar de sê-lo” fora do trabalho ou de seus estudos de rotina; seu ofício não é influenciado por sua índole e este poderá resolver problemas intrincados independente do “resto de sua vida”. Entretanto, a filosofia é diametralmente oposta: uma vez que os filosofemas referem-se a questões cuja conclusão modifica a forma de uma pessoa viver, há implicação recíproca entre a construção dos problemas e a aceitação das conclusões. Em termos voegelianos, a filosofia é expressão da alma; almas disformes confeccionam teoremas correspondentes. Neste sentido, a filosofia é semelhante ao sacerdócio: um padre não é digno caso descrente, e aquele que age ortodoxamente enquanto expressa, fora de seu “ofício”, (sic) opiniões heréticas, não está distante do sofista na medida em que “vende uma aparência”. Afinal, a boca fala do que o coração está cheio e ambos louvam a verdade apenas da boca para fora. Ou o sacerdote crê no Cristo ou o sinal visível de sua batina não passa de fantasia; ou o filósofo crê no que expressa ou seus livros são palhas secas. É também este o sentido de se afirmar a necessidade, no filósofo, de uma ascese[80]semelhante à do místico, retendo apenas a distinção entre a experiência noética, própria do filósofo, e a experiência pneumática, própria do religioso; a primeira ocorre na articulação questionante do nous, a segunda na recepção do divino no espírito (pneuma).
É por isto que parte da mensagem do diálogo Górgias, de Platão, é de que a pessoa de má índole e/ou com educação deficiente não está pronta para a filosofia. Nestes termos, a disciplina não admite a separação entre a obra e o autor: ou ambos são um ou não são nada; uma filosofia cujos temas não afetem o autor, i.e., problemas meramente acadêmicos, não passam de jogos.
Neste ponto, entramos no problema da pergunta filosófica. A filosofia opera resolvendo problemas reais cujas respostas servem de fundamento para novas perguntas. Segue que uma pergunta torta entortará sua resposta da mesma forma que uma falácia de pergunta complexa vicia a resposta do interlocutor. Daí a piada kantiana de que uma pergunta disparatada é tão constrangedora quanto ordenhar um bode enquanto outro recolhe com a peneira.[81] Segue que a pergunta filosófica genuína comporta pelo menos dois elementos: a) a sinceridade do sujeito perplexo com um tema que lhe afeta existencialmente e b) o bom senso daquele que constata, criticamente, que há um problema. Sem o primeiro elemento, ocorrem perguntas feito o questionamento da própria existência; ora, uma pessoa inexistente não pergunta, então das duas uma: a) a pergunta foi insincera ou b) houve erro de raciocínio, quiçá um pensamento metonímico.[82] Sem o segundo elemento, podem ocorrer questões e afirmações virulentas, feito a negação da possibilidade do conhecimento em geral frente à dificuldade em ter certeza de algo. Ora, aquele que afirma sabe de algo, então a negação do conhecimento não segue. Daqui, ou a) o problema não foi corretamente avaliado ou b) mais um erro de raciocínio. Fica, portanto, claro que a filosofia opera com questionamentos inteligentes, mas não totalizantes: há uma miríade de coisas que podem ser investigadas, mas não questionadas como se não ocorressem. A constatação da existência do problema filosófico leva ao que Voegelin chama de Questão,[83] a busca pela solução até as causas últimas.
Quanto à utilidade da filosofia, fica implícita a idéia de resposta a questões existenciais. Entretanto, podemos expandir um pouco a resposta em prol da clareza. Tomando algumas disciplinas como exemplo, eticamente, a filosofia serve de guia de nossas ações em direção ao bem; gnosiologicamente, responde de que maneira podemos saber; logicamente, trata da validez de nossas inferências; antropologicamente, nos diz o que significa ser humano; e a metafísica, inútil do ponto de vista prático, mas não do especulativo, responde à pergunta final: o que é tudo isto? Neste sentido, a filosofia responde a perguntas implícitas no plano de fundo da vida humana e todos os seus elementos são passíveis de questionamento filosófico. Qualquer ação pode servir de estopim para nos perguntarmos se esta foi boa ou má e, assim, iniciar um exame ético que operará conforme pressupostos filosóficos mais ou menos inconscientes, mais ou menos segundo dito de Dario Antiseri:
[…] queiramos ou não, todos vivemos imersos em teorias filosóficas: se hoje um juiz emitiu uma sentença, ele a emitiu com base em um pressuposto puramente metafísico, isto é, com o pressuposto de que o homem é capaz de entender e querer; talvez ao lado do tribunal haja um psicanalista que cura uma pessoa vítima da angústia pressupondo a ideia de que o homem é o seu inconsciente.[84]
Numa resposta sintética, podemos dizer que a filosofia é, do ângulo da utilidade, multifuncional. Sua disciplina mais geral, a metafísica, refere-se a todas as coisas enquanto subsumidas na noção de ser; as disciplinas particulares, por sua vez, aos vários aspectos da vida humana e, mediante os mecanismos do intelecto e da razão, visa certa unidade do conhecimento, não no sentido da ciência moderna, mas num geral e pressuposto para haver alguma ciência.
4.1. Uma definição estranha? A unidade do Conhecimento na Unidade da Consciência e vice-versa.
“[…] luta pela “unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa”, que é a definição mesma da filosofia, mostrando que ela não se faz por esforço construtivista, nem analítico, nem lógico-dedutivo, mas por aglutinação progressiva, dificultosa e jamais completa, de intuições parciais e inconexas, como na vida mesma.”
Olavo de Carvalho – A Filosofia e seu Inverso p.150
Definições de filosofia pautadas na idéia de atos cognitivos referentes atrelados à impossibilidade de obtenção da totalidade do conhecimento (sabedoria) e busca de sua aquisição parcial pautada na organização de princípios e causas últimas é, de certa forma, comum. No entanto, por vezes surgem fórmulas alternativas que, à primeira vista, diferem da concepção clássica. Este é o caso da definição olaviana como “elaboração intelectual da experiência com vistas a alcançar, na máxima medida possível num dado momento histórico, a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa,” encontrada no livro A Filosofia e seu Inverso.[85] Examinemos em que medida tal perspectiva difere da anteriormente apresentada. Os elementos da definição são: a) elaboração intelectual, b) busca, c) limitação de possibilidade, d) dimensão histórica, e) unidade do conhecimento, f) unidade da consciência e g) reciprocidade; seu todo corresponde a uma atividade cognitiva que busca, conforme certas limitações pautadas pela história, uma unidade gnosiológica recíproca à unidade da consciência.
Sabemos, via curso Introdução ao Método Filosófico, que Olavo considera a filosofia como atividade cognitiva, então é natural ser tratada como elaboração intelectual, i.e., tratamento teórico de certo conteúdo, no caso, aquele memorizado após apreensão empírica. Segue que o material submetido à teorese é aquele experimentado no sentido aristotélico. Ora, a experiência humana ocorre num contexto e sob condições históricas. Daqui podemos entender que há duas limitações historicamente impostas: a) os meios disponíveis e b) a finitude da vida humana. Segue que c) posta a história como corrente e condição da impossibilidade da totalidade simultânea e instantânea das possibilidades e d) a vida humana não comporta a atualidade de possibilidades potencialmente infinitas; conclui-se que o conhecimento humano é limitado. Então, a filosofia é uma atividade cognitiva que persegue seu objetivo num escopo historicamente condicionado. Ora, o objetivo da filosofia é a unidade do conhecimento que, devido às limitações históricas, é impossível, i.e., uma vida finita não pode atualizar uma potencialidade infinita; segue que o conhecimento filosófico é uma unidade aberta ou, em termos olavianos, um projeto.[86] Mas o ato de conhecer não implica sua posse total; então o homem conhece alguma coisa. Sendo o conhecimento abstrato metonímico, o real é aquele de um homem; então, realiza-se apenas na consciência daquele que conhece. Podemos entender, para nossa síntese, que a consciência é dada como unidade d´um ordenamento semi-lógico da experiência humana. Então, a filosofia, para Olavo, é uma atividade cognitiva que busca, numa vida finita, um conhecimento potencialmente infinito realizável apenas na consciência do filósofo.
Fica claro, assim, que o enfoque da definição olaviana não repousa sobre a idéia de delimitação científica da filosofia, como a de D. Sinibaldi. A intenção de Olavo é definir e atividade filosófica do ponto de vista da consciência, pouco importando seu “status científico”. Entretanto, a unidade aberta do conhecimento contém os elementos do que foi chamado de ciência, enquanto acolhe um conhecimento organizado mediante princípios pressupostos para a idéia mesma de uma unidade [do conhecimento]. O uso dos princípios do intellectus fica pressuposto na noção de unidade da consciência e atividade cognitiva – sem isto, não há teorese alguma. A concepção de causas últimas fica pressuposta na idéia de “experiência humana concreta com o objetivo de encontrar seu fundamento”.[87] E, por fim, a impossibilidade de obtenção da completude do conhecimento permanece onipresente. Podemos concluir, após o exame do ponto de vista clássico e olaviano, que ambos diferem muito pouco; o que ocorre são perspectivas algo opostas, uma do ângulo da formalização disciplinar e outra da atividade do filósofo conforme sua consciência.
4.2. Filosofia e Ciência
“O conhecimento científico provoca e exige uma indagação acerca dele próprio, um metaconhecimento que o examina, descreve, critica ou fundamenta – que é a filosofia da ciência…”
Inês Lacerda Araújo – Introdução à Filosofia da Ciência p.23
Foi dito que a filosofia é ciência num sentido diferente do atribuído à moderna; devemos, portanto, esclarecer de que forma ambas se distinguem e cooperam. A ciência é reconhecida, desde os primórdios, como forma de conhecimento cujo grau de rigidez é sempre mais certeiro; no escopo da filosofia, ciência estrita era o grau superior. Este sentido se mantém, hoje, quando a distinguimos do senso comum, tomando o segundo como, digamos, não analisado. Saber que as coisas caem, pertence ao senso comum; calcular a aceleração de objeto X em queda livre é científico – e daqui fica claro que ciência e senso comum se distinguem sem se separar, inclusive por conta de concepções bem estabelecidas na primeira serem integradas no segundo. Nesta clave, é possível afirmar que a ciência busca o conhecimento objetivo ou pelo menos com maior grau de assertividade; e a promoção de um conhecimento sempre (ou na maioria das vezes) certo, exige um método.
A idéia de ciência em sentido moderno é pautada pela idéia de método; neste sentido, ela é o resultado da pesquisa executada conforme uma metodologia que garanta sua objetividade. No entanto, a objetividade dos resultados depende da delimitação do escopo da pesquisa e de sua reprodutibilidade: teoria X proverá Y conforme condição Z; ficam claros, aqui, dois aspectos da ciência a) controle (escopo de aplicação teorética) e b) previsibilidade (procedimento A resulta sempre em B). Ciências cujos resultados sejam mais precisos do que outras serão mais rígidas; e desde os tempos antigos, a única entre elas cujo corpus manteve a excelência foi a matemática – daí sua alcunha de ciência modelo. Daqui vem a idéia de aumento da precisão de outras disciplinas mediante matematização, transposição de aspectos da matemática em sua estrutura interna visando a eliminação de imprecisões advindas da empiria – as beneficiárias deste procedimento foram apelidadas hard sciences.
Da idéia de precisão distinguimos (informalmente) ciências formais e fatuais/empíricas/naturais,[88] as primeiras tratando de estruturas abstratas e as outras da natureza em geral – e, neste sentido, lidando com a physis. As formais podem prescindir, n´algum sentido, da experiência, na medida que uma demonstração matemática pretere teste empírico; por outro lado, as fatuais operam na experiência e necessitam de experimentos que as legitimem ou restrinjam.[89] Segue que o critério do conhecimento obtido formalmente difere do obtido empiricamente: n´uma, é a evidência; n´outra, as normas metodológicas.[90] Nas formais o conhecimento aspirado é dito verdade por correspondência; nas empíricas, uma modalidade enfraquecida chamada quase-verdade;[91] a primeira refere-se à correspondência entre uma sentença e o que retrata – definição clássica como adaequatio, portanto –; a segunda uma aproximação entre modelo e retratado. Segue que a segunda concepção aspira à primeira.[92]
Ambas as alas da ciência recebem a alcunha de científicas por conservarem uma racionalidade pautada por um método. Newton da Costa a triparte tal racionalidade científica em lógica (dedução), indutiva (indução) e crítica (conceitualização), erigindo delas um critério para distinção do que é ou não ciência: “Uma perquirição é científica se busca a quase-verdade racionalmente, isto é, dedutiva, indutiva e criticamente.”[93] Este critério é dividido em a) verificação qua corroboração e falsificação; b) pragmática enquanto simplicidade, explicação, valor heurístico, coerência, axiomatização, etc.; e c) metodologia, feito observação, experimentação e medida. Disto, há três adendos: o crivo contém algum grau de vagueza; depende do estado da lógica e da crítica; regra a classificação de ciência conforme seu tratamento.
A partir destes elementos, a distinção entre filosofia e ciência fica mais clara, nos eximindo de apelar, feito tantos outros, à depreciação da primeira ou da segunda. Ambas são, em primeiro lugar, formas de conhecimento; no entanto, o tratamento da noção de objetividade difere. Aquela presente nas ciências empíricas é ausente na filosofia em geral, pois a idéia de verificação mediante teste não possui aplicação, v.g., na ética: não descobrimos, via observação, se a ação X é boa ou má, virtuosa ou viciosa, embora partamos dela para especularmos sua bondade ou maldade. A idéia de previsibilidade e reprodutibilidade não serve para a metafísica por esta não referir-se à previsão do que o ser “faz ou não faz” num ambiente controlado; sua função é explicar as propriedades comuníssimas (transcendentais) aplicáveis a todos os entes.
Nisto, o “movimento” da ciência refere-se às condições da previsibilidade da ocorrência; o da filosofia, às condições de possibilidade e classificação do que há. Entretanto, ambas compartilham o aparato lógico. Segue que a esfera filosófica tende ao transcendente e a científica restringe-se ao imanente; no limite, o local da ciência é a physis e o da filosofia, o hyperouranion – analogia coerente com a distinção entre o plano da physica e da meta-physica. Todavia, uma vez que o cosmo é único, ambas estão conectadas pela metafísica: “[…] o universo deve possuir características de natureza metafísica, que alicerçam a indagação científica. Sem postulados de índole metafísica, amplos e gerais, muitas vezes aceitos implicitamente, não há ciência.”[94] O modo como ambas tratam a prática também difere; enquanto aplicada ou sob forma tecnológica, a ciência trata da construção do mundo; já a filosofia, da maneira como o encaramos: a primeira constrói um computador e a segunda, pauta seu uso. A coerência disciplinar também difere; um filósofo não pode sustentar concepções contraditórias de maneira que sua metafísica, ética e antropologia não se encaixem; mas um cientista pode sustentar uma química que não compactua com a física que por sua vez possui dois campos contraditórios.[95] Daqui verificamos que a idéia de unidade para ambas é diferente: a “contradição” entre disciplinas científicas é sustentada por seu modelo explicativo ser amplamente verificado numa série de previsões; isto não acontece com a filosofia, que se importa antes com a unidade da essência do que com a previsibilidade dos fenômenos – todavia se espera, idealmente, que a ciência unifique suas disciplinas.
Fica, portanto, claro que filosofia e ciência (em sentido moderno) são maneiras diferentes e irredutíveis de compreender o mundo. Há apenas duas crendices dignas de atenção: a) se diz que não há refutação em filosofia, mas isto é tão falso quanto dizer que não há em ciência; b) é dito que não há método em filosofia, mas é simples ver que sempre houve e são tão variados quanto os das ciências particulares. A prova contrária à primeira é sua concepção apoiada na subjetividade filosófica, erro exposto no decorrer deste texto – ademais, Dario Antiseri atribui uma “falseabilidade” para a filosofia pautada na idéia de criticabilidade[96] –; da segunda, que a metodologia filosófica não apenas aparece desde Aristóteles como origina a científica. Ademais, o uso da lógica, nexus metodológico entre as esferas, é apreciada em ambas.
4.3. Filosofia e Teologia
E nem isto é para admirar: porque o homem, por meio das coisas sensíveis, é como que pela mão conduzido às coisas espirituais; pelas coisas exteriores é estimulado ao pensamento e à prática das coisas interiores, e se faltarem estes incitamentos, afrouxarão pouco a pouco e até se extinguirão as disposições da alma.
Adolphe Tanquerey – Teologia Dogmática segundo a mente de Santo Tomás de Aquino p.78
Devido à atenção remetida às causas últimas e pela tendência a tomar a causa suprema por Deus, alguns confundem a filosofia com a teologia. Distinguiremos as disciplinas conforme a síntese apresentada por Adolphe Tanquerey em sua Teologia Dogmática Segundo a Mente de Santo Tomás de Aquino.
O termo teologia (θεολογία), criação platônica, refere-se ao logos [discurso concatenado] a respeito dos deuses, [97] mantendo esta significação entre os pagãos; os cristãos a tomaram como ciência, em sentido antigo, que trata do Deus revelado e de suas relações conosco – daí, por exemplo, disciplinas feito teologia moral, dogmática, etc., –; daqui conclui-se que o sentido se mantém entre suas variantes. Esta teologia é distinta entre a) natural, referente ao conhecimento do divino disponível à razão humana, e b) sobrenatural, referente àquele acessível apenas mediante revelação. [98] A teologia natural ocorre no escopo da metafísica na medida de sua capacidade de descrever propriedades divinas, operando como preambula fidei e servindo de nexo entre filosofia e teologia – por isto foi chamada metafísica enquanto teologia. A teologia sobrenatural, embora utilize aparato terminológico metafísico em suas deduções, os volta, analogamente, para o conteúdo da revelação. Tanquerey define a teologia em geral como “ciência sobrenatural que discorre a respeito de Deus e das criaturas enquanto a Ele se referem”[99]; a) ciência por seu modo de investigação, b) sobrenatural pelo conteúdo advindo da revelação e c) de Deus e das criaturas pela duplicidade do objeto: Deus mesmo e as criaturas postas à sua luz.
Uma vez que a idéia de revelação não entra no escopo da filosofia, eis uma primeira diferença: a filosofia não trata do sobrenatural – mas também não o exclui; temos, portanto, três extratos de uma mesma realidade: natural, esfera da ciência, transcendente, esfera da filosofia (em especial da metafísica) e sobrenatural, esfera da teologia. A filosofia pode tratar, no escopo da metafísica, da causa última, enquanto lhe confere algumas propriedades; entretanto, neste ponto, o tratamento enquanto divino a transforma em teologia natural, que pode, mediante alguns argumentos, deixar espaço livre para a idéia de uma revelação, conteúdo que, existindo, vira tema da teologia sobrenatural. Podemos concluir, deste resumo, que filosofia e teologia podem examinar a mesma causa suprema, mas o ângulo e as ferramentas disponíveis são eminentemente diferentes; daí o dito de Sto. Tomás: “é necessário afirmar uma causa eficiente primeira, a que todos chamam Deus.”[100]
- Epílogo
“[…] e disse: “Compreendes o que lês?” Ele disse: “Como o poderei (eu compreender) se não houver alguém que mo explique?” E rogou a Filipe que subisse e se sentasse junto dele.”
At. 8: 31-32
É complicado encerrar um ensaio cujo escopo expandido constituiria um livreto. Entretanto, seu objetivo é antes endireitar as veredas do que ensinar filosofia; isto fazem os filósofos. Kant dizia que se aprende antes a filosofar do que filosofia, e isto é meio certo; se compreendermos o primeiro como prática filosófica (articulação noética) e o segundo como cultura, então a distinção equivale à do filósofo e a do estudante ou interessado. É notório que os segundos nem sempre convertem-se no primeiro, mas este não surge sem o aparato fornecido para o outro. Neste sentido, é coerente ter esperança de que este texto inspire o estudante a trilhar o caminho da filosofia por si mesmo; caso não vire filósofo, decerto adquirirá alguma cultura.
- Apêndice I: Recomendações de leitura iniciais para leigos em filosofia.
Como procurei expressar no decorrer deste ensaio e em sua continuação, O Grão de Mostarda, a ordem do estudo e a qualidade dos materiais é sumamente importante. Numa linha parelha à de Hugo de S. Vitor, não existe estudo desordenado; mas nem a melhor organização do mundo melhorará materiais inadequados. É necessário, portanto, haver algumas recomendações de obras iniciais para o interessado em filosofia que tenha, de alguma forma, sido inspirado pelo presente texto. Mas, antes, alguns avisos.
Os estudos filosóficos possuem, desde o princípio, exigências. Platão deixa isto claro não apenas quando expõe, em seus diálogos, o ofício dos interlocutores de Sócrates, mas também, conforme a lenda, ao pregar na porta de sua Academia “que não entre quem não for geômetra”. Eis uma das várias formas utilizadas pelos filósofos para alertar que a filosofia exige instruções pregressas, corpo que materializou-se, com o tempo, no estudo do Trivium e do Quadrivium. Caso pudéssemos considerar a instrução formal brasileira (considerando o ciclo de estudos do fundamental ao ensino médio) funcional, os avisos seriam desnecessários, uma vez que qualquer pessoa saberia algo de gramática, lógica, retórica, temas matemáticos (inclui geometria), música e temas físicos (inclui astronomia). A média de leitura brasileira é de (em 2021) 4,96 livro por habitante e 66% dos alunos do ensino médio sequer leu mais de dez páginas; estamos em 65º lugar no PISA (2022).
Não peço que o interessado em filosofia tire um “ano sabático” para revisar seus estudos fundamentais; mas também não descarto a ocorrência de casos de necessidade. Por vezes se faz necessária uma revisão dos próprios livros escolares assim que Platão começar a falar de geometria no Timeu. Todavia, para aquele que reconhece sua instrução deficiente, recomendo alguns livros visando algum ensinamento prévio; caso o estudante tenha uma gramática diferente, poderá utilizá-la sem rodeios. A única rigidez inegociável refere-se, aqui, às recomendações filosóficas.
***
Em primeiro lugar, tendo em conta a preservação da língua, recomendo o Manual da Boa Escrita para uma revisão leve e a Suma Gramatical para um estudo, em caso de necessidade, detido. Caso o estudante possua outra, feito a Gramática Metódica da Língua Portuguesa, Nova Gramática, Novíssima Gramática ou a Moderna Gramática, não há problema; gosto da Suma por conta de sua “terminologia filosófica”, afeita a nosso objetivo. É bom, ainda, ter um Dicionário de Questões Vernáculas para resolução de dúvidas e eliminação de estrangeirismos. Àqueles que desejarem um dicionário físico, gosto do Caldas Aulete.
Devo dizer, em segundo lugar, que não gosto da idéia de estudar lógica antes de filosofia devido a seu efeito prático quando unida ao temperamento do estudante que, descobrindo que existe uma série de inferências úteis à resolução de problemas, a têm como chave-mestra para todas as questões filosóficas. Creio que o ideal seria tomar o estudo estrito da lógica logo após a leitura de Aristóteles – isto pressupondo que neste ponto o estudante já entenda como as questões filosóficas funcionam e, portanto, está livre da ilusão de ampliar o escopo da ferramenta para além de sua função real. Avisos dados, recomenda-se a Introdução à Lógica de Irving Copi; caso o estudante deseje outra, voltada à “lógica matemática”, há a Introdução à Lógica de Cézar Mortari. Não há problema em optar pela Introdução à Lógica de Harry J. Gensler.
Cumpre atentar, em terceiro lugar, que o estudo da retórica, antes de outras instruções comumente encontradas na filosofia, é extremamente virulento. Vemos, em Platão (e em histórias da filosofia em geral), que o principal “produto” vendido pelos sofistas eram aulas de retórica no sentido de uma arte voltada ao convencimento. Uma vez aprendidos tais traquejos, os jovens retóricos discursavam contra ou a favor de tais, ou quais teses, normalmente em tribunais. No entanto, como verificamos nas mesmas fontes, este tipo de técnica é muito perigosa nas mãos de pelo menos duas pessoas: a) a mal-educada e a b) viciosa. Tendo isto em conta, creio que o estudo da retórica pode ser adiado para quando se chegar no Retórica de Aristóteles, uma vez que, até lá, o estudante terá recebido, nas mãos deste e de Platão, bons conselhos de ética filosófica, necessários ao bom uso da técnica retórica – Afinal, diz o mesmo Aristóteles, ela serve para a boa exposição da verdade. Um bom livro de retórica moderna é o Tratado da Argumentação, de Chaim Perelman.
Fico devendo, infelizmente, referências introdutórias modernas aos temas do Quadrivium. É possível estudar, provisoriamente, o compilado proposto no Quadrivium de John Martineau.
***
- O Primeiro livro de filosofia recomendado é o Convite à Filosofia, de Enrico Berti; uma resenha pode ser consultada aqui.
- O Segundo livro recomendado é o No Princípio Era a Maravilha, do mesmo autor. Ele serve de primeiro contato com a origem dos problemas filosóficos e história da filosofia. Também possui uma resenha, disponível aqui.
- O Terceiro livro recomendado é o primeiro volume da História da Filosofia de Giovanni Reale & Dario Antiseri. Pode ser substituído, sem prejuízo, pela História da Filosofia de Frederick Copleston – deve ficar claro, entretanto, que são as únicas coleções de história da filosofia que confio; problemas com outras, como a de Russell, podem ser vistas aqui. Sua função, aqui, é contextualizar os filósofos que o leigo estudará.
- O Quarto livro recomendado é o A Cidade Antiga, de Fustel de Coulanges. Sua função é, para além de vacinar anacronismos, situar os filósofos antigos em seu mundo.
Encerrados estes quatro livros, o estudante pode optar pela leitura dos fragmentos contextualizados dos filósofos pré-socráticos, conforme as instruções deste guia, estudar história voltada especificamente voltada para estudantes neste outro guia ou seguir para o estudo de Platão e, logo em seguida, Aristóteles, cada um conforme as instruções de seu próprio guia de leitura.
- Guia de Leitura de Leitura para os Filósofos Pré-Socráticos
- Leituras de História para Estudantes de Filosofia
- Guia de Leitura de Platão
- Guia de Leitura de Aristóteles
“É com a sabedoria que a casa será edificada, e consolidar-se-á com prudência. Pela ciência encher-se-ão as despensas de tudo o que há de precioso e belo. O homem sábio é forte, e o douto, robusto e valente, porque é pela prudência que se empreende a guerra, e a salvação está onde houver muitos (e sábios) conselhos. Para o insensato é demasiado sublime a sabedoria; ele não abrirá a boca à porta.”
Pr. 24:3-6
- Apêndice II: Apologia Manualística
[…] obedecemos ao propósito de fazer uma exposição clara, profunda e possivelmente completa das principais questões philosophicas, de modo que o espírito dos leitores, ao final de cada tratado, ficasse esclarecido e plenamente satisfeito.
D. Thiago Sinibaldi – Elementos de Filosofia
Reiteramos, no decorrer deste texto, que manuais de filosofia são inadequados para o leigo interessado no estudo da filosofia. No entanto, seria injusto deixar-lhes a pecha de inutilidade. Os manuais são, comumente, sínteses sistemáticas de um corpus ou de disciplinas filosóficas, contendo um percurso argumentativo simplificado que responde, de maneira mais ou menos direta, a uma série de perguntas. Neste sentido, cumprem duas funções: a) aparato mnemônico, nos moldes da crítica platônica, e b) roteiro de aula. Conforme a primeira função, são ótimos para relembrar pontos de tal ou qual tema filosófico que o estudante tenha esquecido ou deseje ver numa apresentação mais simples; conforme a segunda, são fundamentais para professores que precisem de material organizado para aulas – manuais modernos, como o Compêndio de Filosofia, trazem até questões que podem servir para elaboração em sala de aula. Ademais, na medida em que são essencialmente sínteses, os manuais servem sobremaneira para o interessado em prestar provas para concurso e/ou compilar bibliografia para consulta.
- Apêndice III: Questões da Vida
[…] quotquot nulle sunt in desiderio veritatis, Ite ad Thomam…
Ainda conforme a explicitação do uso dos manuais, estes também podem servir para a pessoa que visa antes fins práticos do que o posto de comentador/especialista/filósofo. Neste caso, o programa de estudo difere e resume-se ao seguinte: aquisição de cultura filosófica mediante história da filosofia e adesão a algum manual clássico, feito o Elementos de Filosofia de S. Thiago Sinibaldi. Recomendo sobretudo um autor afiliado ao tomismo por considerá-lo um bom pensamento básico àquele que deseja noções e respostas filosóficas para as principais questões da vida no âmbito metafísico, teológico e principalmente ético – feito a imortalidade da alma, existência de Deus, compreensão e resolução de problemas morais, etc. Caso a pessoa mude de idéia e resolva estudar mais a fundo, terá cultura filosófica suficiente e necessitará apenas do programa de viés cronológico conforme fontes primárias e secundárias. Caso não, considero o tomismo o corpus básico para qualquer um que deseje noções filosóficas, uma vez que a grande síntese realizada por Sto. Tomás caducou muito pouco (apenas pontos dependentes da física antiga e algumas teses teológicas secundárias) e suas teses são, contemporaneamente, defendidas por muitos.
Manuais de filosofia úteis:
- C. Lahr – Manual de Filosofia
- Régis Jolivet – Curso de Filosofia
- Nicholas Bunnin & E.P. Tsui-James – Compêndio de Filosofia
- Pedro Galvão (Org.) – Filosofia: uma Introdução por Disciplinas
- Dom Thiago Sinibaldi – Elementos de Filosofia Tomo I
- Dom Thiago Sinibaldi – Elementos de Filosofia Tomo II
- Dom Thiago Sinibaldi – Elementos de Filosofia Tomo III
- Dom Thiago Sinibaldi – Elementos de Filosofia Tomo IV
- Régis Jolivet – Tratado de Filosofia Tomo I
- Régis Jolivet – Tratado de Filosofia Tomo II
- Régis Jolivet – Tratado de Filosofia Tomo III
- Régis Jolivet – Tratado de Filosofia Tomo IV
Bibliografia
- Adolphe Tanquerey – Teologia Dogmática segundo a mente de Santo Tomás de Aquino Tomo I
- Alvin Plantinga – Deus, a Liberdade e o Mal
- Anderson M.R. Alves – Ser e Dever-ser: Tomás de Aquino e o Debate Filosófico Contemporâneo
- Antonin Sertillanges – A Vida Intelectual
- Aristóteles – Ética a Nicômaco
- Aristóteles – Metafísica
- Aristóteles – Organon
- Aristóteles – Política
- Arthur Schopenhauer – A Arte de Escrever
- Arthur Schopenhauer – A Arte de Insultar
- Arthur Schopenhauer – O Mundo como Vontade e como Representação Tomo II
- Carlos Nougué – Do Papa Herético e Outros Opúsculos
- Carlos Vargas – Para uma Filosofia Husserliana da Ciência
- Dario Antiseri – Pensar em Filosofia
- Décio Krause – Newton da Costa e a Filosofia da Quase-verdade. Principia 13(2); 105-28 (2009).
- Enrico Berti – As Razões de Aristóteles
- Enrico Berti – Convite à Filosofia
- Eric Voegelin – Anamnese: Da Teoria da História e da Política
- Eric Voegelin – Ensaios Publicados 1966-1985
- Eric Voegelin – Ordem e História Vol.II: O Mundo da Pólis
- Eric Voegelin – Ordem e História Vol.III: Platão e Aristóteles
- Fustel de Coulanges – A Cidade Antiga
- Giovanni Reale – História da Filosofia Grega e Romana Vol.II: Sofistas, Sócrates e Socráticos Menores
- Giovanni Reale – História da Filosofia Grega e Romana Vol.III: Platão
- Giovanni Reale & Dario Antiseri – Filosofia: Antiguidade e Idade Média
- S. Kirk, J.E. Raven & M. Schofield – Os Filósofos Pré-Socráticos
- Hermann Diels & Walther Kranz – Die Fragmente der Vorsokratiker Band I.
- Hugo de S. Vitor – Didascalicon
- Immanuel Kant – Crítica da Razão Pura
- Inês Lacerda Araújo – Introdução à Filosofia da Ciência
- Juan Manuel Ortí y Lara – Introdução à Filosofia e especialmente à Metafísica
- Marco Túlio Cícero – Da República
- Mário Ariel González Porta – A Filosofia a Partir de Seus Problemas
- Mário Ferreira dos Santos – Invasão Vertical dos Bárbaros
- Mário Ferreira dos Santos – Filosofia Concreta
- Mário Ferreira dos Santos – Tratado de Simbólica
- Michael P. Federici – A Restauração da Ordem
- Newton da Costa – O Conhecimento Cientifico
- Nicola Abbagnano – Dicionário de Filosofia
- Olavo de Carvalho – A Filosofia e seu Inverso
- Olavo de Carvalho – Curso Online de Filosofia Aula
- Olavo de Carvalho – Introdução ao Método Filosófico Aula I
- Platão – A República
- Platão – Apologia de Sócrates
- Platão – Carta VII
- Platão – Eutidemo
- Platão – Fedro
- Régis Jolivet – Tratado de Filosofia Tomo I: Lógica e Cosmologia
- Roger Scruton – Introdução à Filosofia Moderna: de Descartes e Wittgenstein.
- Ronald Robson – Conhecimento por Presença
- Sidney Silveira – Cosmogonia da Desordem
- Tomás de Aquino – Comentário aos Segundos Analíticos
- Tomás de Aquino – O Ente e a Essência
- Tomás de Aquino – Questões Disputadas sobre a Verdade
- Tomás de Aquino – Suma Contra os Gentios
- Tomás de Aquino – Suma Teológica Vol.II [Ed. Loyola]
- Thiago Sinibaldi – Elementos de Filosofia Vol.I
- Thomas A. Szlezák – Ler Platão
- Thomas A. Szlezák – Platão e Aristóteles na Doutrina do Nous de Plotino
- Thomas A. Szlezák – Platão e a Escritura da Filosofia
Caso o leitor tenha aprendido algo com nossos textos, favor considerar uma doação, via PIX [real] ou entrar em nosso canal no Telegram, no código QR correspondente. Sua contribuição nos motiva a continuar fornecendo filosofia de forma simples, mas não simplificada.
Notas:
[1] Thomas A. Szlezák – Platão e a Escritura da Filosofia p.26-27.
[2] “Congressos de filósofos: São uma contradictio in adjecto, já que raramente se encontram no mundo dois filósofos ao mesmo tempo e quase nunca em grande número.” A Arte de Insultar p.27
[3] Olavo de Carvalho – A Filosofia e seu Inverso p.165
[4] Um bom exemplo é Kant, quando diz em Crítica da Razão Pura A840/B868: “A legislação da razão humana (filosofia) tem dois objetos, a natureza e a liberdade e abrange assim, tanto a lei natural como também a lei moral, a princípio em dois sistemas particulares, finalmente num único sistema filosófico. A filosofia da natureza dirige-se a tudo o que é; a dos costumes somente ao que deve ser.”
[5] Tal tentativa foi a do – malfadado – positivismo lógico.
[6] Como comenta Mário Porta em seu A Filosofia a Partir de Seus Problemas p.27: “Para quem não se dedicou a um estudo sistemático da filosofia e tem um contato primário com essa disciplina, a impressão de um certo caos é inevitável. A filosofia é vista como um espaço onde reina o capricho, podendo cada um dizer o que quiser. Seu caráter não empírico é entendido como pura arbitrariedade, quando não como confusão crônica. Porém, essa impressão é falsa: a filosofia não é um caos de pontos de vista incomensuráveis, nem consiste simplesmente em possuir certezas”.
[7] O nada filosófico não é o “vácuo quântico”, um estado de energia mínima cuja essência não é nula. O nada absoluto da filosofia é a total ausência de qualquer entidade ou possibilidade; nulidade absoluta, impotente, negação diametral da idéia de ser. Daí o postulado de que ex nihilo nihil fit, i.e., nada pode vir do nada. A explicação pode ser encontrada na primeira tese de qualquer versão do Filosofia Concreta, de Mário Ferreira dos Santos.
[8] Assim é, por exemplo, uma moral que tenha os dez mandamentos enquanto cânone; mesmo uma regra absoluta feito “não matar” sofre mitigação quando a pessoa precisa se defender e, nisto, causa a morte de outrem.
[9] Um dos grandes problemas da metafísica consiste no esquecimento de sua criação enquanto superação após o esgotamento da esfera imanente. Isto fez com que ela parecesse uma espécie de misticismo.
[10] Conclui-se que fontes secundárias feito histórias da filosofia nos fornecem o mapa do terreno, não sua exploração; uma coisa é Aristóteles, outra o foi dito sobre ele. Caso reduzamos tudo ao segundo modo agiremos como aquele que se atém à interpretação de uma música que não ouviu e não tem, portanto, idéia do que se está falando – atitude facilmente identificável à redução da filosofia a uma série de fofocas.
[11] “πολυμαθιή νόον εχειν ου διδασκει”. Fragmento 40 de Heráclito em Diels-Kranz – Die Fragmente der Vorsokratiker Band I.
[12] O doxographos, o colecionador de opiniões, insere-se no contexto da crítica da escrita contida no Fedro de Platão. Em linhas gerais, Platão não crê que a filosofia possa ser aprendida meramente pela leitura, e aquele que apenas lê e decora várias teses nunca será um filósofo, mas um repetidor das teses que leu. Para mais, consultar o livro de Thomas A. Szlezák, Platão e a Escritura da Filosofia.
[13] Outra razão pela filosofia não poder ser ensinada em manuais é o fato de ela não ser puramente formal; a filosofia não se expressa em fórmulas infinitamente repetíveis, mas necessita, também, de uma quantidade esmagadora de conteúdo que é absolutamente impossível de ser posta em manuais. Daí a utopia de criar-se um método dos métodos que dispense o estudante de entender a história das ideias filosóficas e seu desenvolvimento. Para apoiarmos nossa opinião numa autoridade reconhecida, escutemos o que diz Aristóteles: “De fato, homens se tornando médicos com base no estudo de manuais não é algo que presenciamos. Entretanto, há quem se empenhe em descrever não apenas os tratamentos, mas também métodos de cura e técnicas terapêuticas para tipos específicos de pacientes. Nisso aplicam uma distinção de acordo com os vários hábitos ou disposições; isso pode se revelar útil para indivíduos experientes, mas não tem serventia para aqueles que não têm conhecimento. É bem possível, portanto, que coletâneas de leis e de descrições de formas de governo possam ser úteis aos estudantes capazes de manuseá-las armados de senso crítico e podendo julgar o que é bom ou o contrário, e que tipo de instituições se ajustam a que tipo de situações características. Quanto aos outros, embora examinem meticulosamente tais compilações, uma vez que não possuem uma sólida faculdade de discernimento, não serão capazes de julgá-las acertadamente, a menos que isso ocorra casual ou espontaneamente”. Aristóteles – Ética a Nicômaco 1181b1
[14] Para filósofos como Federico Sciacca, o iluminismo, antes de ser uma época de progresso na filosofia, talvez tenha sido sua pior fase. Eric Voegelin opina que foi a época do descarrilamento da filosofia em antigos erros há muito eliminados.
[15] No caso do ecúmeno, as escolas filosóficas dominantes, estoicismo e epicurismo, distorceram o ensinamento dos grandes filósofos Platão e Aristóteles. No caso da idade das trevas, a série de guerras e problemas vários fizeram com que os escritos dos intelectuais antigos ficassem perdidos ou restritos aos mosteiros que, por sua vez, faziam um trabalho de recolhimento de suas obras para posterior cópia e distribuição.
[16] “Ressalte-se que o aumento progressivo da precisão na medida das aparências jamais nos dirá o que quer que seja sobre nenhum objeto real. Mas, ao mesmo tempo, aumentará nossa capacidade de ação sobre essas aparências. Por exemplo, o fato de você ser capaz de serrar uma árvore e fazer com ela uma cadeira não implica em que você saiba o que é uma árvore e de onde ela se originou. Do mesmo modo, todo o gigantesco progresso da técnica que se observa a partir daí aumenta a nossa capacidade de ação sobre o sistema das aparências, mas nos afasta formidavelmente da pergunta “quid?” – “o que é?”. Isso quer dizer que a própria eficácia do processo técnico às vezes serve como um véu que encobre a realidade das coisas, porque mais facilmente você é capaz de transformá-las em outras coisas do que de compreender o processo interno delas.” Olavo de Carvalho – Curso Online de Filosofia Aula 85.
[17] Não se diz, com isto, que é necessário conhecer todos os filósofos. O objetivo é, naturalmente, conhecer os principais.
[18] Este é o risco a que ficam expostos os leitores do A Sociedade Aberta e seus Inimigos, de Karl Popper, e História da Filosofia Ocidental, de Bertrand Russel, obras notoriamente enviesadas.
[19] Para Voegelin, a fragmentação da filosofia em “ismos” se trata de um sintoma de degeneração do pensamento. Com a fragmentação do pensamento e de sua visão de conjunto do real apreendido, suas partes são isoladas e tratadas como unidades em si mesmas e passam a ser irreconhecíveis como fragmentos de um mesmo todos. Assim surgem os “ismos”, pedaços “cegos em seu próprio significado”. [Ensaios Publicados 1966-1985 p.423]. Entendamos os “ismos” segundo a analogia proposta: imagine que um matemático quisesse, por assim dizer, que toda a matemática fosse reduzida a formas da fórmula de Bhaskara. É mais ou menos assim que ocorre em filosofia
[20] Talvez tal afirmação soe esquisita, então expliquemos o erro. O empirismo não consiste apenas em uma linha de pensamento que dê prioridade à experiência, mas em entender e tratar a experiência de determinada forma. Algumas de suas características são: tratar a experiência no sentido de uma percepção sensível – o que Aristóteles não faz, dado que trata a experiência como, grosso modo, síntese de percepção e memória –, negação do suprassensível – o que Aristóteles também não faz –, prioridade dos particulares da experiência de forma que isso restrinja os conceitos a imagens deles – que Aristóteles não faz – e descrença na imutabilidade da verdade – coisa que Aristóteles também nega. A aceitação da experiência como parte do instrumental filosófico não é exclusividade dos empiristas e ocorre também, por exemplo, no realismo. Para mais, é interessante ver o verbete Empirismo no Dicionário de Filosofia de Nicola Abbagnano.
[21] Platão é chamado idealista de forma duplamente errônea: num primeiro sentido, atribui-se um idealismo político ao entender-se a República como projeto político e não um Zetema, o que consiste em erro; num segundo sentido, ao atribuir-se uma prioridade da ideia em sentido moderno, o que é outro erro, dado que a ideia platônica não é a mesma dos idealistas a partir de Descartes. Zetema, nas palavras de Cícero em seu Da República p.66, consiste em “menos um plano suscetível de realização do que um modelo em que se pudessem estudar todos os expedientes da política”. Não é um plano político, é uma ferramenta de investigação.
[22] Pode-se dizer que proponho, aqui, em linhas gerais, a mesma ideia exposta por Mário Porta em seu A Filosofia a Partir de seus Problemas, quando o autor insiste que é impossível entender um filósofo a menos que se entenda o problema que ele está tentando resolver. Não basta simplesmente decorar as teses do autor e declamá-las de trás para frente se não soubermos o que ele estava tentando fazer, o que ele estava respondendo: “O não atentar ao problema degrada o ensino ou o estudo filosófico a um contar ou escutar histórias. Tal tendência é tão forte que se assemelha a um vírus contra o qual parece não existir campanha preventiva eficaz” (p.31).
[23] Ver G.S. Kirk… – Os Filósofos Pré-Socráticos p.205-206
[24] Podemos exemplificar o mesmo problema através do entendimento torto da “tese da água” de Tales de Mileto, como explica Giovanni Reale em seu História da Filosofia Vol.1: Antiguidade e Idade Média p.30: “Mas não se deve crer que a água de Tales seja o elemento físico-químico que bebemos: ela deve ser pensada de forma totalizante, ou seja, como aquela originária physis líquida da qual tudo deriva e da qual a água que bebemos é uma das muitas manifestações. Tales é um “naturalista” no sentido antigo do termo, e não um “materialista” no sentido moderno e contemporâneo. Com efeito, sua água coincidia com o divino. Desse modo se introduz nova concepção de Deus, na qual predomina a razão, e como tal é destinada a eliminar logo todos os deuses do politeísmo fantástico-poético dos gregos. E quando Tales afirmava que “tudo está repleto de deuses”, entendia que tudo é invadido pelo princípio originário. E dado que o princípio originário é vida, tudo é vivo e tudo tem uma alma (pampsiquismo).”
[25] Fustel de Coulanges – A Cidade Antiga p.14
[26] “O fato é que em qualquer etapa da História o estado da filosofia reflete não uma absorção ou uma superação, mas frequentemente um esquecimento, uma perda, que depois obriga a trabalhosas retomadas…” Olavo de Carvalho – A Filosofia e seu Inverso p.167.
[27] Roger Scruton se propôs a examinar as mudanças que o conceito de substância sofreu na filosofia moderna em seu livro Introdução à Filosofia Moderna: de Descartes e Wittgenstein.
[28] Olavo de Carvalho – A Filosofia e seu Inverso p.168
[29] Podemos encontrá-lo na p.109 de Deus, a Liberdade e o Mal, de Alvin Plantinga.
[30] Podemos encontrar tal opinião na Carta VII, quando Platão diz que um estado mal governado só poderia ser consertado com um milagre (326a); na Apologia de Sócrates, onde Sócrates diz que nada poderia ter feito de bom se estivesse num cargo público (31d) e em vários trechos do Platão e Aristóteles de Eric Voegelin , como este que se encontra na p.151: “Adimanto concorda que, de fato, essa seria uma grande realização, e é corrigido por Sócrates: “Sim, mas não a maior, porque a fortuna lhe teria negado a politeia, à qual ele pertence; nessa politeia ele cresceria em sua plenitude e salvaria não só o seu próprio bem-estar, mas também o bem-estar público” (497e). A passagem não deixa dúvida quanto ao afastamento do filósofo da política e suas razões. A justiça da alma é mais preciosa do que a participação na política; e ela deve ser comprada, se as circunstâncias são infelizes, ao preço de uma diminuição da estatura humana. O afastamento da política é carregado de resignação, pois a plenitude do crescimento, o aumento máximo (497a) do homem, só pode ser alcançada pela participação na vida pública da pólis.” Há ainda um trecho um pouco mais explícito na p.127 do A Restauração da Ordem de Michael P. Federici: “Voegelin observa que Platão rejeita uma vida de serviço público mesmo se for o chamado natural para alguém de sua posição natural. Em vez disso, ele escolhe a vida de filosofia porque ‘compreendeu que a participação na política de Atenas era sem sentido se o propósito da política é o estabelecimento de uma ordem justa’ (OH III p.59). Platão, como Sócrates, Tucídides e outros reconhecem que o nível de corrupção espiritual em Atenas é muito avançado para fazer da política uma prescrição eficaz. Através da experiência de Sócrates, Platão reconhece que “o poder e o espírito tinham se separado tanto na pólis que a reunião através de meios ordinários de ação política se tornara impossível” (idem, p.62).
[31] Hugo de São Vitor – Didascalicon p.221-223
[32] Um exemplo de “fracasso filosófico” foi, conta Platão, Dionísio de Siracusa: “Quanto aos que não são, na realidade, amantes da sabedoria, mas que se cobrem apenas de uma camada superficial de opiniões, como indivíduos cujos corpos são tão-só bronzeados pelo sol, ao darem conta da quantidade de estudos necessária e a magnitude do trabalho, e quão ordenadas suas vidas, dia após dia, terão que ser, a fim de se ajustarem ao objeto de sua meta, avaliam-no como difícil, se não impossível, para eles; o resultado é que de fato se tornam incapacitados para empreender tal busca, isso embora alguns deles convençam a si mesmos de que obtiveram suficiente instrução no que se refere ao assunto como um todo, o que os dispensa de continuar com seus esforços. […] Foi esse, portanto, o teor do que naquela oportunidade eu disse a Dionísio. Todavia, não lhe expliquei tudo, nem me solicitou Dionísio que o fizesse, uma vez que afirmava que já tinha conhecimento de muitos dos pontos mais importantes, estando suficientemente instruído devido ao que ouvira de outros. Ouvi falar inclusive que, posteriormente, ele próprio escreveu um tratado abordando as matérias sobre as quais o instruí naquela época, compondo-o como se seu conteúdo fosse sua própria criação e inteiramente distinto do que ouvira, mas nada sei no que se refere a tudo isso. O que sei é que certos outros [indivíduos] escreveram acerca desses mesmos assuntos; quem eles são, contudo, sequer eles próprios o sabem. Tudo que certamente posso dizer é que, em relação a quem escreveu ou pretende escrever acerca dessas matérias, e que se arvora conhecedor das matérias que constituem objeto de meu sério estudo, quer as tenham aprendido na qualidade de meus ouvintes, quer o tenham feito como ouvintes de outros, quer hajam realizado suas próprias descobertas, é impossível — segundo minha opinião — que possuam qualquer entendimento desse assunto. Não há e, tampouco, jamais haverá algum escrito de minha autoria que trate de tal coisa, visto que não é passível de verbalização como outros estudos, mas, na condição de um produto da prolongada aplicação conjunta [de mestre e discípulo] é gerada na alma de súbito, como a luz que cintila quando uma fogueira é acesa, alimentando em seguida a si mesma.” Platão – Carta VII 341 a-b
[33] “Os amadores de audições e de espetáculos encantam-se com as belas vozes, cores e formas e todas as obras feitas com tais elementos, embora o seu espírito seja incapaz de discernir e de amar a natureza do belo em si […] Mas aqueles que são capazes de subir até ao belo em si e de o contemplar na sua essência, acaso não serão muito raros?” Platão – A República. 476b
[34] “Não diremos também que têm entusiasmo e gosto pelas coisas que são objeto de conhecimento, ao passo que aqueles só o têm pelas que são do domínio da opinião? Ou não nos lembramos que dissemos que esses apreciam e contemplam vozes e cores belas e coisas no género, mas não admitem que o belo em si seja uma realidade? Logo, não os ofenderemos de alguma maneira chamando-lhes amigos da opinião em vez de amigos da sabedoria? Acaso se irritarão fortemente conosco, se dissermos assim? Não, se acreditarem no que eu digo, porquanto não é lícito irritar-se contra a verdade. Por conseguinte, devemos chamar amigos da sabedoria, e não amigos da opinião, aos que se dedicam ao Ser em si? Absolutamente.” Platão – A República 480a
[35] Em Ética a Nicômaco (1181b), Aristóteles chama isso de filosofia do humano.
[36] Podemos encontrar informações sobre o ensinamento oral de Platão em numerosos livros. Além do já citado Platão e a Escritura da Filosofia, é interessante ver História da Filosofia Grega e Romana Vol.III: Platão de Giovanni Reale.
[37] Sto. Tomás de Aquino – Suma Contra os Gentios c.I
[38] Mário Ferreira dos Santos defende um universalismo mínimo para que os estudiosos de todas as áreas do conhecimento saibam um pouco de cada uma delas a fim de instaurar um diálogo universal. Assim, físicos, filósofos, matemáticos, botânicos, etc., poderiam unir forças na construção de um corpo de conhecimento orgânico. A filosofia funciona da mesma forma no que se refere à divisão das disciplinas. Ver Invasão Vertical dos Bárbaros p.100-104.
[39] Utilizo a distinção apontada no livro de Carlos Vargas, Para uma Filosofia Husserliana da Ciência (p.35): Gnoseologia refere-se ao conhecimento humano em geral e epistemologia ao científico.
[40] Platão – Eutidemo 294a
[41] “Não é sábio, não é fecundo, mesmo para quem se dedica a uma especialidade muito determinada, encerrar-se nela cedo demais. Seria colocar antolhos em si mesmo. Nenhuma ciência basta-se a si mesma; nenhuma disciplina considerada isoladamente tem suficiente luz para seus próprios caminhos. Separada, ela se encolhe, murcha, debilita-se, e na primeira oportunidade, extravia-se.” A Vida Intelectual p.99-100
[42] Platão – Apologia de Sócrates, 22a em diante.
[43] Ver Mário Ferreira dos Santos – Invasão Vertical dos Bárbaros p.99 e seguintes.
[44] “E porque devemos alcançar o conhecimento das coisas simples a partir das compostas e, partindo das últimas, chegar às primeiras, para que, começando assim das mais fáceis, seja mais conveniente o que se há de aprender…” Sto. Tomás de Aquino – O Ente e a Essência p.13
[45]Antonin Sertillanges – A Vida Intelectual p.217
[46] É mais ou menos isto que Olavo de Carvalho ensina em seu Notas para uma Introdução à Filosofia, disponível em A Filosofia e seu Inverso p.161.
[47]Olavo de Carvalho – A Filosofia e seu Inverso p.163.
[48] Sigo, aqui, o ensinado por Olavo de Carvalho em A Filosofia e seu Inverso p.132
[49] Retiro a explicação clássica do livro Introdução à Filosofia e especialmente à Metafísica, de Juan Manuel Ortí y Lara p.17 e seguintes. O autor referencia, no mesmo livro, a série de autores clássicos que tomaram a filosofia como amor à sabedoria, todos devidamente referenciados, robustecendo sua confiabilidade.
[50] “A filosofia, que com Tales nasceu como tentativa de compreensão racional do cosmo, ou seja, como tentativa de encontrar o “princípio” que explica o todo…” Giovanni Reale – História da Filosofia Grega e Romana Vol.II: Sofistas, Sócrates e Socráticos Menores p.11.
[51] “O conhecimento dos princípios da ciência, isto é, essencialmente das definições, a rigor não pode sequer ser denominado ciência, visto que – diz Aristóteles – toda ciência é acompanhada por raciocínio, ou seja, por demonstração, ao passo que, como vimos, os princípios não são demonstráveis. Esse conhecimento é, portanto, chamado por Aristóteles de nous, termo quase intraduzível, visto que seu correspondente latino, usado a partir de Boécio, a saber, intellectus, foi traduzido para o alemão pelo monge beneditino Notker (que viveu na abadia de Saint Gall entre os séculos X e XI) por Vernunft, termo que, ao contrário, a partir de Kant, ou melhor, de Baumgarten, foi usado para traduzir o latino ratio e que, portanto, por causa da enorme influência que teve na filosofia alemã, de Kant em diante, é normalmente traduzido por razão.” Enrico Berti – As Razões de Aristóteles p.12-13
[52] “[…] Nous enquanto faculdade humana de refletir e de pensar própria do homem”. Thomas A. Szlezák – Platão e Aristóteles na Doutrina do Nous de Plotino p.287
[53] “[…] o nous, humano, é uma forma de racionalidade, ou melhor, a mais elevada ao alcance do homem.” Enrico Berti – As Razões de Aristóteles p.12-13
[54] A definição não aparece desta maneira em Aristóteles. Em Política 1253a 3, por exemplo, ele nos define por político [ἄνθρωπος φύσει πολιτικὸν]; o “zoon noetikon” é uma síntese baseada no nous como distintivo superior (Ética a Nicômaco 1177a 10-25) da distinção linguística (zoon noun echon) (Política 1253a 7-10).
[55] “As virtudes da parte científica, enumeradas por Aristóteles por uma espécie de indução completa, são três: a “ciência” (episteme), definida como capacidade demonstrativa, isto é, capacidade de demonstrar; a “inteligência” (noús), definida como capacidade pelos princípios, isto é, capacidade de conhecer os princípios da ciência; e a “sabedoria”, definida como unidade entre ciência e inteligência…” Enrico Berti – As Razões de Aristóteles p.145
[56] Em Voegelin, diferença entre intellectus e ratio equivale àquela entre nous e logos: “A fim de atribuir ao termo significados posteriores e mais diferenciados, devemos compreendê-lo estritamente como o órgão da alma que faz que o “Ser” seja apreensível, de modo que sua ulterior determinação dependerá do significado do “Ser”. Ademais, o Nous, embora torne o Ser apreensível, não articula seu conteúdo. O conteúdo do Ser é articulado por outra faculdade que aparece nessa ocasião pela primeira vez, pelo logos no sentido mais estrito da argumentação lógica. O Nous e, juntamente, o Logos são os órgãos cognitivos parmenidianos para determinar a natureza do Ser.” Eric Voegelin – Ordem e História Vol.II: O Mundo da Pólis p.284-5
[57] “[…] o conhecimento dos princípios imediatos é conhecimento indemonstrável […] (contudo, deve-se saber que Aristóteles toma ciência em sentido amplo, como qualquer conhecimento certo, e não segundo a divisão pela qual a ciência se opõe ao intelecto (entendimento), em virtude da qual se diz que a ciência se refere às conclusões e o intelecto, aos princípios – há ciência da conclusão [scientia est conclusionum]; dos princípios o intelecto [intellectus principiorum]). Sto. Tomás de Aquino – Comentário aos Segundos Analíticos p.89. Colchetes meus.
[58] “[…] deve-se considerar que é necessário afirmar, acima da alma intelectiva do homem, um intelecto superior que lhe dá a potência de conhecer”. Sto. Tomás de Aquino – S. Th. I q.79 a.4 Resp.
[59] “O primeiro entre todos os conceitos primeiros, fundamento dos primeiros princípios teóricos, é o ente. Ele é conhecido de modo intelectual e por isso pode ser dito “intuitivamente”. […] Não há “apriorismo” ou “inatismo” em Santo Tomás. Nem mesmo é algo meramente vindo de alguma coisa externa à alma, a modo físico, empirista ou representacionista, mas é um tipo de conhecimento peculiar: é um ato primeiro, com o qual o intelecto forma a noção de ente (ainda que não de modo temático) e que permanece na alma de modo habitual […] Como forma clássica de interpretar Santo Tomás sobre esse ponto temos o cardeal Caetano, que dizia que “o ente concretizado na qüididade sensível é o primeiro conhecido pelo intelecto humano com um conhecimento confuso e atual”. Certamente esse conhecimento do ente é confuso, pois é feito antes da nossa apreensão das categorias do ente; e atual, no sentido de que se dá depois de nosso primeiro ato intelectivo com o qual apreendemos a notio entis. Ao mesmo tempo, se trata de certo conhecimento habitual.” Pe. Anderson Machado Rodrigues Alves – Ser e Dever-ser: Tomás de Aquino e o Debate Filosófico Contemporâneo p.116
[60] “Razão, no sentido noético, foi descoberta tanto quanto força quanto como critério de ordem.” Eric Voegelin – Ensaios Publicados 1966-1985 p.326.
[61] Eric Voegelin nomeia este movimento da percepção da ignorância até o ímpeto de buscar pelas causas últimas de exegese noética; ele descreve o percurso em Anamnese: Da Teoria da História e da Política p.431 e seguintes.
[62] O intelecto é, em Sto. Tomás de Aquino, uma potência passiva que conhece e contém uma parte ativa que abstrai as espécies da matéria e as faz inteligíveis em ato. Ver S. Th. I q.79 a.1. Resp, a.2. Resp, a.3. Resp.
[63] Uma vez que trataremos muito dos termos “princípio” e “causa”, é mister fornecer uma definições. Ei-las: “[…] princípio é aquilo que na ordem de um processo vem por primeiro, enquanto causa é aquilo que de algo depende segundo o ser (esse) ou fazer-se (fieri). Desse modo, o que se chama causalidade implica um processo ordenado em que primeiro vem a causa e depois o causado, razão por que toda e qualquer causa pode dizer-se princípio do mesmo processo causal. Há todavia processos ordenados que não são causais, razão por que nem todo princípio pode ter-se por causa.” Carlos Nougué – Do Papa Herético e Outros Opúsculos p.174
[64] Platão usa “ser” e “não” ser em sentido absoluto. As coisas concretas não “são” plenamente, pois não possuem as propriedades das idéias mas também “não-são” por conterem “algum grau de realidade”. Este estado “perecível”, entre o abismo do não-ser e o ser em sentido pleno, é chamado de “entremeio”.
[65] Eric Voegelin aponta que o “sumiço” da noção de filodoxo na consciência moderna é uma grande perda, pois faz com que os confundamos com filósofos de verdade: “A perda faz-se sentir da maneira mais incômoda no segundo par que temos agora de considerar, philosophos e philodoxos. Temos filósofos na linguagem atual, mas não filódoxos. A perda é, neste caso, particularmente incômoda, porque possuímos, na realidade, uma abundância de filódoxos; e, como o ter mo platônico para a sua designação foi perdido, referimo-nos a eles como filósofos. No uso moderno, portanto, chamamos de filósofos precisamente as pessoas a quem Platão, como filósofo, estava em oposição. E um entendimento da metade positiva do par platônico é hoje praticamente impossível, exceto por uns poucos especialistas, porque pensamos em filódoxos quando falamos em filósofos.” Eric Voegelin – Ordem e História Vol.III: Platão e Aristóteles p.126
[66] É esta noção que levou Plotino a descartar os pensadores estóicos e epicuristas do âmbito da filosofia: “o epicurismo é soberanamente descartado como a filosofia incapaz de elevar-se a sistema (cf. acima, p. 31). […] Na filosofia da natureza, os epicuristas defendem a modalidade mais desacertada do materialismo (III 1, 3, 5), e convém não perder tempo com ela (II 4, 7, 28).
Nos estoicos, ao invés, é reconhecido um impulso ético digno de atenção. […] mas, sendo que se trata […] das posições ontológicas, eles acabam ficando ao lado dos epicuristas: também os estoicos não conseguem perceber o “superior” e, assim, voltam ao ponto de partida. Embora sua modalidade de materialismo possa ser considerada como mais séria do que a dos atomistas (que é combatida em vários momentos), sua cegueira diante do Inteligível desqualifica-os definitivamente como filósofos.” Thomas Alexander Szlezák – Platão e Aristóteles na Doutrina do Nous de Plotino p.66-67
[67] “Porém, visto que aos olhos de algumas pessoas vale mais parecer sábio do que ser sábio sem o parecer (uma vez, que a arte do sofista consiste na sabedoria aparente e não na real, e o sofista é aquele que ganha dinheiro graças a uma sabedoria aparente e não real) …” Aristóteles – Refutações Sofísticas 165a 20
[68] Aristóteles – Metafísica 983a
[69] Eric Voegelin ficou bastante incomodado com ditos filósofos que se recusaram a tratar da questão das causas; seu principal alvo de críticas é Marx: “O charlatanismo marxista reside na terminante recusa em dialogar com o argumento etiológico de Aristóteles, isto é, com o problema de que a existência do homem não provém dele mesmo, mas do plano divino da realidade.” Eric Voegelin – Reflexões Autobiográficas p.84
[70] D. Thiago Sinibaldi – Elementos de Filosofia Vol.I p.2 [1927]
[71] Definições análogas aparecem, por exemplo, em Immanuel Kant – Crítica da Razão Pura A645 ou B673. Sinibaldi trata do mesmo tema em Elementos de Filosofia Vol.I p.2 [1927]
[72] “[…] trata das causas supremas dos entes; pois esta sciencia não se ocupa das causas mais óbvias ou próximas dos entres, mas as mais elevadas ou supremas.” D. Thiago Sinibaldi – Elementos de Filosofia Vol.I p.2
[73] Sinibaldi prefere dizer “ciência” e não “sabedoria” pois a primeira denota conhecimento organizado conforme causas [e princípios] e o segundo um saber perfeitíssimo vetado ao homem. Explicação no rodapé da página 2 de Elementos de Filosofia Vol.I.
[74]Mário Ferreira dos Santos – Tratado de Simbólica p.11; Sidney Silveira – Cosmogonia da Desordem p.268-269.
[75] Régis Jolivet – Tratado de Filosofia Tomo I: Lógica e Cosmologia p.14. Thiago Sinibaldi diz o mesmo em Elementos de Filosofia Vol.I p.2 [1927]: “O [objeto] material é o ente […] o [objeto] formal é a razão, aspecto sob o qual e pelo qual a sciencia atinge o ente…”
[76] “Objeto formal. Entretanto, não se entende a universalidade da Filosofia no sentido de que ela seria a soma de todas as ciências particulares. Seu objeto material é todo o real, mas considerado sob um aspecto ou um ponto-de-vista que lhe é próprio (objeto formal), a saber, o ponto-de-vista das causas primeiras e dos princípios supremos de todo o real” Régis Jolivet – Tratado de Filosofia Tomo I: Lógica e Cosmologia p.14.
[77] Olavo de Carvalho trata disto em Introdução ao Método Filosófico Aula I.
[78] Podemos encontrá-lo em dois livros de Thomas A. Szlezák: Ler Platão, capítulo XIII, e Platão e a Escritura da Filosofia, capítulo quarto.
[79] Enrico Berti – Convite à Filosofia p.53 e seguintes.
[80] “Pelo fato de a filosofia não ser pura e simplesmente uma técnica, e sim sabedoria na acepção da palavra, os seus praticantes têm real necessidade de ascese, ou seja, de algo semelhante ao que grandes místicos prescreveram ao longo dos séculos, com a diferença de que o místico procura unir-se a Deus num êxtase para cuja consecução precisou esvaziar-se de todos os conteúdos inteligíveis, deixando-se submergir amorosamente n’Aquele que está para além de toda inteligibilidade; ao passo que o filósofo — se o é verdadeiramente — acaba por se unir a Deus por um caminho inverso, no qual de verdade em verdade o esplendor de Deus acaba por manifestar-se à sua inteligência, que então repousa na beatitude desse raio de trevas luminosas […] Trata-se de dois caminhos que, se bem feitos, levam o homem a entregar-se totalmente ao mistério, conduzem-no ao mesmo fim: ou esvaziando totalmente a inteligência com vistas a unir-se ao Sumo Inteligível, que é paradoxalmente incognoscível para qualquer criatura (trajetória mística); ou preenchendo a inteligência da maneira correta, a ponto de escalar a ordem das verdades e chegar, por necessidade racional, à Suma Verdade (trajetória filosófico-metafísica).” Sidney Silveira – Cosmogonia da Desordem p.150-1
[81] “É já grande e necessária prova de inteligência ou perspicácia saber o que se deve perguntar de modo racional. Pois que se a pergunta é em si disparatada e exige respostas desnecessárias tem o inconveniente, além de envergonhar quem a formula, de por vezes ainda suscitar no incauto ouvinte respostas absurdas, apresentando assim o ridículo espetáculo de duas pessoas, das quais (como os antigos dizia) uma ordenha o bode enquanto outra apara com uma peneira.” Immanuel Kant – Crítica da Razão Pura b83
[82] O pensamento metonímico ocorre, grosso modo, um erro de raciocínio manifesto no uso vicioso de metonímias como se fossem descrições analíticas. Definições do real (ou da filosofia) sob a forma “tudo é matemático”, “tudo é político”, “tudo é mental”, “tudo é sociológico” e afins, na proporção em que tomam partes pelo todo, são formas de pensamento metonímico.
[83] “The Question as a ‘structure inherent to the experience of reality’ (OH, IV, 317)…
[84] Dario Antiseri – Pensar em Filosofia p.49
[85] Olavo de Carvalho – A Filosofia e seu Inverso p.63
[86] Boa parte desta análise é baseada nos elementos dispostos no livro de Ronald Robson, Conhecimento por Presença, p.271-273
[87] Ronald Robson – Conhecimento por Presença, p.271
[88] “A divisão inicial óbvia entre as ciências é a que as agrupa em ciências formais e em ciências fatuais ou reais. […] As ciências formais se compõem das lógicas e das matemáticas. Nas ciências fatuais (ou, ainda, empíricas), incluem-se todas as demais. As primeiras, qua ciências puras, são, em princípio, independentes da experiência. As segundas, ao contrário, não prescindem da experiência. Nenhum matemático demonstra um teorema recorrendo a experimentos; em contraposição, nenhum físico pode justificar intuitivamente suas teorias a priori.” Newton da Costa – O Conhecimento Cientifico p.44
[89] “Daí se deduz que existe diferença básica entre as ciências formais e as reais: estas dependem da experiência, que as legitima ou restringe; as primeiras, não. Entre elas há como que um abismo metodológico. Os dois tipos de ciência não formam um todo homogêneo. Por outro lado, há setores da ciência que praticamente não interagem entre si, mesmo porções da ciência empírica, o que é decorrência, em parte, do enorme desenvolvimento científico e de sua necessária especialização.” Newton da Costa – O Conhecimento Cientifico p.162
[90] “[…] o critério do conhecimento, nas ciências formais, é diverso do critério nas ciências empíricas. Nas primeiras, ele é a evidência […] nas segundas, o critério se concentra no respeito às normas da lógica indutiva e da metodologia experimental…” Newton da Costa – O Conhecimento Cientifico p.62
[91] “[…] nas ciências formais há conhecimento forte, mas que nas empíricas unicamente se alcança o conhecimento fraco, em certo sentido (e referente ao que denominaremos quase-verdade).” Newton da Costa – O Conhecimento Cientifico p.73. Para uma explicação quase-resumida, indica-se o artigo de Décio Krause acerca do assunto e sobretudo o seguinte trecho: “De fato, a história da ciência mostra que teorias, mesmo as muito bem fundamentadas e aceitas como literalmente refletindo a realidade, eram falsas. Portanto, nada impede que as teorias atuais e futuras, por mais plausíveis e sensatas que possam parecer, mostrem-se também ser falsas em sentido correspondencial. Este seria um dos motivos pelos quais o cientista parece necessitar de um conceito de verdade mais ameno que o correspondencial, e a quase-verdade aparentemente responde satisfatoriamente a esta demanda (porém, ver o final destra seção). Uma boa razão para defender a quase-verdade reside no fato de que ela não exclui a teoria correspondencial; na verdade, pode ocorrer que a quase-verdade tenda, como o decorrer do tempo, como aliás desejava Peirce, para a verdade estrito senso, ou seja, que as proposições quase-verdadeiras tornem-se verdadeiras em sentido correspondentista. Assim, a ciência empírica procuraria modelar a realidade por meio de sistemas conceituais que permitem prever (e retrover) em certos domínios, salvando as aparências em sentido da quase-verdade. Deste modo, podemos dizer que, para da Costa, a ciência é uma atividade racional cujo objetivo é a busca da quase-verdade e, quando possível, da verdade como correspondência (ver da Costa & French 2003 para uma exposição detalhada da teoria, ou o capítulo 3 de da Costa 1999 para uma exposição mais informal).” Décio Krause – Newton da Costa e a Filosofia da Quase-verdade. Principia 13(2); 105-28 (2009).
[92] “Por tudo isso, consideramos o conceito clássico de verdade como primitivo. Ele se acha pressuposto em todas as nossas atividades práticas e teóricas. Filosoficamente, verdade é conceito último, indefinível por meio de outros mais simples, se utilizamos o termo definição na acepção de proposição que caracteriza e esclarece, sem petição de princípio, um conceito. A própria sentença expressando a definição, em sentido estrito, de verdade teria de ser “verdadeira”.” Newton da Costa – O Conhecimento Cientifico p.127
[93] Newton da Costa – O Conhecimento Cientifico p.216
[94] Newton da Costa – O Conhecimento Cientifico p.42
[95] “[…] a verdade da relatividade restrita implica na falsidade das leis da química tradicional, tais como a lei da conservação da massa, de Lavoisier, e das proporções múltiplas de Proust-Dalton. Portanto, embora ambas sejam muito utilizadas, a relatividade restrita e a química padrão são incompatíveis.” Newton da Costa – O Conhecimento Cientifico p.62
[96] Dario Antiseri – Pensar em Filosofia p.55
[97] Platão – República 379a: “E eu respondi: – Ó Adimanto, de momento, nem eu nem tu somos poetas, mas fundadores de uma cidade. Como fundadores, cabe-nos conhecer os moldes segundo os quais os poetas devem compor as suas fábulas, e dos quais não devem desviar-se ao fazerem versos, mas não é a nós que cumpre elaborar as histórias. – Está certo – declarou –. Mas isso mesmo dos moldes respeitantes à teologia, queria eu saber quais seriam.”
[98] Adolphe Tanquerey – Teologia Dogmática segundo a mente de Santo Tomás de Aquino p.23
[99] Adolphe Tanquerey – Teologia Dogmática segundo a mente de Santo Tomás de Aquino p.24
[100] S. Th. I q.2. a3 Resp.