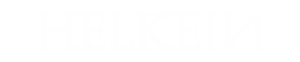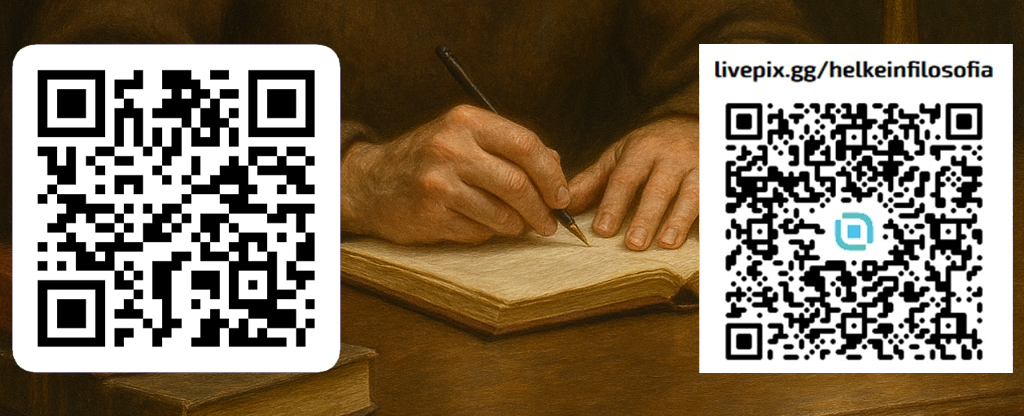O diálogo Crátilo tem um papel decisivo na concepção platônica de linguagem e suas possibilidades. Este diálogo pode ser considerado como o mais antigo testemunho, conservado em sua totalidade, da filosofia da linguagem européia.
Quando queremos dizer que uma mesma situação se repete com frequência, ainda que pareça nova àqueles que não a viveram, citamos o famoso trecho de Eclesiastes: nada há de novo debaixo do sol (Ecl. 1:9). Em filosofia, é raro que encontremos algo novo debaixo do sol; sua natureza exige uma renovação constante de suas conquistas e, não raro, o tempo some com algumas delas. Mas as questões filosóficas, mesmo que sumam num tempo, podem surgir noutro. Pode-se dizer que certas questões são cíclicas; elas surgem com força em certas épocas, somem em outras e renovam-se quando surge a oportunidade. Assim é a questão da linguagem e, aqui, especificamente, acerca do tema do nomear. Um livro contemporâneo que é explícito em apontar essa questão é o já clássico O Nomear e a Necessidade, de Saul Kripke. Se seguirmos o fio das questões filosóficas e procurarmos esforços parecidos em tempos passados, acabaremos por encontrar a ancestralidade da questão no Crátilo de Platão, um pequeno diálogo protagonizado por Sócrates, Hermógenes e Crátilo acerca da natureza do nomear, o que o torna, de certa forma, o avô da filosofia da linguagem.
O livro começa com Crátilo e Hermógenes convidando Sócrates para participar de uma discussão acerca dos nomes, onde o primeiro defende que eles o são conforme a natureza das coisas que nomeiam, e o segundo, que eles são meras convenções. Para Crátilo, os nomes advém da natureza própria das coisas, de tal forma que as palavras são, de algum modo, as mesmas para todos, possibilitando uma correção universal dos nomes, um aparato que possibilitaria julgar se o nomear de uma coisa foi correto ou errôneo, independentemente do idioma em questão. Pensando segundo a sugestão de Crátilo, nomearíamos o objeto “panela” devido à sua “natureza panelística”[1]. A tese deixa Sócrates pensativo, e ele se pergunta algo bem intuitivo, a saber, se a regra da correção universal dos nomes segundo a natureza vale também para nomes de pessoas, mas, antes de prosseguir e examinar a questão com mais atenção, ele pede a opinião de Hermógenes, que defende a tese de que os nomes são meras convenções de modo tão extremo que possibilita que chamemos “banana” de “batata” sem que haja erro algum; para facilitar o entendimento, chamemos tal posição de relativismo nominalista.
Sócrates raciocina do seguinte modo: há discursos verdadeiros e discursos falsos; o primeiro expressa as coisas do modo como elas são, e o outro, o contrário, a saber, que são as coisas que não são e que não são as coisas que são[2]. O discurso, ou melhor, a proposição, contém o sujeito, o verbo e a cópula, sendo a ‘menor parte dele’ o sujeito que é nomeado; mas as partes da proposição podem ser verdadeiras individualmente, assim como a proposição completa. Então precisamos de uma clave para julgar a verdade, não só da proposição inteira, mas também de seus componentes, ainda que o maior interesse no momento seja apenas o nome. Então, Sócrates desvia um pouco da questão e pergunta o que Hermógenes pensa da famosa tese de Protágoras, a saber, a de que o homem seria a medida de todas as coisas, um relativismo epistemológico; e o questionado não apenas discorda, como se escandaliza com tal tese. Mas se o homem não for a medida de todas as coisas, então não há um relativismo epistemológico, então devemos fiar-nos em algo de permanente; e, aqui, o permanente é a substância, ou melhor, a ousia.
Se há algo de permanente nas coisas, então devemos respeitar sua natureza e interagir com elas de certa forma; como exemplifica Sócrates, as coisas só podem ser manuseadas com ferramentas adequadas à sua natureza; assim como precisamos de um serrote adequado para cortar madeira, precisamos das palavras corretas para falar das coisas. Não podemos chamar “batata” de “banana” impunemente, pois o discurso versa sobre as coisas, e para ser verdadeiro deve expressar corretamente o que se dá. Há certa ligação, ainda que obscura, entre as palavras e as coisas, e isso não pode ser ignorado sem que caiamos no relativismo nominalista de Hermógenes[3]. Usamos os nomes para que nos instruamos acerca das coisas (Crátilo 388a) e isso ocorre por eles guardarem certa referência às coisas reais, e é precisamente por isso que eles “nomeiam”; o nome é nome quando nomeia, e um nome sem referente, um nome puro, é algo que, não só nunca passou pela cabeça de Platão, como, imaginemos, faria com que ele chutasse para fora da Academia um sujeito que dissesse algo assim. Então temos o seguinte:
Sócrates: Um nome é, portanto, uma ferramenta de ensino e de separação da substância, tal como uma lançadeira é uma ferramenta de separação da urdidura da trama.
Mas se o nome é uma ferramenta, de onde ele veio? Quem o fez? Então, Sócrates pressupõe um mítico produtor de nomes, um nomothetés, certo legislador que nomeia as coisas segundo sua natureza, um perito na prática de nomear, que incorpora (Crátilo 390a), até mesmo nas sílabas, sons segundo a correta ousia das coisas. Mas, se o nome “ideal” contém perfeita relação com a natureza da coisa, então ele se refere ao que há de fixo nela; e isso é a eidos, a famosa ideia platônica[4]. Ainda que usemos mal as ferramentas, como quando tentamos cortar uma barra de ferro com uma faca de plástico, a ferramenta correta não deve ser esquecida. Hermógenes acha os exemplos esquisitos e pede exemplos; então Sócrates, antes de continuar, depura tudo em algumas conclusões: os nomes ligam-se de certa forma à natureza das coisas, nem todos estão aptos a nomeá-las, e o nomothetés mítico serve de símbolo para a pessoa que entende a natureza da linguagem e, por conta disso, pode nomear corretamente. Um exemplo moderno disso são os filósofos, dado que eles tendem a precisar de termos novos para explicar o que descobrem, ainda que, como comenta Kant, seja melhor pesquisar antes para ter certeza de que já não há um nome para o que se quer expressar.
Então Sócrates inicia um grande exame etimológico (Crátilo 392a) e, tomando Homero como guia, como de costume, atenta que na Ilíada os deuses e os homens usam os mesmos nomes para referirem-se às coisas; então supõe-se que os deuses estão usando os nomes corretamente; mas em algumas passagens eles usam nomes diversos para as mesmas coisas; então quem está certo? Claro que os deuses; mas para não deixar o argumento como se “os deuses quiseram assim e pronto”, Sócrates se pergunta pelos critérios de correção dos nomes. Voltamos assim à questão prenunciada: a correção dos nomes segundo a natureza vale para pessoas? Sócrates ataca o problema examinando o nome de diversos personagens e compara seus significados ao que se sabe deles (395a) para que se julgue se são, de alguma forma, corretos.
Sócrates: Muito bem. Assim sendo, como esboçamos um plano geral de investigação, por onde começar a fim de descobrir se os próprios nomes nos testemunharão que não são dados por acaso, mas que têm alguma forma de correção? Ora, os nomes de heróis e seres humanos talvez se mostrem enganosos. Afinal, são frequentemente dados porque foram nomes de ancestrais e, em certos casos, como dizíamos no começo, são completamente inadequados. Muitos também são dados como expressão de uma oração, tais como Eutíquides (afortunado), Sósias (salvador), Teófilo (amado do deus) e muitos outros. Acho que seria preferível desconsiderarmos esses nomes. É sumamente mais provável encontrarmos os nomes corretamente dados entre aqueles que dizem respeito às coisas que são naturalmente eternas, caso em que os nomes devem ter sido dados com o máximo cuidado, e talvez alguns deles tenham sido dados por um poder mais divino do que o poder humano.
É bem curioso pensar como a leitura do Crátilo nos faz perceber como certa ilusão moderna, a saber, a daquelas pessoas que creem que seus nomes e seus significados digam algo sobre si[5], como se um nome que signifique “corajoso” diga que a pessoa que o possui seja corajosa, é algo criticado em um livro escrito há dois milênios. Sócrates conclui que os nomes, ao menos os humanos, são convencionais demais e que para que apontem com precisão a natureza das coisas eles precisam ser mais “rígidos” e apontar para o invariável; mas esse tipo de coisa só pode ocorrer com nomes de coisas[6]. Atentemos como Sócrates raciocina ora examinando uma das teses e ora outra, tentando extrair o que puder de cada uma delas e se esforçando por uma síntese que explique, de fato, a natureza dos nomes sem que as contribuições dadas por Hermógenes e Crátilo se percam, dado que, de certa forma, ambos disseram algo de verdadeiro. Esse raciocínio, que num primeiro momento soa errático, é o processo dialético em ação. O filósofo prossegue em um longo exame etimológico que não deixa nem que a palavra “nome” escape de seu raciocínio (421a): “a palavra nome parece ser composta compactamente de uma sentença que exprime: ‘este é um ser sobre o qual é a nossa investigação’”.
No decorrer de sua “engenharia reversa dos nomes”, Sócrates se pergunta se seria possível chegar a “nomes originais”, digo, nomes que originam outros e que possibilitariam uma correção universal, dado que referir-se-iam diretamente às coisas (422e) com máxima precisão. Mas, então, ele interrompe o raciocínio e se pergunta: se não falássemos, comunicar-nos-íamos de outro modo, como por sinais de mão que serviriam de sinais das coisas do mesmo modo que o nome o faz, quando falamos, através da voz. O nome então é mímesis, uma imitação, seja vocal ou não, de algo real que é “imitado”[7]. Novamente, Sócrates atenta-se a mais de um raciocínio ao mesmo tempo, pensando que apenas o nomothetés poderia equilibrar a tese dos nomes segundo a natureza e os nomes segundo a convenção em uma unidade coerente, pois apenas ele conheceria a essência das coisas de modo a nomear corretamente.
A relação entre os nomes e as coisas é certa quanto à sua existência, mas obscura quanto à sua substância; sabemos que os nomes apontam para as coisas, mas não sabemos como isso se dá, e muito menos como julgar as relações como corretas ou incorretas. Não sabemos o modo correto de nomear e nem como quem pode nomear nomeou; caso apontemos os deuses, também não identificamos seu critério; e caso façamos uma engenharia reversa dos nomes, para além de uma regressão infinita, permanecemos incapazes de esclarecer a relação entre os nomes e as coisas e, por conseguinte, voltamos à estaca zero. Por outro lado, tanto a tese do relativismo nominalista se mostra impossível e, em verdade, implode-se pela própria noção de nome. Nisto, Sócrates identifica algo curioso e quase herético a alguns pensadores modernos, a saber, o raciocínio, de alguma forma intuitivo, de que as coisas podem ser apreendidas sem recurso dos nomes (438e) e que possuem prioridade em relação a eles; primeiro identificamos, e depois nomeamos; novamente, a relação entre ambos se impõe.
Em um exame final, examinando a posição heraclítica de Crátilo, e também certa impossibilidade da mesma, Sócrates pensa a doutrina do devir: se as coisas estão em constante fluxo e, ainda assim, identificamos o permanente nelas como propriedade fixa, como a beleza, então tal propriedade não submete-se ao devir, dado que caso fosse submissa, então, seria algo no instante da visada, e não no instante seguinte; num devir extremo, não seria possível sequer nomear e muito menos conhecer algo. O diálogo se encerra com o problema dos nomes em aberto, ainda que a discussão tenha rendido certa conclusões. Assim são os diálogos aporéticos de Platão: mesmo que a questão não se resolva, o erro é afastado e a discussão sempre rende bons frutos para uma possível e esperada resolução futura.
Como creem alguns, a resolução foi dada por Aristóteles.
Bibliografia e Comentários:
O livro utilizado na resenha foi o Crátilo, disponível em Platão – Diálogos Vol. VI: Crátilo, Cármides, Laques, íon, Menexeno.
Para comentários, utilizei os livros Platão, de Michael Erler, e Platão, de Franco Trabattoni. Para mais comentários de Platão, ver o Esboço de um guia e leitura para as obras de Platão. Santo Agostinho comenta o mesmo tema em seu De Magistro (Sobre o Mestre, ou Sobre o Ensino – eu traduziria como Acerca do Magistério). A concepção de que o discurso verdadeiro diz que são as coisas que são e que não são as que não são aparece nos Solilóquios de Sto. Agostinho e foi utilizada também por Sto. Tomás de Aquino na primeira disputa de seu De Veritate. A edição de Da Interpretação que utilizo é a versão bilíngue da UNESP.
Caso o leitor tenha aprendido algo com nossos textos, favor considerar uma doação via PIX , Cartão ou assinar nosso site para acesso ao conteúdo restrito e de maior qualidade. Sua contribuição nos motiva a continuar fornecendo filosofia de forma simples, mas não simplificada.
Notas
[1] Embora tal afirmação se assemelhe à teoria dos designadores rígidos de Kripke, não é a mesma coisa.
[2] Tal raciocínio foi herdado por Sto. Agostinho e Sto. Tomás de Aquino.
[3] É bem curioso pensar que havia críticas ao nominalismo já em Platão.
[4] Aristóteles retoma o tema em seu Da Interpretação.
[5] Da mesma forma que signos ou algo do tipo.
[6] Essa é, ceteris paribus, a origem dos termos técnicos.
[7] Michael Erler comenta em seu Platão (p.199) que, aqui, talvez Platão tenha pensado em algo parecido com as distinções modernas entre sentido e referência; no mesmo livro ainda aponta que a relação entre a coisa, a ideia e a palavra formem algo como um triângulo semiótico primitivo.