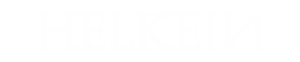Por Alfred Edward Taylor
Tradução e Notas de Helkein Filosofia
O mundo deve a poucos homens o condigno a Platão. Ele nos ensinou que a “filosofia” – o amor e a dedicação desinteressada à verdade – é o grande presente de Deus ao homem e o guia legítimo da vida humana, e os poucos agraciados com a visão íntima da verdade só são fiéis à sua vocação se a frutificam servindo incansável e humildemente a seus semelhantes. Toda civilização digna nutre-se de tais idéias e, sempre que recai num período de confusão e esquecimento, nosso ocidente busca novamente nos escritos platônicos o sentido de uma vida nobre. Platão foi chamado, com certa verdade, de pai de todas as heresias científicas e religiosas; e, na mesma medida, fonte do mais vivo entre as ortodoxias. Não dizemos que a filosofia surgiu, completa, da alma de Platão, feito Atena do cérebro de Zeus. Homem algum descobre a completude da verdade por suas próprias forças. Os grandes pensadores sabem melhor que qualquer um de nós o erro sugerido pelo ditame: “Deus disse: haja Newton, e houve luz”. Platão nunca se cansa de insinuar-se o herdeiro espiritual de dois grandes antecessores, Sócrates e Pitágoras. Mas, como nenhum desses grandes homens deixou escritos, é principalmente através de Platão que eles influenciaram todas as eras posteriores e são uma força viva no pensamento contemporâneo. Pitágoras ainda nos influencia, principalmente, através do “Fédon”, do “Filebo” e do “Timeu”, e, sem os diálogos de Platão, Sócrates não seria, para nós, algo diferente de uma magnífica sombra. Da mesma forma, quando falamos da influência histórica de Platão, não devemos esquecer nossa dívida com seu grande discípulo, Aristóteles. Mas Aristóteles deve a melhor parte de sua inspiração às influências recebidas de seu contato com Platão, e é o aspecto platônico de seu pensamento que atraiu mais fortemente a posteridade. Aquele “domínio da mente humana pela autoridade de Aristóteles”, que a imaginação popular estranhamente exagera, é um episódio das fortunas do platonismo.
O pensamento platônico não precisou ser aprendido por seus associados e sucessores imediatos, como ocorreu conosco, a partir de seus escritos; estes, como demonstrado por seu estilo, foram destinados principalmente ao público educado. Aqueles melhor acabados (Protágoras, Górgias, Banquete, Fédon, provavelmente a maior parte da República) foram compostos antes do filósofo encontrar sua vocação como líder de uma sociedade organizada de “pesquisa” e, mesmo os subseqüentes à fundação da Academia (Teeteto, Parmênides, Sofista, Político, Timeu, Filebo, Leis) parecem ter sido direcionados a fornecer ao público geral uma noção dos métodos da escola platônica. Platão via as investigações organizadas da Academia como seu principal “trabalho”. É por isto que os diálogos tardios não explicitam os temas indicados por Aristóteles como próprios do platonismo e também a razão deste presumir que a audiência de suas palestras sobre Ética — os interessados nos temas políticos práticos e não em filosofia especulativa — conhece o texto do Filebo e das Leis tal como um puritano do século XVII dominava a Bíblia King James.
Platão não tinha em alta conta a mera leitura como estímulo cognitivo, [1] razão pela qual se recusou a compilar um tratado de sua própria filosofia.[2] Filosofia e ciência não são coleções de asserções passíveis de serem escritas e decoradas;[3] são a realidade de um intelecto empenhado na busca pela verdade. A chama deve arder na alma de cada homem; a tarefa de alguém em relação a outrem é apenas transmitir a centelha capaz de acendê-lo, algo possível apenas na intimidade de uma vida compartilhada, dotada de atividades em comum. Assim como uma religião viva requer uma Igreja, a ciência exige a cooperação organizada numa “pesquisa”.
Por isso não formamos uma concepção adequada do platonismo apenas lendo os diálogos, sem conhecer, de fato, as conquistas da Academia platônica nas ciências matemática, física e moral. A Academia, convém lembrar, manteve uma existência corporativa ininterrupta desde sua fundação (c. 387 a.C.) até sua supressão e o confisco de seus bens por Justiniano (529 d.C.), uma longevidade superior à de qualquer universidade moderna até hoje. Isso esclarece o motivo das obras de Platão, ao contrário de Demócrito ou Aristóteles, não se perderem, e a razão por que o texto dos melhores manuscritos platônicos é tão excepcionalmente preservado. Contudo, se Aristóteles e seus contemporâneos puderam fundamentar suas principais asserções sobre as doutrinas de Platão em sua memória de seu ensino pessoal, as gerações seguintes dependeram necessariamente dos diálogos complementados pelas tradições exegéticas da Academia e por referências explícitas às “doutrinas não escritas” encontradas em Aristóteles e seus pares.[4] Cícero estava, nesse aspecto, numa posição semelhante à nossa.
Surgiram na Academia, desde o início, divergências exegéticas acerca de pontos obscuros. Xenócrates, segundo sucessor de Platão e contemporâneo de Aristóteles, debateu o sentido da discussão sobre o “nascimento da alma” no Timeu, enquanto Crantor, eminente acadêmico da terceira geração, redigiu uma extensa Memória acerca deste tema. A interpretação de Crantor afastou-se da de Xenócrates, e a de Aristóteles diverge ainda mais de ambas. Desde a época de Arcesilau, quinto reitor da Academia (m. 241 a.C.), até a de Carnéades (129 a.C.), esta dedicou-se sobretudo a uma crítica destrutiva do sensualismo dogmático dos estóicos, e daí deriva a tradição, já no século I a.C., de considerar Arcesilau e seus seguidores (a chamada “Nova” Academia) como meros céticos, “académicos” no sentido adoptado por Hume.[5] Tal opinião dificilmente reflete a verdade. Quando uma escola genuinamente cética emergiu, nos primeiros séculos da nossa era, seus membros se recusaram veementemente a admitir o cepticismo acadêmico. Certo é, também, que nos séculos I e II a.C. floresceu uma forte corrente de platonismo popular, preservando as principais doutrinas platônicas, embora com modificações em sentido aristotélico, algo transparecido no chamado Timeu Locrus, no comentário fragmentário recém-descoberto ao Teeteto, nos extensos trechos conservados por Eusébio do platônico Ático, do século II, na Introdução ao Platonismo de Alcino, nos ensaios de Plutarco e nos discursos de Máximo de Tiro, todos trabalhos desse período. É difícil compreender a persistência dessa tradição e a familiaridade de alguém como Plutarco com a exegese platônica de Xenócrates e Crantor, caso se acredite ter a Academia se tornado um reduto de ceticismo por volta de 250 a.C. Os fatos talvez sejam revelados pelo Acadêmicas, de Cícero. Houve, no início do século I a.C., uma tentativa de fundir o estoicismo com o platonismo, assim como eminentes estóicos da mesma época, Paneceu e Posidônio, buscavam integrar Platão em seu estoicismo. Antíoco de Ascalon declarou que Sócrates e Platão ensinaram, em linguagem distinta, a mesma doutrina de Zenão, fundador do estoicismo, tornando a polêmica de Arcesilau um desvio do verdadeiro espírito da Academia. Fílon de Larissa, então chefe da Academia, respondeu negando qualquer mudança na doutrina acadêmica.[6] Cícero afirma que tal controvérsia causou grande polêmica.
Por Platão negar, sempre, a possibilidade de fundamentar a ciência apenas na percepção sensível, Fílon acerta claramente ao negar qualquer mudança substancial no ensino acadêmico. As asserções de Antíoco revelam apenas o espírito eclético da época, manifestado também na platonização do estoicismo por Paneceu e Posidônio. Provável é, decerto, terem Arcesilau e seus sucessores deixado de se dedicar, como os acadêmicos anteriores, à matemática e à ciência física, conseqüência da separação entre “filosofia” e “ciência positiva” ocorrida no século III a.C. Bem ou mal, a ascensão dos grandes institutos alexandrinos, voltados à investigação das ciências independentemente das escolas filosóficas, divorciou a filosofia da matemática e da cosmologia, reduzindo a metafísica, inevitavelmente, à mera “epistemologia”.[7]
Permanece obscura a história da Academia após Fílon e Antíoco. Transborda, porém, o material para fundamentar o conhecimento do platonismo popular amplamente difundido nos dois primeiros séculos cristãos. Acrescentam-se às obras já mencionadas os volumosos escritos do célebre Fílon de Alexandria, nos quais as Escrituras do Antigo Testamento são alegorizadas com auxílio de um platonismo fortemente estoicizado.[8] Destaca-se nesse platonismo popularizado a combinação da doutrina de Platão sobre Deus e as “Formas inteligíveis” com a concepção aristotélica de uma matéria eterna “sem forma”, substrato sobre o qual Deus imprime, ou do qual extrai, as diversas “formas” das coisas. Constitui o lado ético dessa doutrina a teoria, inteiramente alheia a Platão, da “matéria” como causa do mal.[9] Plutarco e Ático professaram encontrar tal “matéria sem forma” no Timeu, desafiando a exegese acadêmica mais antigas dos diálogos.
Por reviver Plotino, enfim, a plenitude da filosofia de Platão, com sua elaboração ulterior como fundamento intelectual do helenismo contra a nascente Igreja Cristã, tal feito independe da Academia oficial; ocorre não em Atenas, mas em Roma. Tal obra cabe a Plotino, último homem de gênio superior entre os filósofos gregos. Ignora-se sua origem, sabendo-se de sua juventude apenas que estudou em Alexandria e fundou sua Academia em Roma, onde, segundo Porfírio – seu biógrafo – fixou-se no primeiro ano do imperador Filipe (245 d.C.), sendo importante notar que Alexandria e Atenas não desempenham papel relevante na história da Academia. A Academia (platônica) nota sua filosofia [de Plotino] apenas no século V, explicitando tal desconexão com a fundação original de Platão, e isto provavelmente por Plotino e seus seguidores denominarem-se sempre “platônicos”, jamais “acadêmicos”. Crêem Plotino e seus sucessores reviver, em sua totalidade, os princípios do verdadeiro pensamento platônico, crença admissível se admitirmos que o “Platão plotiniano” reflete, inevitavelmente, o filósofo “visto por certa lente”. Plotino domina a interpretação neoplatônica de Platão, fortemente marcada por uma concepção plenamente articulada do mundo como unidade estruturada. Subsiste nos escritos platônicos uma lacuna imperfeitamente preenchida entre a doutrina das formas, fundamento da teoria platônica da ciência, e a doutrina de Deus e da alma, base de sua teoria da natureza [física] e da vida humana [antropologia, ética]; Plotino procura sanar o problema apoiando-se sobretudo na grandiosa passagem da República acerca do Bem inefável, ao mesmo tempo fonte de todas as coisas e situado “além do Ser”. Elaboram, ele e seus seguidores, a célebre concepção da gradação ou sucessão de “emanações” ou “progressões”, ligando o Bem supremo à hierarquia de suas “imagens”, estas cada vez mais indistintas e imperfeitas. Encontra-se em toda filosofia ou teologia posterior a “escala do ser” ou “graus de perfeição”, sendo certo tratar-se da influência platônica transmitida mediante Plotino.
Diferem em dois aspectos, das intenções de seus autores, os efeitos desse renascimento. Plotino prossegue seu construto filosófico num espírito quase inteiramente alheio a polêmicas, mas, entre seus seguidores imediatos, ganha proeminência aquela contra as aspirações da Igreja Católica de substituir a filosofia como regra da vida. Porfírio foi o fundador do “criticismo superior” contra a Bíblia, revelando sua implacabilidade na obra Contra os Cristãos. Formam os “platonistas”, no século IV, o núcleo da última oposição ao triunfo da Igreja, e é entre eles que o Imperador Juliano [o Apóstata] escolhe seus colaboradores em seu malogrado plano de reação.[10] Vive Proclo, grande sistematizador da Academia (410-485 d.C.), numa era onde o cristianismo se firma como fé oficial, contentando-se com a prática de um “catolicismo” pagão fantasioso e com o ocasional avivamento de suas aulas por sarcasmos inofensivos. Persiste, como “mania” privada, a rejeição do cristianismo mesmo após o fechamento da Academia por Justiniano. Completa Proclo, porém, a obra dos neoplatônicos, restando a seus sucessores preservarem em comentários eruditos a tradição científica de um passado já ameaçado pelas invasões bárbaras. Passa, então, a continuidade da especulação às mãos dos cristãos. A verdadeira importância de Proclo reside, mais do que em qualquer outro, na tarefa de fornecer um arcabouço intelectual e uma cosmovisão aos teólogos e, para os místicos cristãos, uma defesa raciona da “via da negação” [teologia negativa].
Os platônicos tardios prepararam, inadvertidamente, o “domínio aristotélico”; entretanto, nos séculos vindouros, Aristóteles jaz ausente. A genuína tradição helênica não integra Aristóteles e sua doutrina subsiste, como filosofia autossuficiente, dificilmente para além de Teofrasto (288 a.C.), seu sucessor no Liceu. O aristotelismo persiste até pelo menos 150 d.C., entre pensadores sérios, como alternativa viva ao platonismo e o estoicismo, mas, sabe-se bem, Cícero jamais o considera uma terceira via – embora, em certos momentos indague se o estoicismo não resta como única filosofia genuína, pois considera Aristóteles, para todos os efeitos, como Platão reiterado. O renascimento dos estudos aristotélicos pelos comentário de Alexandre de Afrodísias, no fim do século II d.C., altera pouco a situação; contam realmente, de Teofrasto a Plotino, apenas filósofos platônicos ou estóicos, embora se encontrem, naturalmente, traços das ideias aristotélicas em ambas as tendências. Já os principais nomes em matemática e ciência, são, em geral, homens alheios a qualquer escola filosófica. Engana-se, em particular, quem atribui o longo reinado da astronomia “ptolomaica” a algum preconceito filosófico; seus autores, Hiparco e Ptolomeu, são matemáticos, não filósofos, e sua teoria, concordante com Aristóteles apenas no geocentrismo, foi adotada precisamente pelo “maquinário das esferas concêntricas” aristotélico ser irreconciliável com os resultados da observação cuidadosa. Influenciaram então a astronomia, biologia e medicina, ao longo dos períodos alexandrino e romano, na medida em que algum clássico filosófico as guia, sobretudo o Timeu, como ocorre durante a maior parte da Idade Média.
O primeiro passo para a canonização de Aristóteles como autoridade científica foi dado na Academia de Plotino. Lêem-se ali suas obras, assim como as de Platão, encarando seus tratados lógicos como preliminar necessária para o estudo da metafísica e teologia platônicas, originando a Introdução de Porfírio à lógica aristotélica [Isagoge] e. portanto, a grande controvérsia (sobretudo medieval) dos “universais”. Por impor-se o triunfo do cristianismo, volta-se a Academia, cada vez mais, a uma erudição inofensiva, sendo natural exibir-se tal saber na exegese das monografias de Aristóteles sobre as várias ciências. Encontram-se, pois, nas minutas e doutos comentários de Simplício sobre os escritos físicos, cosmológicos e psicológicos de Aristóteles, as últimas produções valiosas da Academia. Desejam pouco homens, como Simplício, tal resultado, mas seus cuidados contribuem, mais que qualquer outra causa isolada, para fazer de Aristóteles, lido com seus comentários, o mestre do saber enciclopédico aos olhos de judeus, árabes e cristãos medievais.
Por tornar-se a Igreja Cristã, antes da época de Proclo, a herdeira da filosofia platônica, apela ela, já antes de Plotino, a Platão como aliado na controvérsia com os “gentios”. Constrange Clemente de Alexandria — para citar apenas o nome mais eminente —, no início do século III, em seu Protréptico, a idolatria e a mitologia imoral com a autoridade conjunta dos profetas hebreus e de Platão, a quem considera dotado de missão semelhante entre os gregos à de Jeremias ou Ezequiel em Israel.[11] Recorre constantemente, em suas Miscelâneas, a Platão, assim como à Escritura, para fundamentar o que pretende ser uma filosofia distintamente cristã. São notórios os extremos alcançados por Orígenes, na geração seguinte, ao integrar a escatologia dos mitos platônicos ao cristianismo. A Igreja termina por repudiar suas teorias, mas prossegue a tendência delas oriunda; no século IV, entre os capadócios, há sobretudo São Gregório de Nissa, de quem a influência platônica passa ao Ocidente por Santo Ambrósio de Milão, ainda no mesmo século. Reproduzem-se, quinhentos anos depois, as ideias de Gregório, com efeito surpreendente, por João Escoto Erígena.
O platonismo penetra por outra via na principal corrente da ortodoxia ocidental. Devem-se tal obra, sobretudo, a dois grandes homens: Santo Agostinho e Boécio. Influencia profundamente Santo Agostinho, a maior figura da Igreja Ocidental e autor do que há de mais distintivo em sua teologia, antes de sua conversão, o estudo de Plotino numa versão latina; este afirma, numa célebre passagem de suas Confissões, carecerem os “platonistas” apenas da doutrina da Encarnação como verdade fundamental.[12] Fornece Boécio ao Ocidente o conhecimento da lógica através de suas exposições de Porfírio e Aristóteles, e a fórmula-padrão da ortodoxia por seus tratados sobre a Trindade e a Pessoa de Cristo.[13] Revela-se ainda mais importante, no cárcere precedente à sua morte, por redigir ele um pequeno volume, a Consolatio Philosophiae, este permanecendo, por toda a Idade Média, o mais popular entre os livros eruditos. Expõe-se ali, com singular encanto e graça, a cosmologia e teologia natural platônicas como fundamento para justificar os misteriosos caminhos de Deus com o homem. Por haver Boécio formulado as duas principais doutrinas da Igreja e encontrado a morte nas mãos do ariano Teodorico (525 d.C.), considera-o o povo santo e mártir, reputação que amplia a influência de seu livro, capaz de resgatar Dante de uma vida indigna e contar o Rei Alfredo e Chaucer entre seus tradutores ingleses.[14]
Pelos escritos do Dionísio, o Aeropagita, constituírem uma potente fonte de neoplatonismo no pensamento e na literatura medievais, servem de fundamento à angelologia à teoria da mística da Idade Média. Tais obras são, na verdade, apenas uma versão superficialmente cristianizada de Proclo, mas são prontamente aceitas no medievo como composições autênticas de um discípulo imediato de São Paulo – e supostamente conter uma revelação feita ao Apóstolo ao ser “arrebatado ao terceiro céu”. Torna-as acessíveis ao Ocidente, no século IX, a versão latina de João Escoto Erígena, exercendo elas enorme influência até que os humanistas do século XV questionem sua autenticidade; persiste, porém, seu fascínio.[15]
O platonismo penetra na Igreja Ocidental sobretudo por três vias: Sto. Agostinho, Boécio e Dionísio, sendo o platonismo influente na teologia sobretudo o plotiniano. Platão influencia o pensamento científico medieval também, de outro modo. Possui o Ocidente, desde sempre, as obras filosóficas de Cícero, e, mais importante, o comentário do século V de Macróbio ao Somnium Scipionis. Dispõe sobretudo, desde o século IV, da tradução latina de Calcídio dos dois terços iniciais do Timeu, com seu Comentário a este texto, mas o ocidente carece, até o início da tradução das obras metafísicas e científicas de Aristóteles das versões orientais para o latim, de informações mais adequadas sobre Aristóteles do que sobre Platão, especialmente acerca do Timeu. Constitui o Timeu, de fato, a única obra filosófica grega verdadeiramente grandiosa acessível ao Ocidente na Alta Idade Média. Mantêm-se, pois, até o início do século XIII, inabaláveis as posições de Platão e Sto. Agostinho, embora se faça sentir poderosamente, no século XII, a influência da lógica aristotélica em autores como Abelardo e Hugo de São Vitor, originando, em particular, a acirrada controvérsia acerca da natureza dos “universais”. Reina ainda Sto. Agostinho na teologia, ditando o Timeu a concepção física encontrada nas enciclopédias de escritores como Honório de Autun.
Pertence ao século XIII, era dourada da escolástica, a descoberta de Aristóteles como mais do que um lógico formal e sua elevação ao posto de suprema autoridade científica. Apresentam as versões de Aristóteles conhecidas no século XII – vindas por mãos de árabes, mouros e judeus neoplatonizantes –, um texto onde o filósofo aparece largamente platonizado. Adquire o Ocidente, no século seguinte (gradualmente), novas traduções, feitas diretamente do grego,[16] nas quais se expõe seu ensino físico e metafísico livre de acréscimos neoplatônicos.[17] A igreja desconfia, inicialmente, de um novo filósofo vindo de mãos hereges e “descrentes”, interditando mais de uma vez os mestres da nova universidade de Paris — que Inocêncio III e seus sucessores esperavam tornar o grande centro para a formação de um clero douto — de lecionar publicamente sobre quaisquer obras de Aristóteles para além dos tratados lógicos conhecidos. Deve-se diretamente ao gênio e à diligência de dois dominicanos, Sto. Alberto Magno e São Tomás de Aquino, a mudança pela qual, antes do fim do século, reconhece-se Aristóteles como a maior autoridade em todos os ramos do saber natural. Realiza-se tal revolução não sem grandes inquietações, e nem alcança êxito em toda parte. Engana-se, amiúde, sobre seu verdadeiro caráter, considerando a obra de ambos os filósofos como escravizadoras do intelecto humano, no entanto, como acerca o professor Étienne Gilson, ela foi uma grande emancipação por Sto. Alberto e Sto. Tomás, com o auxílio de Aristóteles, redescobrirem a natureza como objeto de estudo em seu próprio direito e não como mera coleção de símbolos a encarnar verdades teológicas. Introduz São Tomás uma firme distinção entre razão e revelação, outorgando ao intelecto, com efeito, uma Magna Carta que o liberta, daí em diante, para estudar todo o existente para além do círculo do dogma revelado, em completa indiferença a arrières-pensées teológicas. Denomina por isso o professor Gilson a Sto. Tomás o primeiro filósofo “moderno”, observando que a revolução feita por ele e seu mestre Sto. Alberto constitui o único exemplo na história da Igreja de um movimento “modernista” bem-sucedido.[18]
O triunfo tomista não rompe, abruptamente, a tradição platônico-agostiniana, que atinge, em São Boaventura – contemporâneo e amigo de Sto. Tomás – seu desenvolvimento pleno. É cultivada ardentemente na Inglaterra, onde o tomismo jamais se firma, unida ao espírito de dedicação à ciência matemática e experimental, ao longo do século, pelos franciscanos de Oxford, Roberto Grosseteste, Rogério Bacon e seus amigos.[19] A própria preservação da matemática e da física européia deve-se, provavelmente, à atitude independente da Universidade de Oxford, num tempo em que o retumbante êxito de São Tomás volta as mentes dos mais capazes da Universidade de Paris ao emprego da filosofia na construção da teologia natural e na refutação do “infiel”.
Exerce Oxford, no século seguinte, uma reação importante sobre Paris e, indiretamente, sobre a Europa em geral. Persiste a ficção popular de que desacreditar a cinemática de Aristóteles — necessária para fundamentar uma mecânica verdadeiramente científica — cabe, na reabertura do século XVII apenas a Galileu (ou apenas com auxílio de Kepler). Revelam, porém, homens como João Buridan, Nicolau de Autrecour, Alberto da Saxónia, inspirados filosoficamente pelo célebre oxoniense Guilherme de Ockham, já no século XIV, os erros aristotélicos, avançando consideravelmente rumo a uma teoria mais sólida. A oposição violenta a Galileu, oferecida pelas universidades italianas, constitui o estertor de uma doutrina já considerada insuficiente ao norte dos Alpes.[20] Conta Descartes, na França, com companhia em sua revolta contra as “escolas”, pois ressurge o agostinianismo tanto em seu círculo social quando no ensino jesuíta em La Flèche.[21] A emancipação do aristotelismo conduz, em Galileu e Descartes, à elaboração de um método científico e a uma valorização da importância da matemática caracteristicamente platônicas.
Por este pequeno livro tratar da influência platônica na literatura geral, há muito a dizer sobre o efeito do renascimento dos séculos XV e XVI no interesse pelos escritores gregos. Falar-se-ia da “Academia” meio fantástica de Lourenço de Médici e seus eruditos, bem como dos espíritos “emancipados”, meio científicos, meio poéticos, do fim do século XVI, Bruno e Campanella, e dos estudos platônicos de membros de nobres famílias inglesas sob influência italiana. Basta notar, aqui, que tal familiaridade amplamente difundida com o lado imaginativo de Platão explica os frequentes ecos presentes na literatura elisabetana e jacobina. Transborda, em Marlowe e Shakespeare, uma linguagem que denota íntima familiaridade com toda a mitologia pitagórico-platônica da alma (e a naturalidade dos movimentos de Shakespeare neste círculo prova que não é nem Bacon, nem outro “homem sábio” – seu conhecimento é demasiado leve para ter sido conquistado à custa de vigílias). Conhece Bacon seu Platão e, nele, como em outros antiaristotélicos, acompanha a repulsa ao dogma aristotélico uma admiração pela flexibilidade do pensamento platônico. A influência agostiniana se manifesta fortemente no primeiro grande inglês após a Reforma, Hooker, e marca ainda mais, no século seguinte, todo o grupo de “Cambridge”; Cudworth, More e seus amigos, vindicam a religião espiritual numa era pouco espiritual sob Carlos II. Afirma-se justamente que Platão e Sto. Agostinho são as fontes intelectuais da teologia anglicana, de Hooker a Westcott, servindo as concepções platônicas de fundamento à ética dos maiores homens do período clássico do moralismo britânico.
Devido ao ressurgimento das concepções platônicas no ponto crítico da história da ciência moderna, voltam Leibniz e Newton, ao fundamentarem o Cálculo, a ideias matemáticas originadas na primeira geração da Academia, sendo seus predecessores diretos — Cavalieri, Wallis, Barrow — homens que retomam a geometria exatamente onde a Academia a deixara. Acrescenta-se, talvez, o trabalho de Weierstrass e seus seguidores, que tornam, em nossa própria época, o Cálculo um desenvolvimento estritamente lógico a partir dos princípios primeiros da ciência dos números, executando um trabalho claramente indicado por Platão – embora insolúvel sem o auxílio de métodos inexistentes em seu tempo. O Dr. Whitehead conduz o mais recente esforço para construir uma filosofia da natureza adequada, tomando como ponto de partida a concepção geral de natureza posta por Platão na boca de Timeu.[22] Parece que o Timeu pode se tornar, mais uma vez, o fundamento da concepção de natureza para o homem culto.
Este capítulo busca indicar, em linhas gerais, a linhagem pela qual as ideias platônicas fazem parte da herança inconsciente do homem culto moderno e os momentos em que sua influência ganha novo vigor. Mostra-se, a propósito, que a suposta “submissão milenar” do intelecto humano por Aristóteles é apenas mítica, pois ela começa após meados do século XIII e perde seu encanto já no fim do século XIV. Persiste, sim, um hábito intelectual geral, mesmo após as mentes mais originais se libertarem dele, valendo lembrar que Dante (1265-1321) é o primeiro aristotélico pleno entre os grandes nomes da literatura europeia, mesmo cativado por Boécio, enquanto toda a parafernália do aristotelismo escolástico não passa de gracejo para Rabelais (m. 1553).
Caso o leitor tenha aprendido algo com nossos textos, favor considerar uma doação, via PIX [real] ou entrar em nosso canal no Telegram, no código QR correspondente. Sua contribuição nos motiva a continuar fornecendo filosofia de forma simples, mas não simplificada.
Notas:
[1] A filosofia platônica opera em torno da idéia de diálogo. Nisto, foi “feita” para ser ensinada e transmitida de duas formas: um diálogo solitário (meditação) e um diálogo real entre mestre e discípulo, de forma que mesmo os escritos platônicos seguem esta regra. No entanto, a forma oral, na medida em que o mestre ensina e responde de maneira personalizada, supera a forma escrita, “muda” e incapaz de restringir e expor o necessário conforme a situação. Este é o cerne da crítica da escrita em Platão. Uma vez que o topo de sua filosofia não poderia ser ensinado sob forma escrita sem causar problemas de compreensão, o filósofo preferiu manter seu ensino superior sob forma oral, apenas para estudantes avançados. Informações sobre este procedimento podem ser encontradas em Thomas A. Szlezák – Ler Platão [N.T.]
[2] Platão, Ep., VII, 341, b-d. [N.A.]
[3] O “compilador” de teses é chamado por Platão de doxographos. Um compilador pode decorar todas as teses que quiser e se tornar um erudito; entretanto, o ensino filosófico [e científico] ocorre apenas mediante um treinamento específico [didaqué]. Explicações sobre isto podem ser vistas no primeiro capítulo de Platão e a Escritura da Filosofia, de Thomas A. Szlezák. [N.T.]
[4] As fontes para o postulado das doutrinas orais de Platão podem ser encontradas em Giovanni Reale, Para uma Nova Interpretação de Platão, e Hans Krämer, Plato and the Foundation of Metaphysics. [N.T.]
[5] A Nova Academia, sobretudo cética, foi alvo das críticas de Sto. Agostinho em seu Contra os Acadêmicos; não deixa de ser um caso curioso a Academia Platônica ter decaído até o ceticismo. [N.T.]
[6] Cicero, Academica Priora, 13: Antiochi magister Philo, magnus vir… negat… duas esse Academias, erroremque eorum qui ita putabant coarguit. [N.A.]
[7] Platão, Rep., VI, 509 b. 8-10: “Logo, para os objectos do conhecimento, dirás que não só a possibilidade de serem conhecidos lhes é proporcionada pelo bem, como também é por ele que o Ser e a essência lhes são adicionados, apesar do bem não ser uma essência, mas estar acima e para além da essência, pela sua dignidade e poder.” [N.A.]
[8] É importante notar – como explicitado especialmente em Plotino – que o platonismo e o estoicismo são doutrinas diamentralmente opostas. Ver Thomas A. Szlezák – Platão e Aristóteles na Doutrina do Nous de Plotino e Johannes Brachtendorf – Confissões de Agostinho p.34-5 [N.T.]
[9] A “doutrina da maldade da matéria”, e de sua qualificação como “prisão” para a alma humana, é específica dos gnósticos. Falamos do gnosticismo aqui, aqui e aqui. [N.T.]
[10] Juliano, o Apóstata, procurou revitalizar o paganismo romano “copiando” alguns aspectos do cristianismo (como a caridade com os pobres) enquanto o censurava em outros. Seu plano malogrou; embora tivesse estudado com cristãos, seu conhecimento doutrinal mal chegava ao patamar esperado de uma catequese, como podemos ler em seu Contra os Galileus [245C], onde comete erros crassos acerca do batismo. [N.T.]
[11] Ver Curso de Patrologia p.132-3. [N.T.]
[12] “Li escrito nesses livros que o Verbo, que é Deus, nasceu, não da carne nem do sangue, “não da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas de Deus”. Mas não encontrei escrito nesses livros que o “Verbo se fez carne e habitou entre nós”. Aí encontrei, expresso de muitos e diversos modos, que o Filho, tendo a condição divina, não considerou como usurpação ser igual a Deus, porque ele o é por natureza.” Confissões VII 9.14 [N.T.] Sto. Agostinho, Confessiones, VII, 9, 14: sed quia Verbum caro factum est et habitavit in nobis, non ibi legi. [N.A.]
[13] Os escritos teológicos de Boécio podem ser encontrados no livro Opuscula Sacra. [N.T.]
[14] Para a perspectiva medieval de Boécio, ver A Divina Comédia, Paraíso, X, 128: “da martiro E d’esilio venne a questa pace” e, para o efeito do estudo da Consolatio em Dante, Convivio, II, 12, 2: “misimi a leggere quello non conosciuto da molti libro di Boezio, nel quale cattivo e discacciato, consolato s’avea.” [N.A.]
[15] Sto. Tomás o trata como uma autoridade inquestionável. Ver Dante, A Divina Comédia, Paraíso, X, 116, onde diz: Dionysius “più a dentro vide l’angelica natura e’l ministero.” [N.A.]
[16] Étienne Gilson, La Philosophie au moyen Âge, I, 118–126. Entre os “novos” tradutores estavam William de Moerbeke, amigo de Santo Tomás, e Robert Grosseteste, que traduziu a Ética a Nicômaco. [N.A.]
[17] Para a questão das traduções de Aristóteles, ver Sylvain Gouguenheim – Aristote au Mont-Saint-Michel: Les racines grecques de l’Europe chrétienne [N.T.]
[18] Étienne Gilson, La Philosophie au moyen Âge, II, 1–35; Études de Philosophie Médiévale, 77–124. [N.A.]
[19] Étienne Gilson, La Philosophie au moyen Âge, II, 46: “Oxford, où vont affluer les sciences nouvelles empruntées aux Arabes, recueillera et fera fructifier l’héritage de Chartres; on y restera fidèle au platonisme augustinien, on y saura les langues et l’on y enseignera les mathématiques dont Paris se désintéressera.” [N.A.]
[20] E. Gilson, op. cit., II, 153: “Il faut donc reléguer dans le domaine des légendes l’histoire d’une Renaissance de la pensée succédant à des siècles de sommeil, d´obscurité et d´erreurs. La philosophie moderne n’a pas eu de lutte à soutenir pour conquérir les droits de la raison contre le sommeil, d’obscurité et d’erreurs. Au contraire, le moyen âge qui les a conquis pour elle, et l’acte même par lequel le XVIIIe siècle s’imaginait abolir l’œuvre des siècles précédents ne faisait que la continuer.” [N.A.]
[21] E. Gilson, Études de Philosophie Médiévale, 146 ff. [N.A.]
[22] N. Whitehead, The Concept of Nature, 17–18. [N.A.]