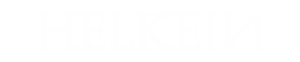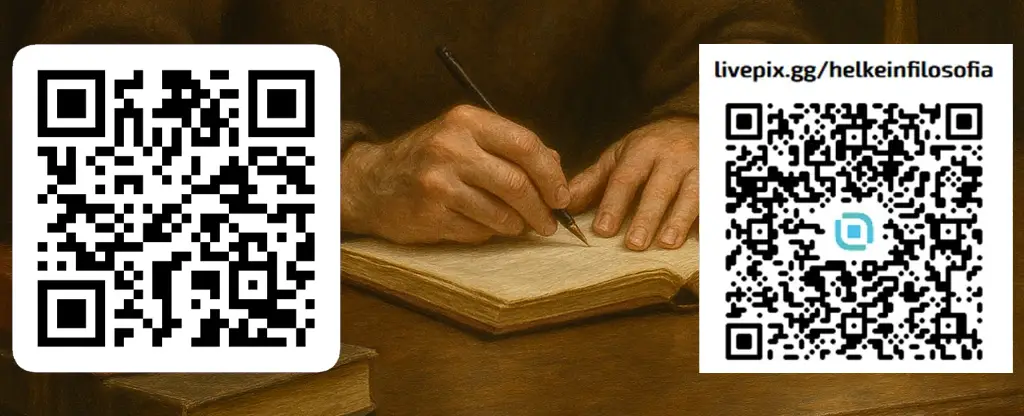Resenha de O Pesquisador Moderno: guia metodológico essencial para estudantes e autodidatas em filosofia e ciências humanas.
Pois também eu os tratarei com rigor, o meu olho não os poupará…
Ez. 8:18
- A instrução formal, o autodidata e o rigor metodológico
Todo estudo pretendente de relevância deve ser rigoroso; eis uma lei não escrita presente em todos os setores do conhecimento humano. Se quisermos saber algo, precisamos investigar o objeto mediante regras claras e reprodutíveis por qualquer um desejoso de verificar nossas conclusões; daí, discussões entre lógicos envolverem definições e fórmulas límpidas, a fim de cada passo poder ser examinado sem dificuldades. Esta discussão pode ser facilmente expandida para uma referente ao método científico, e não seria errado fazê-lo; no entanto, nosso objetivo por aqui é referir-nos, antes, em sentido amplo, às formas de pesquisa e expressão de resultados expostas no livro O Pesquisador Moderno.
Uma resenha deste livro não é desarrazoada para o estudante de filosofia, em especial o autodidata, pois este é, em maior ou menor grau, destituído de instrução formal. A instrução acadêmica não garante, por óbvio, a qualidade de trabalhos, mas é pouco inteligente ignorar seu facilitamento para uma superioridade investigativa e expositiva na medida da inserção do estudante num ambiente afeito, idealmente, ao rigor, enquanto o autodidata possui, comumente, apenas a si como instrutor. Os autodidatas puros são meramente lendários justamente entre os filósofos, pois mesmo os primeiros receberam a paidéia de algum mestre e, nisto, Tales foi, antes de ser filósofo, cientista; e, se isto não for suficiente, podemos consultar a Platão e notar a importância legada por este à instrução filosófica dada por um mestre. Não negamos a possibilidade de surgimento de um filósofo — ou qualquer outro estudioso — autodidata, mas não podemos nos apegar a isto, da mesma forma que não é saudável um cristão confiar a sua salvação à penitência final. O estudante de filosofia autodidata precisa, se carente de instrução formal, emulá-la mediante livros ou consultando professores e outros estudantes. Não há via de escape.
O livro O Pesquisador Moderno é útil por instruir o leitor sobretudo em dois aspectos: formas de pesquisa (avaliação de fontes e correlatos) e exposição de resultados (escrita e sua forma), ambos sob modelos mais ou menos rigorosos. Comentaremos, em prol da brevidade da resenha, alguns de seus temas.
- As virtudes do pesquisador
O primeiro capítulo de O Pesquisador Moderno refere-se à forma mais básica de pesquisa: o relatório, ou reunião organizada e documentada de informações advindas de fontes. Cada relatório depende, naturalmente, de pesquisas prévias, seja do relator mesmo ou de outras pessoas e, como se espera, deve ser redigido mediante regras, a fim de ser claro e inteligível. Esta disciplina advém, por sua vez, da história, devido aos relatórios serem registros de acontecimentos e, nisto, os estudos históricos servem de paradigma, em especial para o jornalista enquanto relata fatos – comumente presentes – de maneira popular sob a forma de notícias que podem ser, mais tarde, utilizadas como fontes num trabalho acadêmico.
Mesmo fora do âmbito acadêmico, esta transmissão de fatos ocorre o tempo todo em todas as áreas, mas, pela nossa ser especificamente filosófica, devemos indicar que os filósofos sempre trabalham com exemplos concretos enquanto fundamentos para suas especulações e isto sempre envolve, de forma ou outra, um relato (ou, aqui, descrição) preciso de um evento, seja perscrutado diretamente ou apenas aceite quando vindo de mãos (supostamente) confiáveis – e voltamos à dicotomia já exposta. Neste sentido, considerando o relator, ele deve conservar dois aspectos metodológicos para a relevância de sua contribuição: a) os resultados de sua pesquisa quando tratam de fatos antes desconhecidos e b) os princípios metodológicos que conferem intelecção aos dados.[1] Análogo ao dito por tantos filósofos, feito Kant, o conhecimento não é constituído de um acúmulo de informações, mas de um conjunto delas concatenadamente organizado; se quisermos ir mais longe, isto jaz incluso na sentença onde Heráclito afirma que a mera coletânea de informações não produz o conhecimento (“πολυμαθιή νόον εχειν ου διδασκει”).
Daí, Barzun e Graff enunciam seis virtudes enquanto hábitos necessários à consecução de uma boa pesquisa:
Precisão. – O pesquisador deve ser alérgico a imprecisões; uma das grandes chagas da filosofia é a profusão de ambigüidades e metáforas, passando-se por descrições unívocas, de forma ao leitor pensar esclarecer algo permanentemente obscuro. E se isto importa no conteúdo, ainda mais na forma, pois paráfrases soltas e citações destituídas de fonte são virtualmente inverificáveis; nos termos dos autores: “[…] treine-se para lembrar nomes, datas e títulos com precisão. Nunca diga para si mesmo ou para outra pessoa: ‘está naquele livro – agora esqueci o título, mas capa verde.’”[2] Isto deve ser estampilhado na mente, pois citações “soltas” aos moldes acima não são apenas sinal de falta de educação intelectual – ou uma forma de preguiça – mas um desrespeito com os leitores à medida que não poderão considerar os seus resultados fiáveis.
Ordem. – Há pessoas cujo estilo pode ser sistemático ou assistemático dependendo de sua forma expositiva; todavia, os trabalhos mais rigorosos são sempre sistemáticos sob risco de ininteligibilidade – e é por isto que os comentários acadêmicos de Nietzsche, por exemplo, não são redigidos sob forma aforismática. Na mesma clave, uma pesquisa desorganizada está fadada a perder os seus detalhes (e o seu rigor) à medida da confusão psicológica causada por uma massa de dados amontoados. Devemos considerar, nesta virtude, que uma mente desorganizada não produz material organizado, e o mal pensado não pode ser, senão, mal expresso – e por isto tantos autores, feito Sertillanges e Hugo de S. Vitor, recomendam a meditação de temas estudados.
Lógica. – Isto nos leva à aplicação de uma lógica ao menos informal na prática da pesquisa, pois os dados precisamente expostos ordenadamente precisam obedecer a regras inferenciais quando inclusos em argumentos. Porém, a principal preocupação dos autores de O Pesquisador Moderno é sua “aplicação pronta e prática às perplexidades da busca de fontes”[3] e, nisto, o hábito de localizar facilmente o desejado em, por exemplo, dicionários, glossários, bibliotecas e outros lugares necessários à procura de subsídios.
Honestidade. – “Noutros lugares, a honestidade pode ser a melhor política, mas na investigação é a única.”[4] Muitos autores costumam esquecer-se disto, como os expostos por E. Michael Jones em seu Modernos Degenerados, e por isto há tantas pesquisas lotadas de fontes colhidas com cherry picking.[5] Esta prática abre um grande “buraco” metodológico pronto para ser explorado por adversários, e é isto o comumente acontecido em âmbitos acalorados, qual a pronta resposta de O Delírio de Dawkins contra o livro Deus: um Delírio. Mas uma pesquisa desonesta, antes de ser – e se for – desmascarada, causa danos indescritíveis e, mesmo após sua refutação, suas conclusões podem continuar sendo creditadas por ignorância, como a teoria malthusiana da superpopulação. O pesquisador deve, portanto, ser maximamente honesto, pois a sua proposta é ser uma fonte confiável para a busca da verdade; daí, “[…] o pesquisador é a pessoa em que confiamos para mapeá-la [a realidade]. A precisão sobre detalhes neutros tem pouco valor em comparação com a honestidade sobre detalhes significativos”.
Autoconsciência. – Além de ser apenas honesto, é preciso ser autocrítico a fim de garantir uma objetividade científica mediante a eliminação de imprecisões e preconceitos que em nada contribuem para uma boa exposição. O pesquisador é, assim, convocado a explicitar os seus pressupostos e esclarecer os seus critérios de julgamento, para o leitor poder avaliar a validade das suas interpretações. A metáfora do vidro imperfeito – que jamais reflete fielmente – reforça a ideia de todo olhar impor limitações e falhas perceptivas, exigindo um contínuo esforço a fim de minimizar vieses.
Imaginação. – Por fim, a imaginação é necessária enquanto a capacidade de articular lacunas, projetar hipóteses e conectar dados dispersos, i.e., um recurso necessário à organização da pesquisa. Devemos, por exemplo, imaginar o tipo de dado desejado ou a maneira como nossas hipóteses podem ser aperfeiçoadas ou refutadas; neste sentido, a imaginação pode ser tomada enquanto forma de estimativa ou precaução metodológica.
- Delimitação temática.
O Xadrez é famoso por ser um jogo complexo; é dito que, após quatro movimentos (dois de cada lado), o número de posições possíveis se aproxima de duzentas mil e, considerando quatro de cada lado, temos quase trezentos bilhões. Não é diferente com pesquisas de teor filosófico, sejam artigos ou livros: cada movimento adiciona complexidade e, com isto, multiplicam-se as possibilidades e os problemas. No entanto, como bem sabem os lógicos, quanto mais amplo um conceito, menor sua especificação e, na mesma clave, pesquisas sobre tudo costumam dizer nada ou, noutros termos, a multiplicidade temática tende à superficialidade. Nisto, o pesquisador consciente precisa delimitar seu tema para poder tratá-lo com precisão e robustez e, mesmo desejando “resolver” ou expor grandes questões, fá-lo-á mediante uma sucessão de trabalhos excelentes e não com um de qualidade duvidosa.
Barzun e Graff propõem[6] um corpo de aspectos a serem atentados num trabalho: se ele é verdadeiro, confiável, completo, claro, ordenado, inteligível e memorável; toda metodologia de pesquisa serve para satisfazer tais requisitos, e sua consecução deve ser conferida não apenas na concepção de um tema a ser tratado, mas também em sua conclusão. Se o tema não estiver delimitado, não poderemos julgar a completude de sua exposição e, por conseguinte, nem sua fiabilidade, clareza, etc.
A proposta de O Pesquisador Moderno, para delimitar um tema de pesquisa, é tomá-lo primeiro amplamente e depois precisá-lo através de rascunhos.[7] Este processo pode, por óbvio, encetar mudanças temáticas, como ocorrido com Voegelin e seu História das Idéias Políticas em oito volumes cujo plano original previa apenas um. Definido precisamente o tema a tratar, é necessário delimitar seu espaço e detalhamento adequados; não podemos, por exemplo, explicar um livro de quatrocentas páginas numa resenha de apenas dez sem sacrificar seu detalhamento, da mesma forma que a máxima atenção a isto, visando um esgotamento temático, pode facilmente produzir obras em vários tomos – feito o História de Roma (Römische Geschichte) de Theodor Mommsen, encontrado completo em seis volumes ou compilado em apenas um.
Não obstante, os autores apontam como um tema bem delimitado, mesmo detalhado, fica ininteligível sem ordem; percebemos isto ao toparmos com trabalhos onde os assuntos são “pulados” entre si. O exemplo do livro consiste num autor que “pula” da lenda da fundação de Roma para o assassínio de César; nós podemos apontar uma boa quantia de análogos filosóficos, mas nos contentaremos com poucos saltos: de temas epistemológicos para Deus, da análise antropológica para os fundamentos do cosmo e de um exame histórico-psicológico para uma ontologia.[8] Tais temas podem, claro, serem unidos por – talvez longas – “pontes”; no entanto, seu “salto” é duplamente vicioso, pois trai tanto o leitor quanto a lógica. Importa, antes, a seguinte máxima: o trabalho, bem aquilatado, não pode deixar sobrar “nenhum problema sem resposta dentro desse escopo, mesmo tendo em vista as muitas questões que poderiam ser levantadas fora dele”.[9] Em filosofia, há mais valor num pequeno e robusto trabalho sobre o significado de “ente” em Aristóteles do que quatrocentas páginas onde um autor visa responder, porcamente, todas as questões humanas. Daí a importância de lembrar o seguinte:
“Ainda que seja dolorosa, a delimitação do assunto tem uma vantagem – e este é um pensamento em que o pesquisador fatigado, lutando com notas e idéias como quem enche um colchão de penas, pode encontrar conforto: um escritor não pode “contar tudo”. Ninguém deseja que ele o faça.”[10]
- Reunião Bibliográfica
É materialmente impossível iniciar um novo empreendimento intelectual sem consultar bibliografia prévia; isto é claro para o estudante de filosofia, pois sua matéria o força a conhecer ao menos os rudimentos de dois mil anos de história da matéria, de maneira a qualquer contribuição robusta ser feita, sempre, sob os passos de antecessores diretos ou indiretos. Contudo, a bibliografia disponível pode assustar por seu volume, exigindo critérios de seleção. A indicação de O Pesquisador Moderno é procurar tematicamente o desejado em bibliotecas; podemos entender isto, na realidade do estudante de filosofia, como a pesquisa de artigos, também tematicamente após a reunião de bibliografia primária já conhecida, em coletâneas de comentadores e artigos especializados em agregadores, feito o JSTOR e SCIELO. Nisto, o desejoso de estudar a alma em Platão precisará, mais ou menos nesta ordem, da fonte primária, de alguns livros de comentadores conhecidos – Reale, Erler, Szlezák, Krämer, Taylor, etc. – e artigos diversos esmiuçando a “alma platônica” sob seus vários aspectos. Após isto, para filtrar o desejado, restará ler, mesmo superficialmente, cada material recolhido a fim de distinguir o essencial utilizado na exposição principal e o acidental enquanto complemento. Este é o processo básico de pesquisa bibliográfica e pode ser estendido e precisado conforme necessidade – desde a escrita de um ensaio introdutório até o mapeamento do status quaestionis de um tema contemporâneo.
- Anotações
Trabalhos não são constituídos apenas de material transcrito das fontes, mas de assuntos repensados conforme o já aprendido; este processo de remanejamento que torna o pensamento imbricado no texto algo vivo é feito mediante anotações do visto no corpus recolhido e, neste sentido, notas servem a duplo propósito: registro mnemônico e intelecção autoral de materiais. No primeiro, gravamos o necessário na memória; no segundo, utilizamos o introjetado para expressão “em nossos próprios termos”; este remanejamento inteligente é chamado, por Bernard Lonergan, de Insight. Os autores de O Pesquisador Moderno se preocupam em tornar as notas rapidamente acessíveis para uso em mais de um trabalho e, neste caso, estamos falando de organizar cadernos, fichários e, em nosso tempo, arquivos digitais (docx, pdf) – não descartamos, por óbvio, uma combinação de ambos, como citações diretas postas num arquivo digital e pensamentos originais num caderno, a fim de evitar o uso excessivo do computador nos termos de nosso A Demência Digital e o Ensino da Filosofia.
A fim de aconselhar sobre a suficiência da quantia de notas, os autores apontam a seguinte noção: “estou simplesmente fazendo o trabalho de um monge copista, ou estou assimilando conhecimento novo e reorganizando-o com meus próprios pensamentos?”.[11] A primeira categoria é, evidentemente, o trabalho de registrar citações diretas; isto deve ser feito nos pontos nevrálgicos de um livro e, muito especialmente, os dignos de serem decorados. A segunda consiste no trabalho de repensar – ou, ao menos, parafrasear – enquanto aprende o que está dito numa obra; aqui, enquanto nota, devemos ser algo sintéticos, transformando nosso caderno num index mnemônico e não em nosso próprio pensamento exaustivamente registrado, algo destinado ao resultado de uma pesquisa e não ao seu rascunho.
Este tema nos leva diretamente ao tema da exposição de resultados ou, essencialmente, escrita.
- A Escrita e o Público
Todo escrito tem um público-alvo, sem o qual sua forma perde o sentido. Não é coerente endereçar a um público inculto textos lotados de jargões técnicos e um vocabulário especializado da mesma maneira que o leitor erudito desprezará um escrito cujo autor o trata como uma criança. Devemos abandonar, portanto, a ilusão de precisão universalmente acessível: há temas naturalmente restritos e cuja qualidade jaz atrelada a uma linguagem acessível para poucos, de forma a jargões ideológicos da cepa “se pessoa simples X não entende sua pesquisa, então ela não serve” não passam de um estado patológico de negação da realidade.
Textos filosóficos podem ser tanto populares ou escolásticos,[12] com os primeiros voltados ao público instruído em geral, e os segundos a pessoas especializadas – digo público instruído em geral pois, como outras matérias de teor especulativo puro, a filosofia é naturalmente acessível apenas após alguma formação pessoal; jargões do tipo “filosofia para todos”, “filosofia para crianças” (este um óbvio oximoro) e “todos são filósofos” são apenas figuras de linguagem ou propaganda. Livros de introdução à filosofia, feito o Convite de Enrico Berti, viram o primeiro público; o Estrutura e Ser, de Lorenz Puntel, o segundo; e o Filosofia e Cosmovisão, de Mário Ferreira dos Santos, ao tentar agradar a ambos, falha duplamente.
Entretanto, um escrito técnico não deve ser essencialmente inacessível; identificado seu leitor, o texto deve ser inteligível “apenas com um esforço normal de atenção”,[13] supondo uma escrita clara a mesmo pessoas “fora do escopo” visado conseguirem “ler” o que foi dito – e isto não implica, como explicamos em O que torna um texto filosófico “difícil”?, compreender o filosofema expresso. Daí a sentença dos autores de O Pesquisador Moderno: “Essas circunstâncias impõem ao escritor um duplo dever. Ele deve tanto escrever para os colegas mais próximos, empregadores e outro público definido, quanto quitar suas obrigações com o “leitor universal”.”[14]
Um texto claro é materialmente impossível senão como resultado da reescrita e revisão de um rascunho; escrever “significa reescrever”, dizem Barzun e Graff, e estão plenamente corretos. E não tratamos, por óbvio, de um escrito gramaticalmente correto, pois é plenamente possível – e, em verdade, o comum – primores gramaticais escreverem de maneira abstrusamente ininteligível. Podemos tomar, em prol da facilidade, um exemplo literário e apontarmos como o livro A Casa Grande de Romarigães, de Aquilino Ribeiro, não contém – ao menos em abundância – erros gramaticais, mas seu léxico excessivo o torna obscuro até para um autor de dicionários. O mesmo pode ocorrer em livros e artigos filosóficos onde o autor despeja terminologia técnica e reprime seu senso das proporções. É imperativo evitarmos o “vício” de usarmos todas as palavras que conhecemos a fim de expressar alguma erudição – e isto de forma alguma significa escrever vulgarmente. É compreensível um texto filosófico não conter, por sua própria natureza, beleza literária senão acidentalmente; os diálogos platônicos são belos, mas diferem da Ilíada, e por tal beleza estará próxima da impossibilidade devido à necessidade de expressar o desejado mais claramente possível, mesmo mediante o sacrifício da estilística. Mas tanto o texto belamente escrito, como A Presença Total, de Louis Lavelle, quanto a Crítica da Razão Pura, de Immanuel Kant, conservam a qualidade da clareza, sendo legíveis (e não inteligíveis) até para um leitor inadequado – qual exposto logo acima.
Os autores de O Pesquisador Moderno apontam alguns problemas notórios: “repetições, ilogicidade, argumentos circulares, tautologias […] clichês até a ambigüidade dos pronomes com múltiplos antecedentes.”[15] Podemos facilitar seu comentário os distinguindo em duas vertentes: problemas lógicos e estilísticos. Os problemas lógicos ocorrem num texto cujos argumentos são inferencialmente inválidos. Nem todo escrito filosófico é, obviamente, argumentativo, tal casos onde se quer meramente expor o pensamento de um terceiro; contudo, todos eles conterão argumentos enquanto, mesmo numa exposição simples, devemos apresentar a argumentação de um autor, ao menos neste formato: “Platão crê nisto, pois, considerando os casos X e então os Y, conclui-se claramente que Z”. São, portanto, tropeços facilmente corrigíveis com o estudo de um pouco de lógica informal e atenção para não expormos como se fôssemos geradores de lero-lero. Os problemas estilísticos, quando não sanados de antemão por uma boa cultura literária, podem ser resolvidos por dupla via: livros dedicados ao assunto e leitores críticos aptos a apontar erros. Muitos textos de filosofia são enfadonhos não devido a seu conteúdo, mas à sua forma, pois leitor algum suporta uma série de repetições desarrazoadas – seja de explicações ou de palavras, como uma grande profusão de “que” –, cacófatos, anacolutos, gírias, clichês e estrangeirismos, feito o tão difundido – e provinciano – anglicismo. Devemos, neste ponto, ignorar o ditado de “não julgar algo pela aparência”, em prol do “a primeira impressão é a permanente”, pois, como qualquer um dotado de alguma instrução retórica sabe, é possível descrever belamente o feio. Se quisermos ser bem entendidos, urge cultivar expressões claras e concisas – mesmo se o caso exigir seu aparecimento apenas no fim de longas explicações. Este conselho é especial devido a sermos treinados para a prolixidade quando ensinados a escrever redações cujo conteúdo deve preencher determinado número de linhas; ser prolixo, no bom sentido, significa explicar longa e não enfadonhamente. Acerca disto, é prudente escutar Albalat:
“A segunda qualidade essencial do bom estilo é a concisão, isto é, a arte encerrar um pensamento no menor número de palavras possível. Uma grande causa de fraqueza literária, o que tira ao estilo a sua força e lhe tira todo o seu efeito, é a difusão. Nunca nos cativam frases em que há palavras a mais. Um crítico disse: “A clareza é o verniz dos mestres”. Ora, a clareza é o brilho que a concisão produz. Não consiste mais em frases curtas, do que em frases longas. Cada qual tem a sua medida; o molde pouco importa, ou seja a frase curta dos retratos de La Bruyère, ou sejam os belos períodos dos discursos de Bossuet. A concisão é a arte de se restringir, de fazer ressaltar a idéia, de condensar os elementos de uma frase numa forma incisiva e concreta. É o horror ao estilo frouxo. A eloquência não está na quantidade das coisas ditas, mas na sua intensidade.
A falta de concisão é o defeito geral daqueles que começam a escrever e que não tomam cuidado. As três quartas partes dos autores contentam-se com uma forma que supõem definitiva e que se refaz por si própria na leitura.”[16]
Podemos apontar, no mesmo tema, o problema das imagens nos escritos filosóficos e, muito em especial, no de leigos. Os autores de O Pesquisador Moderno apontam como o mau uso de “substantivos concretos”[17] atrapalha tanto a leitura quanto a compreensão, pois inserem, num texto cujo objetivo a clareza, a necessidade de “decifrar” o expresso pelo autor; isto, no caso da filosofia, insere ambigüidades comumente responsáveis pela ininteligibilidade geral das teses. Isto pode ser facilmente atribuído ao uso de jargões: “absoluto”, “[x] é a estrutura da realidade”, “[y] é como [referência literária desfocada]” e metonímias viciosas – pensamento metonímico – devem ser extirpadas dos textos a fim de “falar de alguma coisa” em vez de jogar palavras no ar. Aqui, vale o conselho de Schopenhauer:
Essas pessoas apresentam o que têm a dizer em fórmulas forçadas, difíceis, com neologismos e frases prolixas […] ora lançam os pensamentos de modo fragmentário, em sentenças curtas, ambíguas e paradoxais, que parecem significar muito mais do que dizem (ótimos exemplos desse procedimento são oferecidos pelos escritos de filosofia natural de Schelling); ora os apresentam numa torrente de palavras, com a mais insuportável prolixidade, como se fossem necessários verdadeiros milagres para tornar compreensível o sentido profundo de suas idéias […] Não há nada mais fácil do que escrever de tal maneira que ninguém entenda; em compensação, nada mais difícil do que expressar pensamentos significativos de modo que todos os compreendam. O ininteligível é parente do insensato, e sem dúvida é infinitamente mais provável que ele esconda uma mistificação do que uma intuição profunda.”[18]
- Uma resenha incompleta
Esta resenha de O Pesquisador Moderno é, eminentemente, incompleta. Um comentário aprofundado e algo crítico dos temas do livro exigiria mais páginas e se tornaria, no mesmo instante, supérflua, pois não diria mais do que o leitor saberia lendo o livro. Nisto, deixamos de expor temas como a verificação dos fatos apresentados numa pesquisa, algo muito caro num tempo afeito ao jargão anglicista “fake news” (pois nos esquecemos, obviamente, do clássico “notícias falsas” ou, meramente, “lorotas”), a classificação de evidências, algo também importante devido à excessiva importância concedida a vídeos de “influenciadores” em vez de textos rigorosamente referenciados, a importância da revisão das fontes, a maneira correta de citar e traduzir, e muitos outros tópicos de interesse capital ao estudante cujo objetivo é encetar uma pesquisa séria e rigorosa.
No entanto, não devemos trair-nos e escrever uma resenha “completa” cujo tamanho passe a ilusão de poder substituir o livro resenhado. Não é segredo que alunos costumam ler resumos de obras a fim de falar delas em redações e este vício perdura, infelizmente, até a adultez. Por outro lado, a brevidade deste texto é, cremos, suficiente para expor o peso deste livro para uma boa formação, de maneira a podermos utilizar, jocosamente, o clichê “o que separa os homens dos meninos” para distinguir quem se preocupa e quem ignora os conselhos contidos neste livro. Leitores afeitos à literatura costumam notar facilmente quando um escritor não sabe escrever, e professores de filosofia se incomodam ao notar seus alunos enrolando em vez de expor claramente um tema tratado em aula; é impossível esconder nossa inaptidão de um especialista. Devemos considerar nossos textos de filosofia como aptos à leitura por nossos mestres e nos prepararmos para aceitar suas críticas. Nisto, é saudável pensar: “O que o Szlezák pensaria do meu texto sobre Platão?”, ou “Prauss gostaria da minha crítica a Kant?”. O peso do “jugo da qualidade” parece, considerando estes exemplos, muito pesado. Por outro lado, é vicioso ajuizarmos nosso valor olhando para baixo e para os lados. Tomando uma analogia platônica, o modelo da República é celeste, e não terrestre – e daí sua perfeição. Apenas porcos olham apenas para baixo; nós devemos olhar para cima.
O livro pode ser adquirido aqui [use o cupom HELKEIN5 para mais desconto]:
Caso o leitor tenha aprendido algo com nossos textos, favor considerar uma doação via PIX , Cartão ou assinar nosso site para acesso ao conteúdo restrito e de maior qualidade. Sua contribuição nos motiva a continuar fornecendo filosofia de forma simples, mas não simplificada.
Notas
[1] O Pesquisador Moderno p.21
[2] O Pesquisador Moderno p.23
[3] O Pesquisador Moderno p.24
[4] O Pesquisador Moderno p.25
[5] Ou falácia de evidência supressa.
[6] O Pesquisador Moderno p.27
[7] O Pesquisador Moderno p.28-9
[8] Respectivamente: escritos teológicos de baixa qualidade, análises existencialistas em geral, e uma súmula do percurso nietzschiano.
[9] O Pesquisador Moderno p.29
[10] O Pesquisador Moderno p.31
[11] O Pesquisador Moderno p.39
[12] Evito o uso do termo “acadêmico” pois nem todo escrito desta cepa advém de filósofos ligados a uma universidade e/ou são destinados ao público de lá.
[13] O Pesquisador Moderno p.44
[14] O Pesquisador Moderno p.43
[15] O Pesquisador Moderno p.48
[16] Antoine Albalat – A Arte de Escrever Ensinada em 20 Lições p.71
[17] O Pesquisador Moderno p.221
[18] Arthur Schopenhauer – A Arte de Escrever p.39