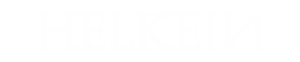Por Edward Feser
Tradução, notas e comentários de Helkein Filosofia
Immanuel Kant e Thomas Hobbes influenciaram, não obstante a distinção de suas abordagens, a moral e a política moderna, em especial aquela referente ao liberalismo. O segundo sustenta o que parece uma concepção simples e deprimente do estado natural do homem; a sociedade seria mero resultado de um egoísmo calculista. O primeiro, por sua vez, aparenta comprometer-se com um ponto de vista que trata o homem como elevado e inspirador; a sociedade seria, aqui, fundada no respeito à dignidade humana.
Os oponentes contemporâneos da pena capital freqüentemente apelam para uma noção kantiana de dignidade humana, crendo que isto implique uma oposição à pena de morte; nisto, há a aparência de que a defesa de tal penalidade convenha, antes, à realpolitik de tons hobbesianos. No entanto, considerando as opiniões de Hobbes e Kant, verificamos que ocorre quase o oposto: Kant é entusiasta e até excessivamente favorável à pena de morte, enquanto Hobbes, se não totalmente contrário, lhe é, no mínimo, avesso.
Isto não é surpresa, pois cada uma destas perspectivas sobre a pena de morte se encaixam, naturalmente, com as premissas fixadas tanto por Kant quanto por Hobbes e nos ensina, creio, algo acerca da noção de natureza humana sustentada, pelo menos implicitamente, pelos oponentes da pena capital – e, de fato, também a de muitos cidadãos de sociedades democrático-liberais ocidentais modernas em geral. O homem moderno gosta de crer-se um benevolente kantiano, quando, na verdade, aproxima-se da pragmática hobbesiana, hostil à pena capital e que não reflete uma concepção robusta de justiça – mas seu contrário.
Concepção hobbesiana da pena de morte
Conforme Hobbes, o homem em seu estado natural é essencialmente amoral. Todos são livres para o que quiserem, não pela ausência de um imperativo que os obrigue a permitir que outros façam o mesmo, mas por não haver qualquer moral. Aquele que encontra felicidade na poesia à luz da lua não encontra impedimentos à sua atividade; se outro é feliz espancando poetas, também nada o impede. Não há fato objetivo referente às preferências; tudo o que há é o fato de alguns preferirem isto ou aquilo e, freqüentemente, coisas opostas.
É por isto que Hobbes vê o estado de natureza[1] como uma “uma guerra de todos contra todos” onde a vida é “solitária, miserável, sórdida, brutal e curta”.[2] Para evitar essa triste sina, indivíduos racionais concordaram em deixar seu estado natural e, renunciando à liberdade irrestrita, consentiram em ser governados por um soberano; somente a partir deste ponto que as regras morais passam a existir – sendo, portanto, quaisquer leis que o soberano decrete, sendo obrigatórias na medida do consentimento dos governados.
É famosa a conclusão hobbesiana de que sua tese justifica um governo absolutista; todavia, o que nos interessa é que, para Hobbes, nosso “ponto zero” é a liberdade irrestrita e abrir mão dela é racional apenas devido ao caso contrário nos tolher qualquer liberdade mediante escravidão ou morte. Nos forçamos a seguir regras que limitem nossa liberdade somente na proporção de nosso consentimento.
Somos levados, assim, à concepção hobbesiana de pena capital. Não surpreende, visto seu absolutismo, que ele não negue ao soberano o recurso à pena de morte para fazer valer a ler. No entanto, é notório que, para Hobbes, isto não implique no consentimento do criminoso condenado. Lemos, no capítulo 21 do Leviatã, o seguinte:
Já no capítulo XIV mostrei que os pactos no sentido de cada um se abster de defender o seu próprio corpo são nulos. Portanto, se o soberano ordenar a alguém (mesmo que justamente condenado) que se mate, se fira ou se mutile a si mesmo, ou que não resista aos que o atacarem, ou que se abstenha de usar os alimentos, o ar, os medicamentos, ou qualquer outra coisa sem a qual não poderá viver, esse alguém tem a liberdade de desobedecer. […] Mas caso um grande número de homens em conjunto tenha já resistido injustamente ao poder soberano, ou tenha cometido algum crime capital, pelo qual cada um deles pode esperar a morte, terão eles ou não a liberdade de se unirem e se ajudarem e defenderem uns aos outros? Certamente que a têm: porque se limitam a defender as suas vidas, o que tanto o culpado como o inocente podem fazer. Sem dúvida, havia injustiça na primeira falta ao seu dever; mas o ato de pegar em armas subseqüente a essa primeira falta, embora seja para manter o que fizeram, não constitui um novo ato injusto.[3]
A tese faz sentido, considerada à luz do fundamento da moral segundo Hobbes. Se o filósofo prega a perda da liberdade irrestrita apenas mediante o consentimento de sua restrição – e se a pessoa puder, racionalmente, consentir em perdê-la para evitar a morte –, então fica clara a conclusão de que não posso perdê-la para preservar minha própria vida, mesmo sob consentimento, pois, novamente, é precisamente o desejo de preservar a vida que consiste na única razão pela qual alguém pode prescindir da liberdade.
Como observado por Leo Strauss em Direito Natural e História, isto cria uma tensão no sistema hobbesiano; se há casos em que é justo o soberano punir alguém com a morte, como resistir-lhe justamente? Ou, se for possível resistir justamente, como pode ser justo que o soberano me inflija esta pena? Responde Strauss: “Este conflito foi resolvido em conformidade com o espírito, se bem que contra a letra, da obra de Hobbes por Beccaria, que inferiu da primazia absoluta do direito de preservação de si a necessidade de abolição da pena de morte.”[4] A moral hobbesiana implica, de fato, nesta conclusão, mesmo que seu autor tenha percorrido apenas metade do caminho.
Strauss faz outra observação capital: a explicação hobbesiana funciona apenas se a pena capital for o pior destino possível. Mas, “Em muitos casos o medo da morte violenta acabava por constituir uma força menos poderosa do que o medo do fogo dos infernos ou do que o medo de Deus.”[5] Este medo poderia, naturalmente, verter toda a questão, mesmo para os habitantes do estado de natureza hobbesiano. Se as pessoas temessem antes a Deus do que à condenação estatal, resistiriam ao soberano muito além do permitido por Hobbes, escolhendo ofender ao estado em vez de Deus. Ou, num estado de espírito penitente, se submeteriam, em prol de uma recompensa futura, a punições como a escravidão e a execução. Para que suas teses morais e políticas funcionem, Hobbes exige um contexto social secular e imanente, pois é o único em que o medo da morte é mais vívido que o da condenação eterna[6] e, assim, pode servir à função prescrita pelo filósofo. Strauss explica:
Isso implica que todo o esquema sugerido por Hobbes exige para funcionar o enfraquecimento, ou, antes, a eliminação, do medo dos poderes invisíveis. Uma mudança tão radical de orientação só pode consumar-se com o desencantamento do mundo, com a difusão do conhecimento científico ou com o esclarecimento das massas. A doutrina de Hobbes é a primeira que de forma necessária e inequívoca indica a sociedade completamente “iluminada”, isto é, não religiosa ou ateísta, como a solução do problema social ou político.[7]
É possível dizer, em suma, que o sistema ético-político de Hobbes implica numa posição que abole a pena capital devido ao seu radical individualismo secular. O filósofo sustenta que as limitações à liberdade do indivíduo justificam-se apenas se houver um consentimento; se ninguém consente em ser executado, a morte é o pior dos destinos.
Concepção kantiana da pena de morte
Kant considera que o fundamento da moral jaz no imperativo categórico, cuja segunda fórmula é a seguinte: “Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca // simplesmente como meio.”[8] A idéia é que os homens, enquanto racionais, dotados de intelecto e livre-arbítrio, têm, por natureza, uma autonomia ou autodeterminação ausente nos animais brutos, plantas e entidades inorgânicas. Quando tratamos pessoas como nada mais que recursos à realização de nossos próprios fins (da forma como trataríamos um ser irracional), deixamos de vê-las de maneira apropriada à sua natureza. Esta forma do imperativo categórico é considerada uma expressão da dignidade e do respeito que lhe devemos. A noção kantiana de “dignidade humana” foi utilizada, nas últimas décadas e, em especial, em certos contextos católicos, para criticar a pena capital, punições severas e humilhantes, e também a centralidade da idéia de retribuição na idéia de penalidade.
É interessante notar, porém, que o próprio Kant derivou conclusões opostas nestes pontos. Consideremos, por exemplo, seu tratamento do tópico das penas na Metafísica dos Costumes. Muitos sugerem, hoje, em nome do respeito humano, que a retribuição não é motivo para penas e, em vez disso, ela pode ser infligida apenas caso necessário para proteger a sociedade ou promover a reabilitação do infrator. Entretanto, eis a tese kantiana:
A pena judicial (poena forensis), distinta da pena natural (poena naturalis), mediante a qual o agravo se pune a si mesmo e que não é, de modo algum, tomada em conta pelo legislador, não pode nunca servir simplesmente de meio para fomentar um outro bem, seja em favor do próprio delinquente seja da sociedade civil, mas há de ser-lhe sempre infligida somente porque cometeu um crime; porque o homem não pode nunca ser tratado simplesmente como meio para os propósitos de outrem e confundido com os objectos do direito real, tratamento relativamente ao qual o protege a sua personalidade inata, se bem que possa, bem entendido, ser condenado a perder a personalidade civil. Deve ser considerado passível de punição mesmo antes de se poder pensar em retirar desta punição qualquer vantagem para si próprio ou para os seus concidadãos. A lei penal é um imperativo categórico e mal daquele que rasteja pelas sinuosidades do eudemonismo para encontrar algo que o exima da pena ou mesmo de parte dela mediante a vantagem que promete, de acordo com o provérbio farisaico: “É melhor morrer um homem a perecer todo um povo”; pois que se a justiça soçobra deixa de ter valor que os homens vivam sobre a terra.[9]
Note, em primeiro lugar, que Kant argumenta que punir alguém meramente pelo bem da sociedade (incluindo protegê-la do infrator) ou alguma utilidade disto derivada (feito a reabilitação do infrator) viola o imperativo categórico, pois trata a pessoa como meio e não fim. O único motivo penal conforme a natureza humana é dar-lhe o que merece, i.e., retribuição. Somente a partir daí podemos considerar a promoção do bem da sociedade ou do infrator.
Esta concepção do propósito da pena capital corresponde ao ensinamento católico tradicional, desde o Gênesis[10] até Sto. Tomás[11] e o Catecismo – pelo menos até onde deixado pelo Papa S. João Paulo II (ver “By Man Shall His Blood Be Shed”, meu livro em parceria com Joseph Bessette, para uma refutação da alegação de que S. João Paulo II mudou o ensinamento católico a respeito da pena de morte).
No entanto, a posição kantiana é ainda mais austera, descartando considerações acerca da misericórdia que, no catolicismo, contrabalanceiam a justiça. Conforme Kant, não devemos punir o infrator devido à retribuição, mas pelo dever mesmo: ele crê que o respeito pela dignidade humana não apenas permite que o estado inflija ao criminoso a justa pena, mas que ele é forçado a isto, pois considera decorrência precisa da dignidade humana – que inclui responsabilizar a pessoa e considerá-la digna de ser punida por uma má ação – imbricada nas exigências incondicionais do imperativo categórico. Mas quais penas devem ser infligidas? Kant responde assim:
Portanto: qualquer mal imerecido que causas a um outro no povo causa-lo a ti próprio; se o injurias é a ti próprio que injurias; se o roubas é a ti próprio que roubas; se o agrides é a ti próprio que agrides; se o matas é a ti próprio que matas. Só a lei de retribuição (ius talionis), mas, bem entendido, na condição de se efetuar perante a barra do tribunal (não no teu juízo privado), pode indicar de maneira precisa a qualidade e a quantidade da pena; todos os demais oscilam aqui e acolá e, porque se imiscuem outras considerações, não têm adequação ao veredicto da justiça pura e rigorosa.[12]
Isto é o chamado princípio de proporcionalidade, e a perspectiva kantiana corresponde, aqui, ao ensinamento católico tradicional, desde o Antigo Testamento até o Catecismo de S. João Paulo II. Eis um exemplo que ecoa o argumento de Kant de que, em última análise, é o infrator que inflige a si o que faz a outros; o Papa Pio XII ensina:
Aun en el caso de que se trate de la ejecución de un condenado a muerte, el Estado no dispone del derecho del individuo a la vida. Entonces está reservado al poder público privar al condenado del “bien” de la vida, en expiación de su falta, después de que, por su crimen, él se ha desposeído de su “derecho” a la vida.[13][14]
Kant também vai além do tradicional: não se trata de usar a proporcionalidade para determinar a pena, mas de retribuir de forma semelhante ao crime cometido. O filósofo observa, por exemplo, que “a sanção pecuniária em virtude de uma injúria verbal não tem qualquer relação com a ofensa, porque quem tem muito dinheiro pode permitir-se em alguma ocasião a injúria por mero divertimento”.[15] Em vez disto, diz:
[…] o melindre causado à honra de alguém poderia muito bem ser igualado pela mágoa do orgulho do outro: se se obrigasse este, por sentença e pelo Direito, não só a retratar-se publicamente mas também, por exemplo, a beijar a mão daquele, mesmo que ele seja de escalão social inferior. Do mesmo modo, se um notável violento, por ter agredido um cidadão de condição social inferior, mas inocente, fosse condenado não só à apresentação de desculpas mas também a uma detenção em isolamento e penosa, porque, com isso, para além do incómodo sofrido, também a vaidade do agente ficaria dolorosamente afetada, e, deste modo, através da humilhação o igual seria pertinentemente retribuído com o igual.[16]
Kant extrai da dignidade humana uma conclusão oposta à defendida por muitos. Afirma-se, freqüentemente, que é contrário à dignidade humana infligir punições severas ou humilhantes; mas Kant argumenta que, se o infrator trata os outros de forma severa ou humilhante, então merece o mesmo tratamento. Tratá-lo desta forma respeita sua dignidade enquanto agente livre e racional.
É por isto que Kant argumenta que a justiça exige que ladrões sejam forçados, como parte de sua pena, a trabalhar (333): uma vez que roubam de outro, se forem alimentados e abrigados às custas do estado, isto agravará a injustiça da apropriação de recursos. Embora hodiernamente se aceite que servidão penal é contrária ao respeito kantiano pela pessoa, Kant mesmo afirma que verdadeiro respeito exige, caso merecida, a servidão penal (e, aqui, o filósofo vai além do ensinamento católico, cuja posição sustenta que a servidão penal é teoricamente justificável, mas pragmaticamente impugnável por poder degenerar na escravidão, algo intrinsecamente imoral). Isto nos leva à posição kantiana acerca da pena capital; ele escreve:
Mas se matou, então tem de morrer. Não existe aqui qualquer sucedâneo que possa satisfazer a justiça. Não existe similitude entre uma vida, por mais penosa que seja, e a morte, portanto, tão-pouco existe igualdade entre o crime e a retribuição a não ser através da morte aplicada ao agente por via judicial, morte que, bem en tendido, deve ser isenta de qualquer mau tratamento que pudesse degradar monstruosamente a humanidade da pessoa a quem é infligida. – Mesmo que se dissolvesse a sociedade civil com o assentimento de todos os seus membros (por exemplo, se um povo que habita uma ilha decidisse separar-se e espalhar-se pelo mundo inteiro), teria antes que ser executado o último assassino que se encontrasse na prisão, para que a cada um aconteça aquilo que os seus actos merecem e o sangue derramado não seja da responsabilidade do povo que não exigiu este castigo: pois pode ser considerado como cúmplice desta violação pública da justiça.[17]
Ao sustentar a tese de que o princípio de proporcionalidade justifica a execução de assassinos, Kant ecoa o ensinamento católico tradicional, mas vai além dele quando afirma que a lei moral não apenas permite como exige que assassinos sejam executados. O filósofo acrescenta, ainda, observações que reforçam sua posição contrária a Hobbes; suponhamos que a lei permitisse que um assassino optasse, em vez da pena de morte, pela servidão. Kant comenta:
[…] afirmo que o homem de honra escolhe a morte, enquanto que o patife escolhe os trabalhos forçados; é isto que acarreta a natureza do espírito humano. Pois que o primeiro conhece algo que aprecia mais do que a própria vida: ou seja, a honra; o outro considera sempre preferível uma vida ignominiosa a simplesmente não existir (animam praeferre pudori. Juvenal). O primeiro é, pois, indiscutivelmente menos merecedor de castigo do que o outro…[18]
Para Hobbes, a morte é o pior dos males; para Kant, é a desonra. De acordo com o primeiro, a razão diz ao infrator prestes à execução que este deve evitá-la; conforme o segundo, diz para o infrator aceitar a execução pois, enquanto livre e racional, ele fez algo digno de merecê-la. No pensamento hobbesiano, não é injusto resistir à execução, mesmo merecendo-a; no kantiano, resistir à execução torna o infrator ainda mais digno dela.
Neste ponto Kant também ultrapassa as exigências do ensinamento católico e, de certa forma, se aproxima de Hobbes. Consideremos, por exemplo, o Bom Ladrão que, morrendo na cruz, diz a seu companheiro de crime: “Nós estamos na verdade justamente, porque recebemos o castigo que merecem as nossas acções, mas este não fez nenhum mal” (Lc. 23:41) – a este Cristo prometeu o paraíso. Ou, ainda, a versão original, de 1992, do Catecismo da Igreja Católica promulgado pelo Papa S. João Paulo II, que, após reafirmar a legitimidade, em princípio, da pena de morte para crimes graves, diz: “Quando esta pena é voluntariamente aceite pelo culpado, adquire valor de expiação.” (2266).
Hobbesianos disfarçados de kantianos
Como dito, muitos, em especial em círculos católicos, afirmam que a dignidade humana sob moldes kantianos exige a suavização da abordagem tradicional de penas severas e, em particular, da pena capital. No entanto, – ironicamente – o próprio Kant argumenta que o respeito à dignidade humana exige um tratamento ainda mais severo que o tradicional. Pode-se, por óbvio, argumentar contra Kant quando este se afasta da tradição; mas, feito Bessette e eu mostramos em nosso livro, argumento algum foi bem-sucedido.
Além disto, na medida em que enfatiza um horror pela morte e a forma como tal pena afronta a liberdade do infrator, os argumentos contrários à pena capital estão muito mais próximos de Hobbes do que de Kant; a retórica pode ser kantiana, mas a substância é hobbesiana. A segunda ironia ocorre quando os objetores são católicos. Hobbes era, claro, um inimigo da Igreja Católica, retratada no Leviatã como um “reino das trevas”. Os modernos não podem conceder aos modernistas católicos o que eles querem: nem Kant, pois suas teses sobre penas são modernas, mesmo com teor tradicional; e nem Hobbes, pois embora moderno, é oposto ao catolicismo.
Observação do Tradutor
A Igreja Católica modificou, em 2018, sua postura relativa à pena de morte; a posição atual é de sua inadmissibilidade frente à disposição de meios mais eficazes.
Bibliografia citada e/ou recomendada.
- Eric Weil – Filosofia Moral
- Immanuel Kant – Fundamentação da Metafísica dos Costumes
- Immanuel Kant – A Metafísica dos Costumes
- Jacques Maritain – O Homem e o Estado
- Leo Strauss – Direito Natural e História
- Olavo de Carvalho – O Jardim das Aflições
- Sto. Tomás de Aquino – Suma Contra os Gentios
- Thomas Hobbes – Leviatã
Caso o leitor tenha aprendido algo com nossos textos, favor considerar uma doação, via PIX [real] ou entrar em nosso canal no Telegram, no código QR correspondente. Sua contribuição nos motiva a continuar fornecendo filosofia de forma simples, mas não simplificada.
Notas:
[1] O estado de natureza hobbesiano, tanto quanto o rousseuniano, são questionados no livro Filosofia Moral, de Eric Weil. [N.T.]
[3] Tradução conforme a versão do Leviatã editado pela Editora Martins Fontes. [N.T.]
[4] Direito Natural e História p.170 [N.T.]
[5] Direito Natural e História p.170 [N.T.]
[6] Hobbes é, portanto, um dos pais não apenas do secularismo mas da idéia de ideologia, uma vez que para legislar como Deus, o Estado precisa substituí-lo. O tema da divinização do estado é tratado por Olavo de Carvalho em seu O Jardim das Aflições. Observa-se, ainda, que a “maldade” da pena de morte reside mais num medo do abismo desconhecido do pós-morte do que numa valorização da vida ou dignidade humana. [N.T.]
[7] Direito Natural e História p.171[N.T.]
[8] Fundamentação da Metafísica dos Costumes BA 66-7 [N.T.]
[9] A Metafísica dos Costumes 332 [N.T.]
[10] “Todo o que derramar o sangue humano, (será castigado) com a efusão do seu próprio sangue, porque o homem foi feito à imagem de Deus.” Gn. 9:6 [N.T.]
[11] A opinião tomista sobre a pena capital está na Suma Contra os Gentios, Livro III, Cap. CXLVI [N.T.]
[12] A Metafísica dos Costumes 332 [N.T.]
[13] Los límites morales de los métodos médicos, Domingo 14 de septiembre de 1952, 28 [N.T.]
[14] O argumento papal é semelhante ao de Jaques Maritain: “No entanto, até mesmo so direitos absolutamente inalienáveis são passíveis de limitação, senão quanto à sua posse, pelo menos quanto ao seu exercício. Seja, pois, minha terceira observação a que se refere à distinção entre a posse e o exercício do direito. Mesmo quanto aos direitos absolutamente inalienáveis, devemos distinguir entre a posse e o exercício – ficando o último sujeito a condições e limitações ditadas, em cada caso, pela justiça. Se um criminoso pode ser condenado, com justiça, a morrer, é porque, com seu crime, despojou-se a si mesmo, não digamos do direito a viver, mas da possibilidade de afirmar com justiça esse direito. Ele separou-se moralmente da comunidade humana, precisamente quanto ao uso desse direito fundamental e “inalienável”, que a punição que se lhe inflige o priva exatamente de exercer.” Jacques Maritain – O Homem e o Estado (Agir, 1956) p.120 [N.T.]
[15] A Metafísica dos Costumes 332 [N.T.]
[16] A Metafísica dos Costumes 333 [N.T.]
[17] A Metafísica dos Costumes 333 [N.T.]
[18] A Metafísica dos Costumes 334 [N.T.]