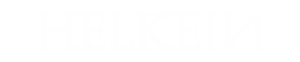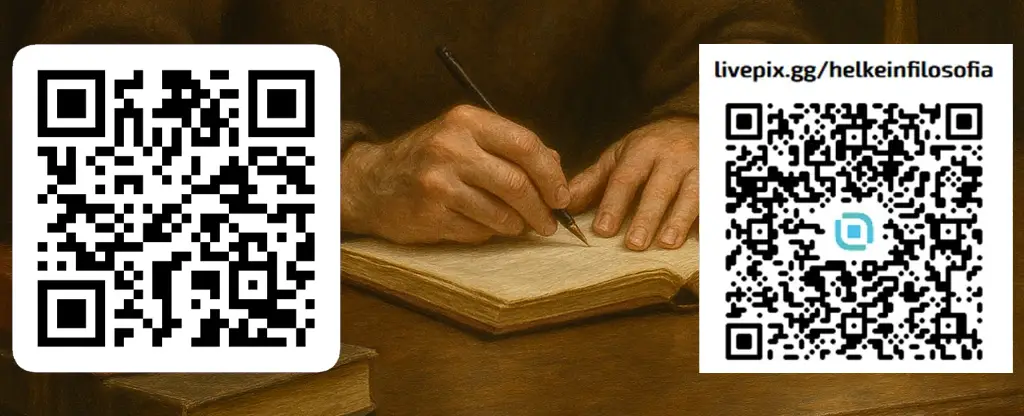- O Declínio
[…] com os estóicos, estamos em uma perspectiva materialística, ou melhor, corporeística: ‘os estóicos […] chamam de ser apenas os corpos, porque é próprio do ser agir e sofrer’.
Roberto Radice – Estoicismo p.34-35
É possível afirmar que a filosofia sofreu, poucos anos após a morte de Aristóteles, um declínio. O platonismo acadêmico tornou-se excessivamente matematizante, os peripatéticos decaíram numa espécie de fragmentação científica[1] e, em pouco tempo, o estoicismo e o epicurismo se tornaram as escolas de maior relevância, seguidos pelo ceticismo e formas de ecletismo. O tempo das grandes sínteses foi sepultado no esquife do Estagirita, e a filosofia declinou
Contudo, o que significa afirmar um declínio na filosofia? Nos referimos à presença de pelo menos três aspectos: desagregação, despotenciação e recrudescimento. O primeiro aspecto deve ser compreendido de modo análogo à decadência em sentido nietzschiano: chamamos desagregado ao elemento cuja unidade se esvaiu e jaz agora em estado caótico — feito um cadáver em decomposição após a separação entre a alma e o corpo. A filosofia pós-aristotélica[2] assumiu caráter anti-metafísico e, com isso, os elementos antes unificados num sistema coerente (seja nas idéias platônicas ou nas categorias aristotélicas) foram desagregados num mundo dominado pelo múltiplo.[3] Nesse sentido, a filosofia sofreu um declínio teórico e quase retornou aos pré-socráticos.[4] O segundo aspecto refere-se à perda das noções potenciais do espírito humano. Sobretudo no ceticismo, creu-se desde a impossibilidade até a minimização da capacidade humana de conhecer e, com isto, o mapeamento teórico da cognição — i.e., os avanços gnosiológicos de Platão e Aristóteles — foi praticamente anulado em favor de teorias supostamente “adequadas” à nova situação.[5] O auge dessa despotenciação na filosofia antiga foi o probabilismo.[6] O terceiro aspecto trata da perda do poder explicativo da filosofia. As novas escolas de filosofia danificaram sobretudo a metafísica e a gnosiologia, abandonando a pretensão de explicações últimas do cosmo e também a capacidade de alcançar um conhecimento certo, de nível matemático.[7] Esses três aspectos não se aplicam de modo estrito e uniforme a todas as escolas filosóficas referidas — especialmente o último —, mas sua presença gradativa constitui um traço distintivo da filosofia helenística.
Com as duas maiores disciplinas teóricas da filosofia em evidente declínio, a filosofia foi sendo reduzida, lentamente, a uma “arte do bem viver”, aqui mesmo, na terra, enquanto, poucos séculos antes, Sócrates a via como preparação para a morte e, Platão, a ascensão dionisíaca da alma imortal.[8] Mas não havia, nesse tempo materialista,[9] um alicerce teórico robusto para a imortalidade; importava, antes, conquistar virtudes a fim de “sobreviver” aos males cotidianos. A filosofia tornou-se, sobretudo, ética — uma doutrina do agir prático e pragmático, dotada apenas de teoria suficiente para sua justificação incipiente.[10]
- A Virtualização
Entretanto, as filosofias muito raramente desaparecem; e, quando isso ocorre, ressurgem assim que algum interessado encontra seus documentos — os livros — e os estuda. O platonismo e o aristotelismo jamais desapareceram por completo, mas opacificaram, reduzidos a alguns poucos proponentes cuja função histórica pode ser resumida à conservação do legado filosófico até o surgimento de alguém capaz de recolocar tais escolas em voga. No entanto, a filosofia, enquanto pensamento teórico vivo, jamais permanece na forma pura concebida por seu fundador; ela precisa, para viver, evoluir por meio da crítica e da correção — e, nisso, comumente se transforma já na geração seguinte. Nesse sentido, o platonismo e o aristotelismo “puros” morreram com seus fundadores, mas suas versões atualizadas, conservando traços distintivos em relação a outras escolas, permanecem até hoje.
No caso aristotélico, seus escritos esotéricos — isto é, destinados apenas aos alunos do Liceu — circularam aqui e ali, desorganizados, até Andrônico de Rodes organizá-los no Corpus Aristotelicum.[11] Isso tornou a filosofia aristotélica disponível para estudo — nos limites da época —, gerando uma série de pequenos comentadores de Aristóteles versados nas fontes esotéricas, em contraste com os peripatéticos “formados” apenas pela tradição oral e escritos exotéricos hoje perdidos. Parte desses comentadores já recebia influência do também recentemente “renascido” platonismo, enquanto médio platonismo, uma forma eclética remanejada do pensamento platônico, que constituiu a “herança” de Platão entre os séculos I a.C. e II d.C.[12] O contato entre ambas as escolas e a constante produção de comentários e compêndios levou, lentamente, a um “intercâmbio de teses e problemas”, sobre cujo solo, agora fértil, germinaria sua “síntese”: o neoplatonismo.[13]
2.1. Apêndice: Sincrético e Sintético
É preciso justificar o sentido de chamarmos o pensamento neoplatônico de sintético. Considerando dois sistemas – ou quadros teóricos – filosóficos comparados, podemos concluir quatro possibilidades: A está certo e B errado; o inverso; ambos estão certos; ou ambos errados. As duas primeiras possibilidades acontecem, historicamente, quando uma doutrina refuta a outra, enquanto a terceira e a quarta apenas quando uma terceira refuta ou “une” as duas primeiras. Esta “união” é, comumente, chamada de conciliação. Quando isso ocorre de modo imperfeito, e várias teses filosóficas surgem, num todo reconhecível, de maneira “costurada”, sem um fio condutor unificante as tornando dedutíveis de princípios comuns, dizemos que o sistema é sincrético. O ecletismo é uma filosofia sincrética, pois suas teses, advindas de outros sistemas, não estão perfeitamente integradas num todo coerente. Essa forma de pensar é comum em “pensadores de problemas” ou “assistemáticos”. Na história, excetuadas pequenas contribuições isoladas, os ecléticos sempre foram filósofos de segunda ordem.
Quando a unificação é perfeita, e as várias teses filosóficas díspares são reconstruídas conforme um ou mais fios condutores definidos, de maneira a não serem alheias ao sistema integrado, então verifica-se uma síntese. Uma filosofia sintética é um ponto de vista ou quadro teórico superior a seus predecessores, enquanto integra todas as suas contribuições num construto mais robusto, cuja confecção é, sempre, eivada de elementos originais — de forma às teses sintetizadas deixarem de ser atribuíveis à sua origem, recebendo seu sentido apenas no novo plano. Quando ocorre uma “grande síntese” na história da filosofia, o filósofo responsável crava uma separação entre eras, pois as especulações anteriores são concluídas e as posteriores recebem seu ponto de partida. O platonismo é, neste sentido, superior aos pré-socráticos; o neoplatonismo, às escolas helênicas.[14]
- O Renascimento
Plotino, porém, chegou em Alexandria em 232. Seu encontro com Amônio foi decisivo, não somente para ele, como lemos na passagem de Porfírio, mas para a história das idéias no Ocidente, quase como o encontro, em Atenas, de Platão com Sócrates.
Amônio Sacas é creditado por alguns como fundador do neoplatonismo; no entanto, feito Sócrates, este não nos legou escritos, mas um discípulo, Plotino, cujo pensamento escrito nas Enéadas serve de paradigma para os filósofos neoplatônicos. Faremos, aqui, um pequeno apanhado expositivo de Plotino e dos neoplatônicos enquanto introdução ao nosso guia.
Os neoplatônicos são essencialmente metafísicos. Plotino e os outros não compartilham do interesse estóico ou epicúreo na “sobrevivência tranqüila” do virtuoso, na certeza probabilística ou em temas políticos: neles, a prioridade volta a ser a das causas últimas, da forma do conhecimento humano e, então, os temas éticos e sobretudo teológicos, pois o neoplatonismo é, também, o ápice místico e último sistema do paganismo antigo. O viés imanentista típico das escolas helênicas do ecúmeno[15] é, neste quadro, questão superada; os neoplatônicos entendem que tal verve, em crise já diante do neopitagorismo e do médio platonismo,[16] já não possui questões relevantes exclusivas a ponto de influenciar seu pensamento e são, nisto, criticadas, a ponto de Plotino negar-lhes o status de filosofias devido à sua incapacidade de realizar a segunda navegação ou superar a esfera imanente mediante a descoberta de uma transcendente. Nos termos de Szlezák:
[…] o epicurismo é soberanamente descartado como a filosofia incapaz de elevar-se a sistema (Cf. acima, p.31). O sensualismo sobre o qual ele se fundamenta é admitido como estado necessário que, para cada ser humano, é preciso ser vivido (1,1-3), e quando é absolutizado, volta-se contra a natureza (divina, para Plotino) do ser humano (1,10). Na filosofia da natureza, os epicuristas defendem a modalidade mais desacertada do materialismo (III 1,3,5), e convém não perder tempo com ela (II 4, 7, 28). […] também a caracterização da posição dos estóicos, em V 9, 1, 10, começa com seu conceito ético correto; mas, sendo que se trata simultaneamente da distinção das posições ontológicas, eles acabam ficando ao lado dos epicuristas: também os estóicos não conseguem perceber o “superior” e, assim, voltam ao ponto de partida. Embora a sua modalidade de materialismo possa ser considerada como mais séria do que a dos atomistas (que é combatida em vários momentos), sua cegueira diante do Inteligível desqualifica-os definitivamente como filósofos.[17]
Reale distingue seis teses fundamentais da metafísica plotiniana.[18]
Tese 1. Há distinção entre um plano sensível e um inteligível, o incorpóreo e o corpóreo, i.e., um plano metafísico e um físico, com o primeiro provendo as condições de possibilidade e elementos explicativos últimos do segundo. O neoplatonismo aceita, portanto, um transcendente acessível racionalmente, que ultrapassa e engloba o imanente.
Tese 2. Há, no plano imaterial, um esquema triádico dotado de três hipóstases: o Uno, o Nous e a Psyché. Uma das diferenças capitais entre o platonismo e o neoplatonismo é a ausência do polarismo platônico, i.e., a “geração” das idéias pelo uno-díade; aqui, as idéias – e o cosmo – são “emanados” das relações entre o Uno – enquanto “princípio supremo” monádico, não polar, como em Platão, e diferindo ainda do tratamento epistêmico-metafísico encontrado no Parmênides[19] –, o Nous e a Psyché. O Uno é tomado como princípio supra-essencial: está além do ser de qualquer outra categoria[20], todas inteligíveis apenas mediante o Uno – daí o Nous ser a segunda hipóstase[21] (Jâmblico introduz uma hipóstase anterior ao Uno; Amélio, por sua vez, subdivide o Nous em três aspectos distintos). Outra diferença para o platonismo refere-se à presença, no neoplatonismo – e, especial, no de Plotino –, de idéias não apenas das espécies em geral mas também das coisas particulares.[22]
Tese 3. A terceira hipóstase deriva da segunda, e esta da primeira, inderivada. O Uno, primeira entre as hipóstases, processa o Nous, que processa a Psyché, e desta tríade deduz-se o plano material. Muitos viram, aqui, uma doutrina unívoca à Trindade cristã, de forma aos neoplatônicos terem deduzido racionalmente um dogma revelado. Isto ocorre, infelizmente, devido à má compreensão do dogma e de conclusões apressadas advindas do uso de termos neoplatônicos na teologia. A primeira diferença capital jaz na hierarquia das processões: na tríade, os processados dependem do processor (e reduzem-se a ele em última análise), formando uma hierarquia onde o segundo elemento é degradado em relação ao primeiro. Isto é absurdo na Trindade, pois, nela, as três Pessoas divinas co-eternas são equivalentes, relacionando-se sem reduzir-se, excluindo uma diminuição perfectiva, por exemplo, do Pai para o Filho.[23] A segunda diferença capital é a distinção meramente relacional entre as Pessoas da Trindade, sendo, no limite, apenas um Deus expresso em três Pessoas (Uno e Trino, portanto) e não uma Tríade com elementos superiores e inferiores diferenciados, como no neoplatonismo. A terceira diferença capital consta na criação: as Pessoas da Santíssima Trindade criam conjuntamente ex nihilo, por Vontade própria, enquanto no sistema neoplatônico sequer há criação, havendo apenas uma irradiação onde o Uno “gera”, necessariamente,[24] o cosmo material.[25] A quarta diferença capital é a impessoalidade da tríade neoplatônica; ela não é pessoal, enquanto a Trindade cristã contém três pessoas distintas.
Tese 4. A matéria não é princípio subsistente; ela é deduzida dos esquemas da tríade e fica, neste sentido, dependente dela. Segue que o plano imanente é derivado e contingente e em relação a um transcendente necessário.
Tese 5. A realidade responde, em última análise, ao Uno: “tudo está no Uno e o Uno está em tudo, assim como cada um dos degraus inferiores está no superior e é produzido e sustentado por ele.”[26] Nisto, numa “inversão” do comumente pensado (em especial pelos materialistas), o material está no imaterial e não o contrário.
Tese 6. Se tudo provém do Uno, então tudo pode retornar a ele, i.e., se há uma processão, segue uma retrocessão. No caso humano, podemos alcançar uma unificação com o Uno mediante a ascese; nisto, a ética plotiniana consiste na busca da felicidade enquanto união extática (henosis) com o divino – integrando, assim, o dito platônico das Leis: “a divindade é a medida de todas as coisas”. Proclo sistematiza isto em três momentos: permanência, saída e retorno.
Quanto à gnosiologia neoplatônica, ela é dialética, compreendendo o termo como unidade plurimetodológica que visa transpassar do material ao imaterial, i.e., passar do escopo teórico imanente para o transcendente; é, portanto, uma gnosiologia metafísica. Isto exige alguma clareza. Dizemos plurimetodológica pois a dialética é o nome da finalidade de um conjunto de métodos – indução, dedução e quantos mais puderem ser integrados no sistema neoplatônico –, todos visando o mesmo objetivo, passar dos particulares aos universais tanto em sentido lógico quanto metafísico. Assim, por exemplo, posta uma coisa, a identificamos (dizemos que ela é X e não é Y), relacionamos com seu meio (aplicamos, v.g., as categorias aristotélicas reinterpretadas[27] para determinar quantidade, qualidade, posição, etc) e, extraído seu conceito e no mesmo ato sua essência, fica possível extrair suas condições de possibilidade metafísicas e, daí, passamos da essência concreta na coisa para sua idéia. A aplicação do método dialético é possível apenas mediante a aplicação às coisas dos princípios noéticos presentes na alma – um habitus principiorum, segundo a terminologia escolástica.
Psicológica e antropologicamente, os neoplatônicos aceitam, como em Platão, a imortalidade da alma, com o destino humano post-mortem sendo a unificação extática com o Uno[28] – i.e., retroceder ao princípio de tudo qualificado enquanto Bem absolutamente transcendente.[29] E nisto consiste, de certo modo, o grosso da ética e da teologia neoplatônicas, cujo caráter é sobretudo metafísico. Uma vez que os deuses pagãos podem ser compreendidos como “emanados” do Uno e postos no plano do Nous, ou, na mesma clave, derivar um politeísmo – ou um henoteísmo – através da multiplicação das hipóstases, fica possível erigir uma religião metafísica do neoplatonismo.[30] E foi isto o executado pelos neoplatônicos pagãos feito Jâmblico, Proclo, Damáscio e Simplício com a teurgia, ou sistema de práticas para contatar, cultuar e convencer os deuses.
Cosmologico-metafisicamente, numa analogia solar, o Uno “emana” as hipóstases assim como a luz, partindo de um centro, ilumina gradativamente, de maneira aos setores periféricos onde é mais fraca servem de imagem da relação do plano sensível com o material. A zona onde a luz não alcança é retrato da matéria bruta e disforme, identificada como privação pura; esta, não existindo por si, aparece apenas como informada, digo, iluminada, de maneira ao neoplatonismo conservar um hilemorfismo – dualismo de matéria e forma – onde todo o sensível existe com mescla inteligível.[31] Essa precariedade (da matéria) é a causa de toda imperfeição e, por conseguinte, do mal no mundo. Não se trata, porém, de um mal positivo, mas de uma deficiência ontológica,[32] e daí Plotino rejeitar a classificação do cosmo como mau, à moda gnóstica; ele é bom, pois o Demiurgo (ou o Nous) o fez conforme o paradigma da bondade e da beleza: “o mundo material é a exteriorização do inteligível, e o sensível e o inteligível vão unidos para sempre, o primeiro a reproduzir e o segundo de acordo com sua própria medida e capacidade.[33] Esta também é a opinião de Proclo.
Estes são os traços básicos do neoplatonismo e, sobretudo, de Plotino. Resta apenas uma última indicação. O neoplatonismo, qual expressão final do paganismo antigo, é para os pagãos o equivalente à patrística e à escolástica para o cristianismo, i.e., sua justificação filosófica como preambula fidei e parte teorética de sua cosmovisão. O neopaganismo moderno, desconsiderando as vertentes imanentistas[34] – cujos principais pensadores são, por exemplo, Nietzsche e Heidegger –, permanece fortemente neoplatônico principalmente no referente à sua prática teúrgica. Neste sentido, o neoplatonismo teúrgico é, também, uma religião. Já no ano 400 d.C., no tempo de Hipátia, o neoplatonismo estava “cindido” – ao menos em Alexandria – entre seus praticantes “neutros” (de quaisquer credos) e pagãos. Entre os primeiros jaziam, então, os primeiros cristãos. Tal “simbiose”, que há anos atrás gerara dois neoplatônicos notórios, Orígenes e Sto. Agostinho, marcará para sempre a integração do neoplatonismo na filosofia e teologia cristãs.
- Guia de Leitura para o Neoplatonismo
[…] examinai tudo e abraçai o que for bom.
1Ts. 5:21
O presente guia de reúne apenas alguns dos principais filósofos associados ao neoplatonismo, com ênfase naqueles cujas obras estão acessíveis ao leitor contemporâneo, pois não se pretende, aqui, um catálogo exaustivo — muitos autores, conhecidos apenas por fragmentos ou menções indiretas, foram intencionalmente omitidos. Quando um autor possui produção restrita, listamos a totalidade de suas obras; quando é extensa, selecionamos apenas os títulos mais representativos, como no caso de Santo Agostinho, cuja obra completa excede os propósitos deste compêndio. A bibliografia secundária encontra-se ao final, organizada após a sinopse de cada autor.
4.1. Plotino (c. 204/5 – 270)
Plotino é considerado o fundador do neoplatonismo. Formado no círculo de Amônio Sacas, em Alexandria, ele elaborou uma síntese das principais escolas filosóficas de seu tempo, reformulando o legado platônico com profundidade especulativa e originalidade mística. Seu único livro foi escrito quando o autor já estava com a vista debilitada, e precisou da organização e revisão de Porfírio, seu discípulo.
4.2.Porfírio (c. 234 – c. 305)
Porfírio de Tiro foi um dos principais discípulos de Plotino e um grande divulgador do neoplatonismo. É o autor da Isagoge, um comentário das categorias de Aristóteles cujo conteúdo iniciou a polêmica dos universais, da Vida de Plotino e também o editor e organizador dos escritos plotinianos em nove tratados, as Enéadas. Além de filósofo, foi um crítico severo do cristianismo nascente, defendendo a preservação dos cultos pagãos antigos.
4.3. Jâmblico (c. 245 – c. 325)
Discípulo de Porfírio, Jâmblico levou o neoplatonismo a um novo estágio, o religioso-pagão, ao integrá-lo à prática teúrgica. Para ele, a razão não bastava: era preciso agir ritualmente para alcançar a união extática com o divino. Tais práticas e sua defesa foram expostas no único livro que nos chegou, o Sobre os Mistérios.
4.4. Juliano, o Apóstata (331 – 363)
Flávio Cláudio Juliano, ou Juliano, “o Apóstata”, foi imperador romano e filósofo neoplatônico. Educado na tradição cristã, converteu-se ao paganismo helênico ainda jovem, influenciado pelos ensinamentos de neoplatônicos como Máximo de Éfeso e Prisco. Tentou restaurar o paganismo antigo e encetou uma série de políticas anticristãs, como a proibição do ensino por mestres cristãos. Morreu em batalha após um reinado de apenas seis anos, e foi sucedido por Joviano, outro imperador cristão.
4.5. Salústio, o filósofo (fl. segunda metade do séc. IV)
Salústio, também conhecido como Salústio, o filósofo, foi um íntimo colaborador e amigo de Juliano, o Apóstata, e partilhou de seu esforço por restaurar os valores religiosos e filosóficos do paganismo. Sua obra mais conhecida, Sobre os Deuses e o Mundo, é uma exposição concisa, escrita em forma de catecismo, dos princípios do platonismo e da religião pagã antiga. Salústio propõe uma leitura simbólica dos mitos, nos quais reconhece alegorias de verdades metafísicas.
4.6. Santo Agostinho (354-430)
Embora não se integre formalmente à escola neoplatônica — como o fizeram Plotino, Porfírio ou Proclo —, a filosofia de Sto. Agostinho constitui uma síntese monumental entre o platonismo tardio e a fé cristã nascente, lhe rendendo o apelido, por comentadores, de Plotino cristão. Agostinho representa, nesse sentido, um ponto de inflexão: é, ao mesmo tempo, herdeiro do neoplatonismo e fundador de uma tradição filosófica-teológica nova, a patrística latina. Em Agostinho, o Uno neoplatônico é “identificado” com o Deus cristão, agora pessoal e criador. A criação, no entanto, já não é uma emanação necessária, mas um ato livre da vontade divina. A matéria, longe de ser princípio negativo, é boa em si, pois foi criada por Deus. O mal, por sua vez, não possui substância: é privação do bem, como sombra da luz, conforme a analogia e Plotino. A metafísica agostiniana é, assim, uma hierarquia do ser, fundada em Deus como fonte absoluta de toda realidade.
- Confissões
- A Cidade de Deus
- A Trindade
- Sobre o Livre Arbítrio
- Solilóquios
- Sobre a Vida Feliz
- A Ordem
4.7. Proclo (412 – 485)
Proclo foi o mais importante filósofo da escola de Atenas e um dos maiores promotores da tradição neoplatônica, organizando-a sistemática e rigorosamente. Escreveu extensos comentários sobre os diálogos de Platão, além de obras originais como os Elementos de Teologia. Proclo concebia a filosofia como caminho espiritual: o saber conduz à união com o Uno.
- Elementos de Teologia
- Comentário ao Crátilo de Platão
- Três Opúsculos sobre a Providência, a Liberdade e o Mal
- Comentário à República de Platão
4.8. Marino de Neápoles (c. 440 – depois de 485)
Marino foi discípulo e biógrafo de Proclo, a quem sucedeu brevemente como diretor da escola platônica de Atenas. Nascido em Nápoles, estudou retórica e filosofia, tendo se destacado por seu talento literário e dedicação à tradição platônica. Sua principal obra, Vida de Proclo, mescla relato histórico com exaltação filosófica, retratando seu mestre como um verdadeiro “santo pagão”.
4.9. Damáscio (c. 458 – depois de 538)
Damáscio foi o último escolarca da Academia Platônica de Atenas, antes de seu fechamento por ordem do imperador Justiniano em 529. Foi um filósofo altamente especulativo, interessado em questões metafísicas como a natureza do Uno, cujas exposições podem ser conferidas em seu Sobre os Primeiros Princípios. Tentou levar o neoplatonismo ao limite, introduzindo um viés próximo de uma teologia negativa.
4.10. Simplício da Cilícia (c. 490 – c. 560)
Simplício foi discípulo de Damáscio e um dos últimos grandes comentadores da tradição aristotélico-platônica. É especialmente conhecido por seus extensos comentários sobre Aristóteles — Categorias, Física, Sobre o Céu — nos quais procura harmonizar a filosofia de Aristóteles com a de Platão. Conservou fragmentos valiosos de obras hoje desaparecidas, tornando-se fonte insubstituível para o estudo do pensamento antigo. Simplício escreveu um comentário ao Manual de Epicteto, no qual interpreta o estoicismo sob uma ótica neoplatônica. Sua obra marca o fim da filosofia pagã grega em solo bizantino.
- Comentário ao Manual de Epicteto
- Comentário à Física de Aristóteles
- Comentário às Categorias de Aristóteles
- Comentário ao de Anima de Aristóteles
4.11. Pseudo-Dionísio, o Areopagita (final do séc. V – início do VI)
Sob o pseudônimo de Dionísio, o Areopagita — personagem mencionado nos Atos dos Apóstolos — esse autor cristão incorporou e cristianizou vastas porções da metafísica neoplatônica, especialmente a de Proclo, e por isto sua linguagem e estrutura conceitual refletem fortemente a influência da escola de Atenas. Suas principais obras (Teologia Mística, Os Nomes Divinos, Hierarquia Celeste) articulam uma teologia apofática na qual Deus só pode ser descrito por negações, e tiveram imensa influência na teologia cristã oriental e ocidental, marcando profundamente pensadores como Máximo, o Confessor, Tomás de Aquino e Meister Eckhart.
4.12. João Escoto Erígena (c. 810 – c. 877)
Erígena foi um dos maiores pensadores da Alta Idade Média, responsável por integrar o neoplatonismo ao pensamento cristão latino. Nascido provavelmente na Irlanda, foi convidado à corte de Carlos, o Calvo, onde traduziu obras do Pseudo-Dionísio e elaborou sua própria síntese teológica no Periphyseon (De Divisione Naturae). Concebe a realidade como um processo de processão e retrocessão a Deus. Sua filosofia foi acusada de panteísmo por alguns teólogos posteriores – com parte de seus escritos condenados como heréticos.
4.13. Bibliografia Secundária
- Cicero Cunha Bezerra & Oscar Federico Bauchwitz (Org.) – Neoplatonismo: Tradição e contemporaneidade
- Cícero Cunha Bezerra – Compreender Plotino e Proclo
- Cícero Cunha Bezerra – Dionísio Pseudo-Areopagita: Mística e Neoplatonismo
- Enrico Berti – Contradição e Dialética nos Antigos e nos Modernos
- Étienne Gilson – Introdução ao Estudo de Santo Agostinho
- Étienne Gilson – História da filosofia cristã
- Eric Voegelin – Ordem e História III
- Eric Voegelin – Ordem e História IV
- Frederick Copleston – Uma História da Filosofia I
- Giovanni Reale – História da Filosofia Grega e Romana VII
- Giovanni Reale – História da Filosofia Grega e Romana VIII
- Gregory Shaw – Theurgy and the Soul: The Neoplatonism of Iamblichus
- Lloyd P. Gerson – Plotino
- Loraine Oliveira – Plotino, Escultor de Mitos
- Jean-Marc Narbonne – A Metafísica de Plotino
- Johannes Brachtendorf – Confissões de Agostinho
- Pierre Hadot – Plotino ou A Simplicidade do Olhar
- Pierre Hadot – Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga
- Riccardo Chiaradonna – Plotino
- Roberto Radice – Estoicismo
- Thomas Alexander Szlezák – Platão e Aristóteles na Doutrina do Noüs de Plotino
Edições em inglês
- Andrew Louth – Denys the Areopagite
- Andrew Smith – Porphyry’s Place in the Neoplatonic Tradition
- Deirdre Carabine – John Scottus Eriugena
- Dermot Moran – The Philosophy of John Scottus Eriugena
- Dominic J. O’Meara – Plotinus: An Introduction to the Enneads
- Glen W. Bowersock – Julian the Apostate
- Gilbert Murray – Five Stages of Greek Religion
- Henry Blumenthal – Aristotle and Neoplatonism in Late Antiquity
- S. Versnel – Inconsistencies in Greek and Roman Religion
- John Dillon – The Middle Platonists
- Lucas Siorvanes – Proclus: Neo-Platonic Philosopher
- Paul Rorem – Pseudo-Dionysius: A Commentary on the Texts and an Introduction to Their Influence
- Polymnia Athanassiadi – Damascius: The Philosophical History
- Richard Sorabji (ed.) – Philoponus and the Rejection of Aristotelian Science
- Rowland Smith – Julian’s Gods
- Sara Rappe – Reading Neoplatonism: Non-discursive Thinking in the Texts of Plotinus, Proclus and Damascius
Artigos úteis
- Augustine Ugbomah, OSA – Augustine, the Platonists and Knowledge of the Holy Trinity
- Bal, Gabriela – A Ascese Plotiniana
- Barreto, Robert Brenner – A ética mística de Plotino: breve exame sobre a presença do intelectualismo socrático
- Bezerra, Cícero Cunha – Agostinho de Hipona: considerações neoplatônicas
- Bezerra, Cícero Cunha – O aspecto iniciático da poesia: Proclo e o comentário à República de Platão
- Brandão, Bernardo Guadalupe – A contemplação mística do um em Plotino
- Brandão, Bernardo Guadalupe – Estados de consciência e níveis do eu em Plotino
- Brandão, Bernardo Guadalupe – Só em direção ao só: considerações sobre a mística de Plotino
- Brandão, Bernardo Lins – O problema do misticismo em Plotino
- Brandão, Bernardo Lins – A Noção de Ascensão na Filosofia de Plotino
- Coelho, Humberto Schubert – Plotino e o problema das origens na metafísica sujeito objeto
- Costa, Daiane Rodrigues & Pichler, Nadir Antonio – Da modelagem demiúrgica à criação divina: semelhanças e distinções da influência platônica na obra Santo Agostinho
- Costa, Marcos Roberto Nunes – Santo Agostinho frente ao paradoxo da matéria na cosmologia/ontologia plotiniana na solução do problema do mal
- Cunha, Suelen Pereira da – A realidade divina: sobre a possibilidade de participar do imparticipado em Proclo
- Cunha, Suelen Pereira da – A constituição da realidade em Proclo
- Marçal, José Carlos – Plotino: teurgia e negatividade
- Nascimento, Tadeu Júnior de Lima – A unimultiplicidade na filosofia de Plotino
- Pereira Júnior, Antonio – Santo Agostinho: místico ou um intelectual platônico‑cristão?
BAIXE TODOS OS ARTIGOS RECOMENDADOS CLICANDO AQUI
Observação: o PDF de artigos acadêmicos (e livros, quando em domínio público, absolutamente inacessíveis no Brasil, etc) estão disponíveis apenas para assinantes.
Caso o leitor tenha aprendido algo com nossos textos, favor considerar uma doação via PIX , Cartão ou assinar nosso site para acesso ao conteúdo restrito e de maior qualidade. Sua contribuição nos motiva a continuar fornecendo filosofia de forma simples, mas não simplificada.
Notas:
[1] História da Filosofia Grega e Romana VII p.29
[2] Utilizo o Jargão de Copleston em Uma História da Filosofia Vol.I p.373
[3] Ibidem.
[4] Ibidem p.374. Isto também explica o avanço das ciências particulares no período helenístico, o que é bom, mas seria melhor sem o custo da cabeça da filosofia.
[5] Epicuro, por exemplo, interessava-se por lógica e física apenas enquanto “servas” da ética; nos termos de Copleston, “desvalorizando todas as investigações puramente científicas e declarando a matemática inútil, já que não se ligava à conduta da vida”. Uma História da Filosofia vol.I p.392
[6] Tese na qual há uma verdade, mas não podemos conhecê-la com certeza.
[7] Verve presente sobretudo no ceticismo. Ver Uma História da Filosofia vol.I p.401ss.
[8] “No filósofo que resiste ao sofista vive uma alma que resiste à destruição da areté. O filósofo é o homem na ansiedade de sua queda do ser; e a filosofia é a subida para a salvação para o homem comum, conforme sugerem os componentes panfílicos do mito. A filosofia de Platão, portanto, não é uma filosofia, mas a forma simbólica em que uma alma dionisíaca expressa a sua ascensão para Deus. Se a evocação de um paradigma da ordem reta por Platão for interpretada como a opinião de um filósofo sobre política, o resultado será um absurdo irremediável, que não merece uma palavra sequer de consideração.” Eric Voegelin – Platão e Aristóteles p.131
[9] Ver o materialismo estóico em Uma História da Filosofia vol.I p.379 e Roberto Radice – Estoicismo p.19-35. Sobre o conceito de Deus e destino no estoicismo, Uma História da Filosofia vol.I p.381. O materialismo de Epicuro aparece em Uma História da Filosofia vol.I p.393.
[10] O retrato acima pode ser visto como antecessor da situação do século XXI após a queda dos “grandes sistemas” no século XIX. Nisto, “retornamos aos pré-socráticos” com pensadores desde Nietzsche até Heidegger, o que explica a preferência, em especial nas classes mais altas, por cosmovisões análogas tanto ao epicurismo quanto ao estoicismo, em especial no aspecto materialista e na rejeição de temas metafísicos e sobretudo religiosos. Ademais, o pluralismo moderno de viés globalista é uma versão moderna do ecúmeno, da mesma forma que a pneumopatologia contemporânea é um análogo do gnosticismo antigo. O pensamento decaído de hoje é análogo ao de ontem.
[11] História da Filosofia Grega e Romana VII p.17-8 e 26ss.
[12] História da Filosofia Grega e Romana p.275ss.
[13] História da Filosofia Grega e Romana p.287ss.
[14] Ver História da Filosofia Grega e Romana VIII p.19-21
[15] Refiro-me principalmente ao período durante e após as conquistas alexandrinas, embora a era ecumênica refira-se, segundo Voegelin, desde a ascensão do Império Persa até a queda do Império Romano (ver Ordem e História Vol.IV cap.2). Foi caracterizado pela queda das cidades-estado frente a uma ordem política superior, o império; nisto, várias cosmovisões foram destruídas mediante o esfacelamento de seu cosmion, causando crises existenciais onde, por exemplo, uma cidade orgulhosa de seus deuses viu-se derrotada e o prestígio de seus mitos criadores destruídos. Se o “mundo” de uma pessoa cai, ela entra em crise; temos, nisto, um fenômeno análogo ao descrito por Nietzsche como niilista passivo. Foi neste cenário de destruição que as filosofias helenísticas, de viés imanentista – pois os deuses já pouco importavam – prosperaram.
[16] Ver História da Filosofia Grega e Romana VIII p.22-3
[17] Thomas Alexander Szlezák – Platão e Aristóteles na Doutrina do Noüs de Plotino p.66-7
[18] Ver História da Filosofia Grega e Romana VIII p.27
[19] Uma História da Filosofia vol.I p.450
[20] Nos recordemos que, no tempo de Plotino, não existia doutrina dos transcendentais para explicar relações supra-categóricas. Nisto, o “além do ser” refere-se ao superior à ordem categórica. Este é o mesmo sentido da “Supra-Essência” da teologia do Pseudo-Dionísio, o Areopagita, em Os Nomes Divinos §1.
[21] [21] História da Filosofia Grega e Romana VIII p.41
[22] [22] História da Filosofia Grega e Romana VIIIp.70.
[23] “For St. Augustine, instead, there is no degeneration nor diversity between the Father and the Son because they are of the same substance and they are equal” Augustine Ugbomah, OSA – St. Augustine, the Platonists and Knowledge of the Holy Trinity
[24] Uma História da Filosofia vol.I p.451-2
[25] Augustine Ugbomah, OSA – St. Augustine, the Platonists and Knowledge of the Holy Trinity
[26] Ver História da Filosofia Grega e Romana VIII p.28
[27] Plotino critica as categorias de Aristóteles enquanto instrumental metafísico, mas as valoriza do ponto de vista lógico. Ver VIII p.153
[28] História da Filosofia Grega e Romana VIII p.113-4 e 119ss.
[29] História da Filosofia Grega e Romana VIII p.48
[30] Conferir, por exemplo, Loraine de Oliveira – Plotino: Escultor de Mitos p.320ss
[31] Uma História da Filosofia vol.I p.454
[32] História da Filosofia Grega e Romana VIII p.70
[33] Uma História da Filosofia vol.I p.455
[34] O neopaganismo imanentista “retorna aos pré-socráticos” e cultiva “deuses materiais” ou “homens divinizados” como expressão do ser; neste sentido, cultivam um henoteísmo material.