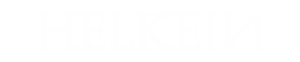Por Hans Jonas
Tradução, notas e comentários de Helkein Filosofia
Antes que prossigamos, perguntemo-nos o que houve com a antiga concepção de cosmos enquanto totalidade divinamente ordenada, visto que decerto não houve, [no período da gnose antiga] fenômeno algum remotamente semelhante ao advento da física moderna que estivesse envolvido na catastrófica desvalorização ou desnude espiritual do universo.[1] Urge ter em mente que o universo foi completamente demonizado no período gnóstico, mas, ainda assim, em conluio com a transcendência do eu acósmico, a investigação resulta em curiosas analogias com alguns fenômenos manifestados, no muito diverso cenário moderno, pelo existencialismo. Mas, se não a ciência e a tecnologia, o que causou, para os grupos humanos envolvidos, o colapso da piedade cósmica sobre a qual a civilização clássica construiu sua ética?
É obviamente impossível fornecer uma resposta completa, mas podemos delinear seus ângulos; o que há diante de nós consiste em certo repúdio pela doutrina clássica acerca do “todo e das partes”, e algumas das razões desta ruptura podem ser encontradas no âmbito social e político: de acordo com a ontologia clássica, o todo é prioritário e melhor do que as partes e é dela que elas derivam o significado de sua existência – e este axioma consagrado pelo tempo havia perdido a base social de sua validade. O exemplo vivo de tal fenômeno foram as eleições clássicas […][2] em que as novas massas atomizadas do império [Romano], que nunca antes haviam partilhado desta nobre tradição, poderiam reagir de forma diferente em relação à situação em que se encontravam passivamente envolvidas: aquela em que a parte era insignificante para o todo e este, por conseguinte, estranho às partes.[3] A inspiração do indivíduo gnóstico foi entendida como se não devesse “fazer parte” deste todo, mas – em termos existencialistas – “existir autenticamente”. A lei imperial, sob a qual [o gnóstico] estava submisso, era uma dispensação externa, uma força inacessível; e para ele [o indivíduo gnóstico] a lei do universo, o destino cósmico do qual o estado mundial era o executor terrestre, assumia as mesmas feições. Até mesmo o conceito de direito foi afetado em todos os seus aspectos – enquanto lei natural, política e moral, o que nos faz retornar à nossa comparação.
A subversão da noção de lei, de nomos, nos leva a consequências em que a implicação niilista da acosmia gnóstica, análoga a certos raciocínios modernos, se torna bem mais óbvia do que em seu aspecto cosmológico. Pensemos no antinomismo gnóstico; deve-se admitir desde pronto que a negação de quaisquer normas de conduta objetivas é tratada em níveis teóricos muitos diversos no gnosticismo e no existencialismo, e esse gnosticismo antinômico parece grosseiro e ingênuo quando comparado com a sutileza conceitual e reflexão histórica de sua contraparte moderna. O que estava em processo de liquidação, num caso, foi a herança moral de um milênio de civilização antiga; no outro caso, como fundamento da noção de lei moral, dois mil anos de metafísica cristã ocidental.
Nietzsche indicou a raiz do niilismo no adágio “Deus está morto,” referindo-se especialmente o Deus cristão; os gnósticos, caso solicitados a resumir os fundamentos metafísicos de seu própria niilismo, poderiam dizer que “o Deus cósmico está morto” –no sentido de ter deixado de ser divino para nós ainda que seja um deus e, por conseguinte, deixado de ser a bússola de nossas vidas. A catástrofe, neste caso, é admitidamente menos abrangente e, por conseguinte, menos irremediável – mas o vácuo resultante, ainda que não tão profundo, não é sentido com menor intensidade. Para Nietzsche, niilismo significa que “os valores supremos desvalorizem-se” (ou “perdem sua validade”) e a causa de sua depreciação é a percepção de que não temos como justificar um “além ou um em-si das coisas que seja “divino” ou moral”.[4] Esta declaração, em conjunto com aquela que se refere à morte de Deus, confirma a afirmação de Heidegger de que “os nomes Deus e Deus cristão no pensar de Nietzsche são usados para a designação do mundo supra-sensível em geral” (Holzwege, p. 199).[5] Uma vez que é apenas deste plano (o sensível) que se pode derivar sanções valorativas, o desaparecimento, i.e., a “morte de Deus” significa não apenas a queda dos valores supremos como a impugnação da possibilidade de valores objetivos enquanto tais. Para citarmos uma vez mais a interpretação heideggeriana de Nietzsche, “o dito ‘Deus morreu’ significa: o mundo supra-sensível está sem força actuante” (Ibid. p. 200.).[6] De outra forma, talvez paradoxal, a afirmação também vale para o posicionamento gnóstico. É claramente verdade que seu dualismo [o do gnosticismo] extremo é, em si, oposto a um abandono da transcendência, e o Deus transmundano a representa de forma radical: nele o ‘além absoluto’ acena através do véu cósmico. Mas essa transcendência, contrariamente ao “mundo inteligível” do platonismo ou do senhor do mundo do judaísmo, não mantém relação positiva alguma com o plano sensível e não é sua essência ou causa – ele é sua negação ou supressão. O Deus gnóstico, distintamente do demiurgo, é totalmente diferente, outro, desconhecido, assim como sua contraparte interior ao homem, aquele eu acósmico ou pneuma cuja natureza é revelada na experiência negativa da alteridade, de não-identificação, que clama por uma liberdade indefinível; este Deus tem mais nihil do que ens em seu conceito. Uma transcendência destituída de qualquer relação normativa com o mundo é equivalente àquela que perdeu sua força efetiva e, em outras palavras e para todos os efeitos referentes à relação entre o homem e a realidade circundante, este Deus oculto é uma concepção niilista: nomos algum emana dele, lei alguma para a natureza e, portanto, regra alguma para os atos humanos enquanto parte da ordem natural.[7]
Assim fundamentado, o argumento antinômico dos gnósticos é tão simples como, por exemplo, o sartreano. Dado que o transcendente é silêncio, argumenta Sartre, e que “não dá sinais no mundo”, o homem, “abandonado” a si mesmo, reivindica sua liberdade e, na verdade, não pode deixar de clamar por ela: ele “é” essa liberdade, nada é “além de seu próprio projeto” e “tudo lhe é permitido”. [8] Essa liberdade é de um tipo desesperador e, enquanto tarefa incomparável, inspira mais favor do que exaltação. Por vezes, no raciocínio gnóstico, o argumento antinômico surge disfarçado de subjetivismo “normal”.[9]
Quanto à asserção da autêntica liberdade do ‘eu’, nota-se que [essa liberdade] refere-se não à “alma” (psyche), tão adequadamente determinada pela lei moral quanto o corpo o é pela lei física, mas ao “espírito” (pneuma), o núcleo espiritual inefável da existência, a centelha alienada. A alma faz parte da ordem natural concebida pelo demiurgo para involucrar a centelha forasteira e, no direito normativo, o criador exerce controle sobre o que é legitimamente seu. O homem psíquico, que pode ser definido naturalmente como, por exemplo, animal racional, ainda é homem natural, e essa “natureza” não pode determinar o seu eu pneumático mais do que, na visão existencialista, uma essência determinante pode prejudicar a existência livremente e autoprojetada. É pertinente que façamos um comparativo com um argumento heideggeriano. Em sua Carta sobre o Humanismo, Heidegger argumenta contra a definição clássica de homem como “animal racional”, dizendo que ela coloca o nome “dentro” da animalidade enquanto especificada apenas por uma differentia que distingue o homem do gênero “animal” apenas por uma qualidade particular – o que, para Heidegger, rebaixa o homem em demasia. [10] Não insistirei no ponto se há ou não um sofisma verbal envolvido em argumentar a partir do termo “animal” como utilizado na definição clássica. [11] O que nos interessa apontar é a rejeição de qualquer “natureza” definível no homem que possa sujeitar sua soberania a uma essência predeterminada e, assim, torná-lo parte de uma ordem objetiva de essências na totalidade da natureza.[12] Nessa concepção trans-essencial, livremente “autoprojetada”, vejo algo comparável ao conceito gnóstico de negatividade trans-física do pneuma – e aquele que não tem natureza não tem norma. Somente aquele que pertence a uma ordem natural – seja a da criação ou das formas inteligíveis – pode possuir uma natureza; somente onde há um todo há uma lei. Na visão depreciativa dos gnósticos, isso vale apenas para a psique enquanto pertencente ao todo cósmico; o homem psíquico nada pode fazer senão obedecer a um código de leis e se esforçar para ser justo, i.e., “ajustar-se” adequadamente à ordem e, assim, desempenhar o papel que lhe foi atribuído no esquema cósmico. Mas os pneumáticos, os homens “espirituais”, não possuem objetivo nenhum em tal esquema; estão acima da lei, acima do bem e do mal, e são uma lei para si mesmos segundo o poder de seu “conhecimento”.
Mas do que trata esse conhecimento, que é antes do espírito e não da alma, e no qual o “eu espiritual” encontra sua salvação para além da escravidão cósmica? Uma famosa fórmula de da escola valentiniana resume, da seguinte forma, o conteúdo da gnosis: “o que liberta é o conhecimento de quem fomos, e do que nos tornamos; de onde estávamos e para onde fomos lançados; de para onde corremos e onde somos redimidos; do que é o nascimento e do que é o renascimento.”[13] Uma verdadeira exegese desta fórmula programática precisaria desdobrar completamente o mito gnóstico; desejo, aqui, apenas fazer alguns apontamentos. Em primeiro lugar notemos o agrupamento dos termos em pares antitéticos e sua respectiva tensão escatológica, sua irreversibilidade direcional do passado para o futuro; notemos ainda que os termos são conceitos relacionados não ao ser, mas ao acontecer, ao movimento. O conhecimento versa sobre uma história na qual ele mesmo é um evento crítico; entre esses termos dinâmicos, o de “ter sido lançado” em algo nos impressiona, pois estamos familiarizados com ele devido à leitura existencialista. Lembremo-nos do “lançado na infinidade dos espaços” de Pascal, da Geworfenheit de Heidegger, do “lançamento” que para ele é a característica fundamental do Dasein, da auto-experiência da existência; o termo, até onde vejo, é originalmente gnóstico. Na literatura mandeísta, é um lugar-comum que a vida foi lançada no mundo, a luz nas trevas e a alma no corpo; ela expressa a violência original infligida a mim ao pôr-me onde estou e fazer-me o que sou, a passividade emergente sem escolha existente num mundo que não fiz e cuja lei não é a minha.[14] Mas a imagem do lançamento também confere um caráter dinâmico a toda existência assim iniciada; em nossa fórmula, é tomada pela imagem da aceleração em direção a algum fim: ejetada no mundo, a vida é uma espécie de trajetória que projeta a si mesma em direção ao futuro.
E assim somos levados à observação final a propósito da fórmula valentiniana, que em seus termos temporais não nada diz sobre um presente que possa preencher o conteúdo do conhecimento que, mediante contemplação, possa ser repassado adiante. Há passado e futuro, de onde viemos e para onde vamos, e o presente é apenas o momento da gnose mesma enquanto passagem de um para o outro na crise suprema do ‘agora’ escatológico. Há, entretanto, algo a se atentar para que se distinga [a gnose antiga] dos paralelos modernos: na fórmula gnóstica entende-se que, ainda que lançados na temporalidade, possuímos origem na eternidade e, assim, nosso objetivo reside nela [a eternidade]; assim, o niilismo intracósmicos do gnosticismo é posto defronte um plano metafísico ausente em sua contraparte moderna.
Voltando-nos mais uma vez ao equivalente moderno, façamos uma observação que deve chocar o estudante atento ao Sein und Zeit de Heidegger, o mais profundo e importante manifesto da filosofia existencialista. Heidegger desenvolve, ali, uma “ontologia fundamental” de acordo com os modos sobre os quais o eu “existe”, i.e., constitui seu próprio ser no ato de existir e com isso origina, de acordo com seus correlatos objetivos, os diversos significados do Ser em geral, explicados por uma série de categorias chamadas de “existenciais”. Contrariamente às “categorias” kantianas, elas articulam prioritariamente estruturas não da realidade mas da realização, i.e., não estruturas cognitivas de um mundo de objetos dados, mas estruturais funcionais do movimento ativo do tempo interno pelo qual o “mundo” é introduzido no eu originado enquanto evento contínuo. As categorias “existenciais” têm, portanto, cada e uma e todas elas, um significado referente ao tempo interno ou mental, a verdadeira dimensão da existência, articulando-a em diversos “tempos” que, por conseguinte, devem expor e distribuir, entre si, os três horizontes do tempo: passado, presente e futuro.
Caso tentemos ordenar as categorias da existência de Heidegger acerca desses três aspectos, como de fato é possível de se fazer, descobriremos algo impressionante – ou que pelo menos me impressionou muito quando, na época do lançamento do livro, tentei elaborar em diagrama à maneira clássica de uma “tabela de categorias” –: a coluna intitulada “presente” permanece praticamente vazia – ou pelo menos na medida em que estão em causa os modos “autênticos” ou “genuínos” de existência. Devo dizer que o enunciado aqui trata-se de algo extremamente resumido; em verdade muito foi dito acerca do “presente” existencial, mas não enquanto dimensão independente em si mesma, dado que o presente existencialmente “genuíno” é aquele da “situação” que é completamente definida em termos da relação do eu com seu “passado” e com seu “futuro”. Isto se torna claro, por assim dizer, à luz da decisão, quando o “futuro” projetado reage sobre o “passado” (Geworfenheit) dado e esta reunião constitui o que Heidegger chama de “momento” (Augenblick), e não duração, que é o modo temporal próprio do “presente” – enquanto criação dos outros dois horizontes temporais, função de sua dinâmica incessante e que não possui dimensão independente para descansar a cabeça. Entretanto, quando destacado do contexto do movimento interno, o “mero presente” denota precisamente certa renúncia à genuína relação entre passado e futuro no “abandono” ou “entrega” à verborragia, à mera curiosidade e ao anonimato do “homem comum” (Verfallenheit): uma falha na tensão da existência verdadeira, uma espécie de inatividade do ser. De fato, Verfallenheit, um termo negativo que inclui “degeneração” e “declínio” em sua significação, é o “existencial” próprio do “presente” enquanto tal, revelando-o como um modo de existência derivado e “deficiente”.
Nossa afirmação original defende que todas as categorias existenciais relevantes, que tenham que ver com a possível autenticidade da individualidade, jazem em pares correlatos sob a égide do passado ou do futuro: “facticidade”, necessidade, tornar-se, ter sido lançado, culpabilidade, são modos existenciais passados; “existência”, estar à frente do presente, antecipação da morte, cuidado e resolução são modos existenciais futuros; não há presente algum em que a existência genuína possa repousar. Saltando, por assim dizer, de seu passado, a existência projeta a si mesma em seu futuro; encara seu limite definitivo, a morte, e retorna desse vislumbre escatológico do nada até sua facticidade pura, o dado inalterável de já ter-se tornado isto, ali e então; e assim leva isto adiante com sua resolução gerada pela morte – na qual o passado jaz recolhido. Repito: não há presente habitável, apenas crise entre passado e futuro, o momento pontual entre ambos, o equilíbrio no fio da navalha da resolução que nos empurra adiante.
Este dinamismo incessante exerceu uma tremenda atração sobre a mente contemporânea, e minha geração, durante os anos vinte e trinta, sucumbiu a ela de maneira absoluta. Mas há um enigma nesta evanescência do presente enquanto detentor de conteúdo genuíno, em sua redução ao inóspito ponto zero da mera resolução formal: que situação metafísica está por trás disso?
Cabem ainda algumas observações adicionais. Há, afinal, para além do “presente” existencial do momento, a presença de coisas: a co-presença delas não oferece uma forma distinta de “presente”? Mas nos é dito por Heidegger que as coisas são principalmente zuhanden, i.e., utensílios, (das quais um dos modos é o “inútil”) e, portanto, relacionadas ao “projeto” da existência e seu “cuidado” (Sorge) e, por conseguinte, inclusas na dinâmica entre o passado e o futuro. Entretanto, elas podem ser ainda neutralizadas para que sejam meramente vorhanden, (“postas diante de mim”) i.e., objetos indiferentes, sendo que o modo Vorhandenheit é a contrapartida objetiva do que, do ponto de vista existencial, é Verfallenheit, o falso presente. Vorhanden é o meramente indiferente, “existente”, “aí” na natureza nua, posta fora do círculo de relevância da situação existencial e da “preocupação” prática; jaz, portanto, despojada e alienada ao modo de “coisidade” muda. Este é, pela consideração teórica, o status deixado para a “natureza”, um modo deficiente de ser, e a relação na qual ela é objetivada é um modo deficiente de existência, sua deserção da “futuridade do cuidado” para o presente espúrio da mera curiosidade.[15]
A depreciação existencialista do conceito de natureza reflete com precisão seu desnude espiritual pelas mãos da ciência moderna, e tem algo em comum com o desprezo da natureza advindo dos gnósticos. Filosofia alguma se preocupou menos com a natureza do que o existencialismo pois, para ele, ela já não possui dignidade alguma – mas tal despreocupação não deve ser confundida com a abstenção socrática acerca da inquirição física como estando acima da compreensão humana. Visar o que está aí, para a natureza em si mesma, para o Ser, é o que os antigos chamaram de contemplação, theoria; mas o ponto é que se a contemplação for deixada apenas para a existência irrelevante, então perderá sua antiga nobreza – assim como o repouso no presente no qual adere o observador através da presença de seus objetos. A theoria possuía tal dignidade por conta de suas implicações platônicas, pois contemplava objetos eternos através da forma das coisas, a transcendência do ser imutável que irrompe através da transparência do devir. O ser imutável é o eterno presente acessível à contemplação durante a breve duração do presente temporal.
Assim, é a eternidade, e não o tempo, que concede um presente e lhe confere um status característico no fluxo do devir; e é a perda da eternidade que explica a perda de um presente genuíno. A perda da eternidade é o desaparecimento do mundo das idéias [platônico] e dos ideais nos quais Heidegger vê o verdadeiro significado as sentença nietzschiana “Deus está morto”; em outras palavras, significa a vitória definitiva do nominalismo sobre o realismo. Portanto, a mesma causa em que se enraíza o niilismo também jaz na temporalidade radical do esquema existencial heideggeriano, em que o presente nada é senão um momento de crise entre o passado e o futuro. Se os valores não são visados enquanto seres (como o Bom e o Belo em Platão) mas apenas postulados pela vontade enquanto projetos, então, de fato, a existência está comprometida com um futuro constante e a morte enquanto meta; e uma resolução meramente formal para ser, sem um nomos que a fundamente, torna-se um projeto do nada para o nada. Em termos nietzschianos, “Quem perdeu o que perdeste em parte alguma se detém”.
Uma vez mais nossa investigação nos leva ao dualismo entre o homem a physis enquanto fundamento metafísico da situação niilista. Mas não há como ignorar uma distinção fundamental entre o dualismo gnóstico e o existencialista: o homem gnóstico é posto numa natureza antagônica, anti-divina e, portanto, anti-humana; já o homem moderno é indiferente a ela – e apenas este último caso representa o vácuo absoluto, o poço realmente sem fundo. Na concepção gnóstica, o hostil, o demoníaco, ainda possui feições antropomórficas e é familiar mesmo em sua estranheza, e tal contraste outorga uma direção à existência – num sentido negativo, sim, mas que tem atrás de si a sanção da transcendência negativa da qual a positividade do mundo é qualitativamente a contraparte. Mas nem mesmo essa qualidade antagônica é concedida, pela ciência moderna, à natureza e indiferente – e, por conseguinte, não se pode derivar dela direcionamento algum.
Isto torna o niilismo moderno infinitamente mais radical e desesperador do que o niilismo gnóstico jamais poderia ter sido, apesar todo o seu terror, seu pânico do mundo e seu desprezo desafiante para com as leis. De qualquer forma, essa natureza indiferente é o verdadeiro abismo. O fato é que a única preocupação advém da parte do homem que, em sua finitude posta ante a morte, jaz isolado em sua contingência na insignificância dos significados que projeta – eis uma situação verdadeiramente inédita.
Mas a diferença que revela a profundidade superior do niilismo moderno também desafia sua consistência; o dualismo gnóstico, por mais fantástico que o fosse, pelo menos foi consistente, dado que a noção de uma natureza demonizada contra a qual o homem se opõe faz algum sentido. Mas o que dizer de uma natureza muda que, por outro lado, contém em seu meio aquilo para o qual seu próprio ser se diferencia? A sentença que afirma que o homem foi lançado em uma natureza indiferente é o resquício de uma metafísica dualista que repugna o ponto de vista antimetafísico; o que é o lançamento sem o lançador e sem um além de onde foi lançado? Por sua vez, o existencialista deveria dizer que a vida – consciente, cuidadosa, conhecedora do eu – foi “lançada” pela natureza. Caso o seja cegamente, então a visão é um produto da cegueira, o cuidado um produto do descuidado e uma natureza teleológica advém de uma não-teleológica.
Este paradoxo não põe sob dúbia o próprio conceito de uma natureza indiferente, essa abstração da ciência moderna? O antropomorfismo foi tão radicalmente expulso do conceito de natureza que mesmo o homem deixou de ser concebido antropomorficamente para se tornar, nela [a natureza], mero acidente. Enquanto produto da indiferença, seu ser, por conseguinte, deve ser também indiferente; por conseguinte, a face de sua mortalidade simplesmente justifica a seguinte reação: “vamos comer e beber pois amanhã morreremos”. Não adianta “cuidar” do que não é fundamentado por qualquer sanção ou intenção criativa. Mas se o mais profundo insight heideggeriano estiver correto – aquele que sentencia que, diante de nossa finitude, cremos que nos importamos não apenas se existimos mas como existimos – então o mero fato de haver um cuidado, em qualquer lugar do mundo, deve também qualificar a totalidade que o engloba – e ainda mais se “ela”, sozinha, foi a causa produtiva do fato, deixando o sujeito surja fisicamente em seu meio.
A cisão entre o homem e a totalidade do real jaz no fundamento do niilismo; a ilogicidade da ruptura, i.e., de um dualismo antimetafísico, não torna seu fato menos real e nem sua alternativa aparente mais aceitável: o visar da individualidade isolada que condena o homem pode fomentar o desejo por um naturalismo monista que, juntamente à cisão, abolirá a noção de homem enquanto homem. A mente moderna paira entre Scylla e seu gêmeo Charybdis e, se lhe houver um terceiro caminho – um pelo qual a fenda dualista possa ser evitada ainda que se conserve o suficiente de dualismo para que se mantenha a nossa humanidade –, então é dever da filosofia descobrir.
Primeira nota do tradutor:
Para os trechos de Nietzsche utilizei a versão de A Vontade de Poder da Editora Contraponto. Para os trechos de Heidegger foram utilizadas as edições de Caminhos da Floresta, da Calouste Gulbenkian, e Ser e Tempo da Editora Vozes. Rogo a alguma editora que, um dia, publique o Gnostic Religion, dado que o livro é capital em seu campo de estudo. Caso necessário eu ajudo a traduzir.
Segunda nota do tradutor:
Talvez o grande mote do existencialismo seja entristecer-se pelo universo não ligar para ele; abrace seu amigo existencialista para que ele entenda que existe “cuidado” no mundo e venha para o lado certo da força, a saber, a fenomenologia realista.
Caso o leitor tenha aprendido algo com nossos textos, favor considerar uma doação, via PIX [real] ou Lightning Network [Bitcoin], no código QR correspondente. Sua contribuição nos motiva a continuar fornecendo filosofia de forma simples, mas não simplificada.
Bibliografia citada e/ou consultada
- Fabrice Hajdadj – A Fé dos Demônios
- Friedrich Nietzsche – A Vontade de Poder
- Fustel de Coulanges – A Cidade Antiga
- Jean-Paul Sartre – O Existencialismo é um Humanismo
- Martin Heidegger – Caminhos da Floresta
- Martin Heidegger – Carta Sobre o Humanismo
- Martin Heidegger – Nietzsche Vol. 1
- Martin Heidegger – Nietzsche Vol. 2
- Martin Heidegger – Ser e Tempo
- Max Scheler – Da Reviravolta dos Valores
Notas:
[1] Convém distinguir entre a “desvalorização” do universo de teor gnóstico e sua “naturalização” levada a cabo pelo cristianismo. No gnosticismo antigo o universo é desnudado no sentido de ter sido revelado enquanto obra demiúrgica ou de alguma potência inferior ao Deus absconditus que, por conseguinte, nada tem que ver com a criação enquanto tal. No cristianismo o universo é desnudado no sentido em que deixa de ser o habitat dos deuses e deixa, ele mesmo, de ser divino como o é, por exemplo, na cosmologia platônica, para ser obra de Deus e refletir, em si, aspectos de seu criador. Sendo assim, para os cristãos, o universo é bom e, dado que mantém o status de totalidade divinamente ordenada, mantém ainda o status de cosmo. [N.T.]
[2] Jonas indica que se leia as páginas 248-9 do Gnostic Religion. É interessante conferir o progresso dessa “revolução” no livro IV de A Cidade Antiga. [N.T.]
[3] Ou seja, o “plebeu”, vivendo numa sociedade cosmológica, via a unidade do império enquanto unidade do cosmos: se o império não está nem aí para o plebeu então o universo também não está; se o império assedia o plebeu, então o universo também. Se o plebeu sofre mesmo sem ‘merecer’, então urge que ele deve pertencer a outra ordem que não a posta. Sendo assim, o antigo ordenamento do império se tornou uma “máquina de produção de gnosticismo”. [N.T.]
[4] A Vontade de Poder § § 2; 3. [N.A.]
[5] A edição portuguesa se chama Caminhos da Floresta, e foi nela que conferimos a citação (p250). É possível encontrar explicações adicionais em Martin Heidegger – Nietzsche Vol. 1 p.248: “Em todo caso, encontramo-nos diante de uma pergunta! Portanto: Deus não está morto? Sim e não! Sim – Ele está morto. Mas que deus está morto? O Deus “moral”, o Deus cristão está morto; o “Pai” junto ao qual buscamos refúgio, a “pessoa” com a qual negociamos e procuramos nos explicar, o “juiz” com o qual adjudicamos, o “doador de recompensas” por meio do qual podemos ser pagos por nossas virtudes, aquele Deus com o qual fazemos nossos “negócios” – mas onde está afinal a mãe que aceitaria ser paga pelo amor que tem por seu filho? Quando Nietzsche diz a sentença “Deus está morto”, ele não tem em vista senão o Deus visto em termos “morais”. Ele morreu porque os homens O assassinaram, e eles O assassinaram, na medida em que estimaram a Sua grandeza como Deus a partir da pequenez de suas carências por recompensa e, com isso, O apequenaram; esse Deus foi destituído de Seu poder porque Ele era um “engodo” do homem que nega a si mesmo e a vida (VIII, 62).” [N.T.]
[6] Página 251 na edição consultada. [N.T.]
[7] É possível argumentar, nesta clave, que o agnosticismo é uma concepção niilista. [N.T.]
[8] J. P. Sartre, L’existentialisme est un humanisme, pp. 33 f. [N.A.]
[9] Jonas indica que se leia as páginas 291-2 do Gnostic Religion. [N.T.]
[10] Heidegger, Ueber den Humanismus. Frankfurt 1949, pág. 13. [N.A.]
[11]“Animal”, para os gregos, não significava “besta”, mas qualquer “ser animado”, incluindo demônios, deuses, estrelas animadas –e até mesmo o universo como um todo (cf. Platão, Timeu 30 C): não há “rebaixamento” implícito algum em incluir o homem nesta escala; sendo assim, o fantasma da “animalidade” em sentido moderno espreita sorrateiramente. A realidade é que o “rebaixamento” heideggeriano consiste em colocar o “homem” em qualquer escala, i.e., em num contexto natural enquanto tal. A desvalorização cristã do “animal” para “besta”, o que de fato torna o termo utilizável apenas em contraste com “homem”, reflete meramente uma maior ruptura com a posição clássica – uma pela qual o homem, enquanto único possuidor de uma alma imortal, jaz inteiramente “fora” da natureza. O argumento existencialista parte deste fundamento: o jogo de ambiguidades semânticas de “animal” oculta essa mudança de fundamento na qual a ambiguidade mesma é uma função e não atende à posição clássica à qual se alude ostensivamente. [N.A.]
[12] Todo o afã contemporâneo contra a definição de homem advém dessa concepção. Desde o jovem com crise de identidade até a música metamorfose ambulante são reflexos da popularidade da tese que, dada sua inteligibilidade facilitada, fornece o fundamento para todo tipo de pulsão orgulhosa. [N.T.]
[13] Clemens Alex. Exc. Ex Theod. 78. 2 [N.A.]
[14] Este é, de certa forma, o fundamento do pensamento antinatalista; é antiético dar origem a seres que “nascem para sofrer”. Urge que comentemos um pouco o antinatalismo. Grosso modo, a tese advoga que ter filhos é antiético por razões que podem ser compiladas numa equação em que a quantidade de sofrimento potencial e inerente à vida torna o nascer um ato cruel. Há formas mitigadas de antinatalismo, como a praticada por pequenos burgueses, e que divide-se em duas teses principais: a) deve-se priorizar a carreira em vez de filhos pois o bem-estar e a vivência prazerosa é prioritária; b) deve-se impedir que o mais pobre tenha filhos pois ele não possui condições de criar, i.e., incapaz do fornecimento de vivência prazerosa; fica o apontamento de que, no caso, a vida fica submissa à renda, como apontado por Scheler em Da Reviravolta dos Valores; mas esse não é nosso assunto. O que importa é que, trocando em miúdos, o antinatalismo prega que o não-ser, ao menos do ponto de vista ético, é superior ao ser na medida em que não-sendo o homem não pode sofrer. Extremando o argumento, não existir é melhor do que sofrer. Nos termos de um antinatalista famoso, não existir é melhor do que “ser posto numa situação que sabemos ser problemática (difícil, árdua, de sofrimento certo)”; por conseguinte, não ter filhos não pode ser justificado caso tomemos a ética como uma disciplina que exige que não coloquemos pessoas e tais situações – o que, talvez, nos faça pensar se realmente é proporcional desejarmos não existir após bater o dedo mindinho na quina da cama. Ainda nos termos dele, caso tomemos a situação de forma radical, enquanto nascidos, deveríamos “considerar intoleráveis as dores e sofrimentos” da vida dado que poderiam ter sido evitados por nossos pais caso tivessem usado camisinha. Não é preciso muito esforço para observar como a acosmia pinga para fora do barril. Na concepção de Fabrice Hadjadj, o antinatalismo é uma paródia de misericórdia, “misericórdia pirateada”, misericórdia demoníaca, uma falsidade comparável à secularização da caridade na forma de altruísmo, onde se substitui o amor pela imago dei no outro pelo ‘amor’ pela abstração que leva o nome de “humanidade”: “O grande blefe na nossa cristandade descristianizada consiste em recuperar a compaixão para voltá-la contra Cristo: a compaixão de estômago sensível contra aquela do coração ardente. Provavelmente teria consistido em fazer Maria abortar, para lhe evitar o repúdio a esse filho destinado ao suplício monstruoso.” – A Fé dos Demônios p.172 [N.T.]
[15] Falo aqui de Sein und Zeit, não do Heidegger posterior que certamente não é “existencialista”. [N.A.]