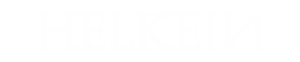Por Louis Lavelle
Tradução, Notas e Comentários de Johann Alves
I. MATERIALISMO OU ESPIRITUALISMO
Todas as discussões entre os homens que se estendem desde o domínio da especulação, que é o da filosofia, ao domínio da prática, que é o da política, giram em torno da escolha que o pensamento deve fazer entre o materialismo e o espiritualismo. O materialismo tem a seu lado o respaldo dos sentidos, que só concedem credibilidade ao que é visível ou tangível, bem como o testemunho da ciência, que não quer conhecer senão o objeto, ou seja, tudo o que pode ser matematicamente medido e empiricamente confirmado. Assim, à primeira vista, parece que o materialismo detém uma vantagem incontestável. Por outro lado, o espiritualismo invoca a voz da consciência em defesa de um mundo invisível e secreto que pensamos existir somente para nós, que não oferece resistência nem solidez e que se desvanece tão-logo começa a se formar. Entretanto, esse mundo não é menos real que o mundo físico? Não seria ele apenas um mundo de aparências e reflexos, uma perspectiva subjetiva da qual nosso corpo é o epicentro? Ou será necessário afirmar que é nele que reside a verdadeira realidade, e que as coisas, tendo existência apenas nele e em relação a ele, devem ser chamadas de aparências ou fenômenos? Deste modo, duas doutrinas de sentidos opostos se constituem, uma das quais coloca o ser ao lado do objeto e considera a consciência como uma ilusão, ao passo que a outra coloca o ser ao lado do espírito e considera o próprio objeto como um simulacro.
II. NÃO SAIR DA EXPERIÊNCIA
É o problema apresentado por essas duas formas de realidade que devemos tentar resolver. Mas ele só pode ser resolvido dentro dos limites da experiência, de modo que a solução que encontrarmos terá necessariamente de ser aceita — desde que a experiência seja realizada da maneira correta: e o raciocínio só intervirá para reconciliar os aspectos dessa experiência, e não para transcendê-la.
Isso significa que, em relação à matéria, só podemos questionar se ela existe por si mesma e se pode ser considerada como a origem do espírito, ou se, pelo contrário, ela o pressupõe e dele depende, ao aprofundarmos a experiência que temos do objeto conforme ele nos é apresentado pelos sentidos e analisado pela ciência, e jamais devemos supor que a matéria possa ser outra coisa para nós além da realidade exatamente como ela nos é dada. E mesmo se observarmos que este dado é, por si mesmo, deformado, limitado e miserável, não podemos pôr em dúvida de que tudo o que o ultrapassa, independentemente de sua riqueza e de seu mistério, é ainda um dado possível, e que é propriamente o carácter de ser-dado (por mais elástico que seja) o único a nos permitir defini-lo como um ser material
Da mesma forma, quando se trata do espírito, será suficiente para defini-lo aprofundar a própria experiência que temos da consciência, sem jamais ultrapassá-la. Deste modo, o espírito não será algo transcendente que deveríamos postular independentemente de qualquer experiência, pois, se ele é transcendente à experiência do objeto, não é transcendente ao ato da consciência como tal. É este mesmo ato que o constitui, de tal forma que ele nunca é uma realidade dada, mas sim o próprio ato que faz com que a realidade nos seja dada, quer ela pré-exista a este próprio ato, quer ela dele provenha como expressão tanto do seu poder, quanto da sua limitação. Tais distinções devem permitir que todas as formas de realismo e idealismo aceitem esta definição de espírito, sem alterar as suas teses fundamentais
III. O ATO E O DADO
Surpreende-nos, entretanto, a dupla afirmação de que não só a matéria é uma realidade dada, mas que toda realidade dada é material, e de que o espírito é o ato da consciência pelo qual toda realidade é dada, embora ele mesmo jamais seja dado.
E quanto ao primeiro ponto, argumentar-se-á que a matéria é aquilo que tem uma existência externa a nós, de tal forma que ela nunca é propriamente dada, e que o dado é, ao contrário, os estados imediatos da consciência, como Bergson tentou estabelecer em uma tese célebre, que em nada nos pareceu paradoxal. Todavia, responder-se-á, por um lado, que essa existência externa a nós é, de fato, uma existência no espaço, que nos é dada como diferente de nós, embora em relação conosco, e que todos os esforços para definir uma exterioridade independente da representação do espaço estão condenados de antemão como quiméricos e até mesmo como contraditórios. E mostrar-se-á, por outro lado, que nenhum estado de consciência é um dado verdadeiro, pois, no sentido estrito, a consciência não conhece estados: ela se aplica, é verdade, a um objeto que lhe é dado, seja para pensá-lo, sofrê-lo ou transformá-lo, mas em si mesma ela nunca é mais do que o ato que o pensa, sofre ou transforma.
Quanto ao segundo ponto, inicialmente nos será objetado que, mesmo que se suponha que o ato seja a própria operação do espírito, o espírito não pode ser identificado com o ato, mas apenas com o ser que age; em seguida, que todo ato de que temos experiência é ele mesmo uma ação do corpo. Ora, essas duas objeções se fundem numa só: pois pedir que haja um ser, mesmo invisível, cujo ato seja o produto, é conceber toda a realidade sob o modelo de uma coisa ou de uma propriedade dessa coisa, é rejeitar o testemunho da experiência que nos mostra em toda coisa o efeito de um ato que a representa, a cria ou a modifica. Além disso, é vão objetar dizendo que esses atos são múltiplos de vez que a matéria é una, uma vez que eles próprios são múltiplos como os corpos e implicam, como eles, uma unidade que não cessam de dividir, mas que é a unidade de uma atividade anterior a qualquer determinação; ou ainda, que a matéria é estável e o espírito evanescente, pois se pode afirmar, pelo contrário, que é a matéria que se perde no devir e que o espírito é um poder que sempre temos à disposição. Por fim, pretender que esses atos pressupõem um sujeito, que é precisamente o corpo, e acreditar que assim tornamos o espírito desnecessário, é cometer um grave sofisma que consiste em confundir um movimento com um ato — o que repugna mesmo à experiência mais comum. Pois ninguém aceitará identificar o ato com um movimento, nem reconhecerá nada mais em sua consciência, mesmo quando empregar o termo “estado”, do que um ato exercido ou contrariado
IV. TRANSCENDÊNCIA
Poder-se-ia pensar que assim eliminamos toda a transcendência. Mas isso não é verdade. Gostaríamos apenas de atribuir à palavra “transcendência” um significado que pudesse ser aceito por todos, tanto por aqueles que a reivindicam quanto por aqueles que a rejeitam. Pois há um além da nossa experiência atual de onde ela haure tanto o que a limita quanto o que permite que ela se enriqueça; ele é o fundamento de toda experiência real e de toda experiência possível, mas é contraditório imaginar que ele possa ser objeto de uma experiência separada, de modo que se pode dizer que ele é de fato inacessível, embora seja dele que toda experiência participe e que a sua própria essência, inseparável da nossa experiência no momento em que ela se constitui, seja ser participado. Ora, ninguém contesta esse além da nossa experiência que sempre suscita uma experiência nova e mais profunda e que sempre a ultrapassa. Ele é essa ultrapassagem mesma, ou melhor, a infinitude dessa ultrapassagem correlativa de cada experiência particular; ele é a fonte da nossa experiência que, por uma ilusão de perspectiva, consideramos também como sendo o seu termo.
Entretanto, a oposição entre o ato e o dado nos permite adquirir uma certa experiência dessa transcendência que acabamos de definir como o além de toda experiência possível. Pois, embora o ato e o dado sejam sempre inseparáveis, aquele que não quer reconhecer outro domínio além do domínio do dado, jamais incluirá no ser o ato sem o qual não haveria dado algum: essa é a posição da ciência e do materialismo. O ato é transcendente a todo dado, embora ele seja objeto de uma experiência própria, que é a experiência da sua realização. Aqui, a transcendência é apenas a de uma forma de experiência em relação a outra; ela é, por assim dizer, uma transcendência.[1] Entretanto, toda transcendência é relativa a algum dado. E desse modo se torna compreensível por que um dado, na medida que é simplesmente um dado, não seja transcendente a nada; ele é a própria definição de imanência.
Contudo, um dado possível é transcendente a todo dado real, pois ele não é senão o poder de atualizá-lo: daí decorre que toda forma de idolatria consiste em considerar como transcendente um dado já atualizado — ou seja, uma coisa imaginária; decorre também que não há nenhuma forma de transcendência que não seja a de um ato, e que todo ato é transcendente aos seus efeitos. Portanto, eu direi que sou transcendente a mim mesmo, na medida que não me reduzo aos meus próprios estados; que outro ser é transcendente à experiência que tenho dele, na medida que ele se constitui por um ato interior do qual só conheço a manifestação; e, por fim, que há uma transcendência absoluta inseparável da experiência da participação, que todas as formas particulares de experiência não cessam de imanentizar.[2]
V. UNIVOCIDADE
Depois de termos oposto, dentro da própria experiência, o ato e o dado, e de termos reconhecido nessa oposição a oposição clássica entre transcendência e imanência, a nossa reflexão deve agora se voltar para considerar esses dois termos como incapazes de serem dissociados e como constituindo, através de sua união ou anteriormente à sua dissociação, a unidade desse outro termo ao qual damos o nome de ser, e que, se tentássemos defini-lo de maneira primitiva e isolada, pareceria vazio de qualquer conteúdo, ou seja, impossível de distinguir do nada.
1) Ao afirmarmos a unidade de significado da palavra ser e a separação absoluta entre o ser e o nada, que é a separação entre afirmação e negação, que impede que o nada seja objeto de um juízo que não negativo, será necessário admitirmos que o ato e o dado são ambos compreendidos dentro do mesmo ser. Isso evitará a tendência muito comum de identificar o ser com o dado e de fazer do próprio ato um simples modo de transição entre o nada e o ser. A univocidade do ser nos obriga a atribuir tanto ser ao ato quanto ao dado, ao inteligível quanto ao sensível, à idéia quanto à coisa, ao possível quanto ao real: caso contrário, seríamos incapazes de nomeá-los. São diferentes modos do ser, cada um expressando uma determinação particular. Isso deve levar até mesmo o materialista a admitir que existe uma forma de existência propriamente espiritual que ele não pode negar, mas apenas subordiná-la e reduzi-la.
2) Mas a palavra “univocidade” tem em si mesma uma outra acepção: pois não basta dizer que o ser contém em sua extensão tudo o que pode ser afirmado. Ele é também a unidade de compreensão de todo o afirmável. Pois, de outra forma, como se poderia afirmar o ser de qualquer uma de suas determinações, ou seja, incluí-las em sua extensão? É por isso que não há ato que não implique uma relação com um dado que ele próprio se dá, nem inteligível que não implique uma relação com um sensível ao qual ele se aplica, nem idéia que não implique uma relação com a coisa da qual ela é idéia, nem possibilidade que não seja a possibilidade de uma realidade que ela invoca e à qual ela sempre se refere.
3) Finalmente, essa solidariedade entre o ato e o dado, que os torna necessários um ao outro, cria entre estes dois termos uma reciprocidade; mas uma reciprocidade variável, de tal maneira que, de acordo com o grau de nossa tensão interior, ora é o ato que prevalece, ora o dado — sem, no entanto, impedir a sua correspondência, que diversifica infinitamente o dado à medida que o ato se torna mais perfeito e mais puro.
VI. NEGAÇÃO DO PARALELISMO
Essa correspondência variável, porém, revela a extraordinária insuficiência da doutrina do paralelismo, que claramente se mostra como uma indigência do pensamento. Porque não existem dois mundos em que um seria uma simples cópia do outro, mas sim um único mundo composto de elementos articulados e interdependentes.
O primeiro erro e o mais grave é considerar o psicológico como um mero reflexo do fisiológico, de tal maneira que nada mudaria em nossa vida se houvesse apenas o corpo e, nele, todas as notas que produzem na consciência a representação do mundo. Pois, se o corpo participa de uma tal representação, dela ele é o centro que nos afeta; ou seja, que nos revela os nossos limites e a esfera da nossa pertença, de modo que o que representamos é o que acontece fora dele e não dentro dele. Ele não é nada mais do que a referência em relação à qual se cria essa perspectiva que temos sobre o mundo; e ela mesma é imanente ao mundo. Em vez da imagem de duas linhas paralelas, devemos substituí-la pela de um foco donde partem infinitos raios direcionados a todos os pontos da periferia.
O segundo erro é pensar que essa correspondência entre uma série de eventos corporais e uma série de eventos da consciência, seja suficiente para criar uma representação do mundo. Pois, além do fato de que não saberíamos muito bem em que poderia consistir essa correspondência se o estado de consciência não fosse a consciência de determinado estado do corpo (o que quase sempre ignoramos); como poderia todo o paralelismo ser outra coisa senão a invenção duma consciência superior aos dois termos que ela compara e que no mundo busca um objeto privilegiado — a saber, o corpo — ao qual ela possa se ligar para dar conta do surgimento dos seus estados, ou seja, da sua própria limitação?
Finalmente, o terceiro erro é precisamente considerar o pensamento e o corpo como sendo duas séries separadas, em que uma seria em relação à outra uma sorte de emanação frágil e inútil. Porque o espírito antecede o corpo como uma possibilidade que se encarna no corpo: o objeto representado é apenas um objeto possível se o opormos ao objeto real, o que acontece ainda mais se se trata de um objeto imaginado e até mesmo dum objeto recordado, que só a memória dispõe. Contudo, a distância ontológica que separa o espírito do corpo é aquela que separa não propriamente o possível do real, mas sim uma potência que nos permite constituir, através de um ato de liberdade, a nossa essência eterna a partir de um dado atual que lhe serve de prova e instrumento, mas o qual nunca deixa de nos escapar e evadir.
VII. REALIDADE DO SUBJETIVO
A maior e mais comum forma de idolatria é querer que o mundo dos objetos seja a única realidade. Mas nós o dizemos sem o acreditar; ou pelo menos as palavras nos permitem dizê-lo, mas a vida nos impede de o assentir. Pois vivemos em um mundo puramente subjetivo; e o mundo a que chamamos de externo não é nada fora de sua relação com ele: ele é tanto sua limitação quanto seu adorno.
Que outro ser, afinal, poderíamos conhecer senão aquele que é nós mesmos? Em comparação com ele, o mundo que nos rodeia é apenas um espetáculo; ou seja, uma aparência. Porém, esse espetáculo desmorona e essa aparência se dissipa, assim que a nossa vida entra numa daquelas crises agudas em que o nosso destino interior encontra-se em jogo. Ele passa constantemente diante dos nossos olhos, sem nem deixar vestígios senão em nossa memória. Nada dele permanece na morte; ou seja, no momento que o abandonamos e quando todo o nosso ser, recolhido em si mesmo, não mais tem espetáculo de nada e não é mais um espetáculo para ninguém.
Ao longo da minha própria vida, então, eu não posso ter outra experiência do ser senão no ser que sou. Porém, o ser que sou não é meu corpo, ao qual estou ligado e que me afeta; é essa possibilidade que tenho de me fazer, que permanece sempre indeterminada até que eu a tenha atualizado, e que me obriga a me voltar constantemente para o futuro, libertando-me da escravidão do dado. Assim, o eu é o que posso ser além do que sou; mas é também tudo o que vivi e já realizei e que subsiste em mim na forma de memórias de algum modo desencarnadas. O que é, então, essa consciência que tenho de mim mesmo, que é una com a minha própria existência, senão essa oscilação perpétua de minha atenção entre o que posso ou aspiro ser, e que exige ação minha; e o que deixei de ser, que é também o que me tornei, e que é o único conteúdo em mim que posso conhecer? Assim, cada um pode testemunhar que todo o seu ser está ocupado pela dupla contemplação do futuro e do passado; e se alguém argumentar que a própria essência do ser é permanecer no presente, não será difícil replicar que isso ocorre não no presente do dado, onde o mundo nos parece um espetáculo sempre fugaz, mas sim no presente do ato, onde ocorre a ininterrupta conversão do que estou buscando me tornar, naquilo que eu já me tornei.
Portanto, para onde quer que eu direcione o meu olhar; seja para o lado do objeto, que é apenas representação; seja para o lado do futuro, que é apenas vontade, desejo ou esperança; seja para o lado do passado, que é apenas memória ou arrependimento; não encontro em mim outra realidade senão a subjetiva. E é a relação entre esses diferentes modos de subjetividade que forma não apenas a idéia do que sou, mas de tudo o que pode ser.
VIII. SUBJETIVIDADE TRANSINDIVIDUAL
No entanto, toda realidade subjetiva me parece ter um caráter individual. É por isso que também me parece frágil e, até certo ponto, ilusória. Pois acredito que a verdadeira realidade subsiste em si mesma; ou seja, independentemente de sua relação comigo — tal é a razão pela qual eu a considero como universal por direito. É essa dupla propriedade de existir em si mesma e de ser a mesma para todos, que define para nós a noção de objeto. Mas essas duas propriedades são contraditórias: elas não são inseparáveis uma da outra como se pensa, pois, 1) o ser que eu coloco “em si mesmo” nunca pode se tornar um objeto para mim; a palavra “objeto” só faz sentido em relação comigo, como o termo a que se aplica o intelecto ou a vontade; e 2) o que é universal não é necessariamente objetivo, mas pode ser, ao contrário, a raiz comum das diferentes subjetividades individuais e precisamente fundar nelas a subjetividade como tal.
Em primeiro lugar, deve-se reconhecer que há um domínio da subjetividade no qual as diferentes consciências são distintas e, ainda assim, se compreendem mutualmente; assim como há um domínio do espaço onde os corpos são circunscritos, embora obedeçam às mesmas leis. A própria unidade do mundo se deve ao fato de ele estar envolto na mesma luz, seja ela material ou espiritual; e é a esse testemunho que apelam tanto o intelecto quanto o olhar.
Mas há mais: a subjetividade reside em uma atividade puramente interior que se atualiza tanto por meio das operações quanto por meio dos estados; sendo os estados, de algum jeito, o limite das operações. Essa atividade, porém, na medida que está presente e não é utilizada, é, em relação a mim, apenas uma potência: mas é em direito uma potência infinita que abrange tudo o que se pode pensar e tudo o que se pode fazer. Como ela poderia ser, em mim, diferente do que é nos outros? Todos os seres que estão no mundo compartilham do seu exercício, até onde vai as suas forças. E é por isso que eles se opõem; mas que, nessa mesma oposição, eles se comunicam: pois eles não apenas bebem da mesma fonte, mas cada um ainda descobre, no fundo de si mesmo, essa possibilidade que o outro atualiza e que o diferencia.
Assim, a “subjetividade universal” não é, conforme pensamos, algo abstrato, tipo um objeto esquemático do pensamento obtido pela eliminação das diferenças: é, porém, o poder concreto e indivisível donde surgem todas as diferenças, sem que elas jamais o esgotem. E o diálogo entre as consciências individuais só se faz possível na forma (que é, de algum modo) manifesta desse diálogo interior, que continua incessantemente dentro de nós entre o infinito e o finito, que constitui a própria consciência.
IX. A EXISTÊNCIA DA POTÊNCIA E DA POSSIBILIDADE
Mas as palavras “potência” e “possibilidade”, que acabamos de usar, podem suscitar algumas dúvidas. Porque sempre nos lembramos das críticas que transformam a potência numa explicação puramente verbal de um efeito constatado, e da possibilidade numa visão retrospectiva de um acontecimento pela qual acreditamos poder antecipá-lo, uma vez que ele tenha ocorrido. Mas não se pode negar que eu carrego em mim uma atividade que nem sempre está em uso, e que deve ser reconhecida como uma potência indeterminada na medida que ela não é atualizada, e nem que eu antecipe o futuro através do pensamento ao evocar possibilidades que, é verdade, precisam do jogo das circunstâncias ou de uma decisão da vontade para se realizarem. Portanto, a potência é o próprio ser da atividade, considerada como a razão de ser dos efeitos que ela engendra; e a possibilidade é o próprio ser do pensamento, considerada como a razão de ser dos objetos aos quais ele se aplica. É fácil perceber que a potência e a possibilidade são consideradas como seres diminutos (ou até como quimeras), apenas por aqueles que reduzem o ser ao que afeta o meu corpo ou ao que é dado no campo da minha experiência. Não obstante, em relação a estas afetações ou a estes dados, a potência e possibilidade desfrutam dum privilégio incomparável. Não que elas os precedam no tempo e já os contenham de forma virtual, pois talvez elas não estejam no tempo e só se tornem temporais no momento em que são colocadas em ação. Elas não são coisas, mas a implementação mesma da consciência em seu duplo papel intelectual e volitivo. Ao analisar-se a si mesma, a consciência se reduz a um conjunto de potências: ela se torna um cadinho no qual só encontra possibilidades que ela nunca deixa de elaborar.
Nós sempre discutimos sobre a realidade do psicológico como tal, mas sem nos darmos conta de que a sua realidade é a possibilidade na medida em que esta se faz percebida, e que ela só se atualiza no mundo material por meio da mediação do corpo. Porém, através do psicológico, o espírito revela a sua atividade própria, que é primeiro evocar o possível e depois buscar incorporá-lo em coisas externas e perecíveis, para testá-lo e convertê-lo numa posse interior e imperecível: estas são as memórias que, ao se destacarem do acontecimento que as gerou, tornam-se potências que temos sempre à disposição, o que mostra com grande clareza a correspondência entre a possibilidade em relação ao dado e a potência em relação ao ato que fornece o dado a si mesmo. E quem duvida que a potência é sempre superior ao seu uso? Ou que a possibilidade de uma coisa seja a sua própria essência, que a sua aparência manifesta, mas ao mesmo tempo esconde?
Finalmente, qual seria a origem de todas essas possibilidades cuja consciência parece ser o ponto de ancoragem, senão uma atividade onipresente e infinita da qual a consciência não para de extrair e dividir segundo o jogo das circunstâncias e a iniciativa da sua liberdade? Mas elas só são possibilidades em relação ao uso que delas fazemos; e a sua fonte no absoluto é ela mesma uma eficácia atual e sempre disponível que, como tal, ainda não é a possibilidade de nada.
X. A PARTE E A PARTICIPAÇÃO
Eis que assim nos encontramos transportados para um mundo puramente espiritual, onde não lidamos senão com uma possibilidade que se transforma em memória. Este é o único significado que podemos dar à vida. Tal transformação se produz através do mundo assim como ele nos é dado, mas cujo sempre repudiamos ao afirmar corretamente que ele está fora de nós. Ele nunca deixa de nos estar presente, mas está sempre aparecendo e desaparecendo. Nós nunca fazemos mais do que atravessá-lo. Ele não é nada mais do que o instrumento da formação do nosso ser espiritual.
Mas como estamos imersos neste mundo devido às nossas limitações e à presença constante que ele nos impõe, como temos um corpo que nos prende a ele e sem o qual os diferentes seres deixariam de aparecer uns aos outros e, por conseguinte, de existir uns para os outros, e de entrar em uma comunidade fundada em ações recíprocas, não há dificuldade em considerar o mundo como um todo do qual somos nós mesmos uma parte. Ninguém tem dificuldade com tal representação, e prontamente aceitaríamos a idéia de que o mundo é a soma de suas partes se ele pudesse ser considerado como um todo acabado, em vez de ser um todo que está constantemente se formando; e que, nesse sentido, é propriamente infinito, de modo que todos os seres encontram nele o seu lugar, embora ele próprio jamais possa ser reduzido à soma deles.
Contudo, o mundo e nosso corpo, que ocupa o centro dele, não são nada mais do que aparências ou figuras do verdadeiro ser. O verdadeiro ser só pode ser interior a si mesmo; mas reduzir essa interioridade à nossa consciência individual, é raciocinar como se o mundo se reduzisse ao corpo. A mesma relação que existe entre as operações características do eu e o ato que as limita e divide, também se encontra entre o espaço que envolve todos os corpos e o lugar ocupado pelo meu próprio corpo. E assim como digo que meu corpo faz parte do mundo, devo também dizer que toda operação da minha consciência é uma participação no ato incondicionado do qual ela depende, juntamente com todas as operações que podem ser realizadas por todas as outras consciências. E se alguém argumentar que essa comparação é ilegítima porque o mundo além do corpo é um mundo que ao menos eu percebo, ao passo que um ato que eu não realizo é para mim como se não fosse nada, eu responderia que isso não é de todo verdadeiro. Primeiramente, porque o próprio olhar que lanço sobre o mundo ultrapassa o eu, não apenas por sua operação, mas também por seu objeto; em segundo lugar, porque a infinidade de possibilidades que nunca deixo de evocar e que dividem a unidade do ato puro, colocando-a, por assim dizer, ao nosso alcance, não pode ser considerada como minha, uma vez que é entre essas possibilidades que escolherei precisamente aquela que tornarei minha e que, doravante, formará a própria essência do meu ser espiritual.
XI. O TEMPO
Parece que é o tempo que engendra todos os problemas da metafísica, uma vez que esses problemas se reduzem certamente a três: o da relação entre o permanente e o variável, o da origem das coisas, e o do fim para o qual elas tendem. Não só é preciso dizer que esses problemas pressupõem o tempo, mas também que todos os três estão envolvidos no problema do tempo, de tal forma que o próprio tempo pode ser considerado como o único problema metafísico.
No entanto, não podemos considerar o tempo como tendo uma realidade objetiva, pois é impossível postular tal realidade sem que o próprio tempo a destrua. A partir de então, entendemos que a metafísica não possa ser considerada como a ciência do objeto absoluto sem ao mesmo tempo a considerarmos como a ciência da eternidade, sendo esta última entendida como a negação do tempo: o que faria do tempo um mistério incompreensível. Porém, é evidente que, se o ser é ato e se o único ato de que temos experiência é um ato de participação, então a gênese do tempo deverá aparecer como inseparável do seu próprio exercício. O que não significa que, apesar das aparências, se possa dizer que o ato (e até mesmo o próprio ato da participação) se realize no tempo, pois a característica própria de qualquer ato é ser exercido no presente, e talvez até constituir a própria presença do presente, de tal modo que o ato, considerado em si mesmo, é onipresente; ou seja: eterno —, e que o ato de participação, na medida em que é ato, nos faz penetrar na eternidade. Porém, o eu não é exclusivamente um ato: ele é uma mistura de atividade e passividade; e todo ato para ele relaciona-se com um dado. Mas ele sempre ultrapassa qualquer dado, o que significa que ele cria para si mesmo um futuro que nada mais é do que uma pura possibilidade até o momento em que ela se atualiza em um dado novo; que, por sua vez, também há de ser superado. Entretanto, a própria essência deste dado é ser eminentemente transitório; ele cai no passado onde voltaria ao nada se não fosse a memória que o ressuscita, assim como a possibilidade não é nada sem o pensamento que a evoca. Por outro lado, na memória, a possibilidade adquire a densidade que antes lhe faltava: ela adere ao nosso próprio eu, que não pode mais apartar-se dela; mas que doravante poderá usá-la bem como quiser.
Isso justifica uma tripla conclusão: 1º) que o próprio tempo expressa uma procissão do eu na eternidade, uma vez que é igualmente por meio de um ato presente que pensamos a possibilidade, que a atualizamos em um dado, e que a fazemos reviver pela memória. 2º) que o tempo expressa uma conversão, através de uma forma de objetividade que nos torna solidários e dependentes de todo o universo, não apenas da possibilidade indeterminada em uma memória determinada, mas da possibilidade que era uma interrogação em uma memória que é uma posse; ou ainda, da possibilidade que ainda não era nossa em uma memória que somos nós. 3º) que o tempo não contém mais do que uma seqüência de dados que, por si mesmos, são sempre efêmeros. Não podemos colocar no tempo nem a possibilidade antes de realizá-la, e nem a memória depois que ela já se realizou, mas apenas a transição de um para o outro. Aqueles que consideram o tempo como a substância das coisas, consideram como real apenas a aparência dos dados na estreitura do instante. Porém, também ocorre no instante a coincidência fugaz do tempo e da eternidade; e a participação precisa do tempo para fazer dele um meio de acesso à eternidade.
XII. A ESSÊNCIA
Também é o tempo que nos permite definir a relação entre a essência e a existência. Pois a natureza da existência é realizar incessantemente a conversão da possibilidade em memória. Portanto, ela está situada no presente, assim como tudo o que é real. Mas, no próprio presente, nós consideramos a existência sob dois aspectos distintos: dependendo se a reduzimos à sucessão das diferentes situações nas quais ela está envolvida e que, em conjunto, constituem o destino; ou se, ao contrário, a consideramos como o ato pelo qual, no seio de cada situação, o possível vem a se realizar — então a existência é identificada com a liberdade.
Mas o que deve ser entendido por essência? Parece que a característica da essência é ser aquilo cuja existência é afirmada, e que constitui o seu coração e a sua unidade. A essência, portanto, deve ter um caráter temporal;[3] e a existência, na medida em que implica o tempo, sempre aparece como a sua expressão, ou, mais precisamente, como o seu desenvolvimento. No entanto, é evidente que as palavras expressão e desenvolvimento não têm significado algum se a essência já contém, de forma plena e condensada, tudo aquilo que a existência um dia manifestará de forma parcial e dispersa. O que importa, portanto, é mostrar como a essência e a existência assumem uma função em relação à outra, de modo que nenhuma delas pode ser afirmada sem uma referência recíproca. E para isso, não é suficiente dizer que a essência precisa da existência para ter realidade — porque, sem a existência, ela não seria nada; e nem que a existência precisa da essência para ter um conteúdo — porque, sem a essência, ela não seria a existência de nada. Pois essa dupla afirmação mantém um caráter verbal até que se descreva a gênese que a justifica. Porém, tal gênese mostra claramente como a essência e a existência são triplamente inseparáveis, pois:
1) A própria natureza da existência é pressupor uma possibilidade que ela própria atualiza. Ora, a essência é, a princípio, essa possibilidade. Contudo, ela não precede à existência, como às vezes se pensa, porque seria contraditório dizer que algo preexiste à existência. Ela é suscitada pela existência mesma considerada em sua dupla forma: tanto em sua situação, como em seu ato de liberdade, que responde a ela para que ela possa se realizar. Neste sentido, a essência é uma possibilidade pura que ainda não é a nossa essência própria, mas que dependerá de nós torná-la nossa: ela está incluída no ser absoluto na medida em que ele é a origem e, por assim dizer, a fonte de todas as possibilidades.
2) Para que ela se torne nossa, precisamos assumir a responsabilidade por ela, aceitando encarná-la e dando-lhe um lugar no mundo. Mas ela só merecerá ser chamada de nossa no momento em que ela se desvincular da ação que a realizou, ou seja, da existência, e aderir ao nosso ser espiritual, não apenas como uma simples memória de um acontecimento, mas como uma “natureza” interior que adquirimos por meio dela e que não pode mais ser negada por nós.
Enfim, 3) quando buscamos o fator que faz com que o eu invente uma determinada possibilidade e ambicione realizá-la e torná-la sua, esse fator não pode ser outra coisa senão o valor. De modo que, sob esse aspecto, a essência recupera uma ascendência sobre a existência, da qual parecia ter sido destituída pela análise anterior. Pois se é a existência que suscita a essência como uma possibilidade pura, e se é a existência novamente que, ao realizá-la, a torna sua, é o valor exigido por tal possibilidade que explica que esse duplo processo possa ser realizado. De tal modo que a verdadeira essência é o valor, o que mostra por que a linguagem sempre confere à palavra “essência” um caráter laudatório, e por que vemos as coisas se afastarem de sua essência devido às impurezas que se misturam a ela; as nossas próprias ações muitas vezes são infiéis à nossa essência, como se dela carecessem por um efeito ora da nossa impotência, ora da nossa malícia.
XIII. O MUNDO
Podemos responder agora à dupla questão de que consiste o mundo e por que existe um mundo — questão esta que pode parecer frívola para todos aqueles que acreditam que a experiência da sua presença deve nos bastar. Entretanto, a função do espírito é justificar a existência do mundo; pois de outro modo, ele não mereceria o nome que lhe é dado. E ele só é capaz de o fazer porque isso é a sua própria justificação a si mesmo: o que significa que ele está constantemente renascendo; ou seja, dando o ser a si mesmo. Mas, longe de dizer que o espírito está no mundo e que constitui, por assim dizer, a sua ponta mais sutil, longe de dizer que o mundo é o efeito de uma expansão do espírito ou uma obra que ele produz, deve-se dizer que o espírito faz o mundo aparecer à medida que age, como a condição do seu exercício e como a expressão da sua limitação, ainda mais do que expressão do seu poder. O mundo é um dado formado por objetos em relação aos quais o espírito acusa a sua própria passividade, que ele só é capaz apreender através de um ato de percepção, cuja distância em relação a um ato de criação é bastante evidente, e que a tradição filosófica define pela oposição de uma forma e de uma matéria. Mas se o espírito não se encarnasse em um corpo, ele permaneceria no estado de pura possibilidade; não teria nenhum controle sobre o mundo; a sua existência não deixaria marca na trama dos acontecimentos; ele permaneceria dentro dos limites da sua própria subjetividade; não apareceria e não seria objeto de um juízo de existência por parte de ninguém.
Portanto, vemos agora em que consiste o significado do mundo: para o espírito, ele expressa o que limita; mas que, conseqüentemente, também sempre ultrapassa a sua própria operação. Por conseguinte, só há mundo para um espírito. Toda operação que ele realiza deve ser correspondida no mundo por um conteúdo que a atualize. E, no entanto, a própria característica do espírito é ser inteiramente interior a si mesmo: e não se pode dizer que a atividade do espírito se desenrola no mundo como se o mundo finalmente lhe desse a realidade que lhe falta. O mundo nada mais é do que o seu instrumento e o seu meio.
Na realidade, um espírito só pode encontrar em outro espírito uma resposta e um alimento. Talvez seja necessário afirmar que é somente na descoberta de outro espírito e na comunicação mútua com ele — naquilo que dá e naquilo que recebe — que cada espírito encontra simultaneamente o fim da sua operação e a sua própria confirmação na existência. Entre os espíritos, o mundo é uma testemunha: ele é, em relação a cada um deles, ao mesmo tempo uma exterioridade e uma superação; e parece que a característica do espírito é apenas superar a sua resistência. É, portanto, ao se encarnar no mundo, que o espírito atualiza todas as suas potências. É ao atualizá-las que ele se torna presente para todos os demais. Deste modo, é o mundo que separa os espíritos uns dos outros; ou seja, os individualiza, mas que também os une ou os retira da solidão subjetiva. Além disso, este mundo só existe no instante; ele está sempre desaparecendo, o que demostra claramente que ele não é nada senão pelo e para espírito, que, no entanto, é obrigado a atravessá-lo para realizar essa procissão entre o possível e a memória, e para estabelecer essa sociedade entre os espíritos, que são as duas funções onde se consome a própria vida de cada espírito.
XIV. O ESPÍRITO OU O PODER DE TUDO ESPIRITUALIZAR
Agora vemos o erro que haveria, seja como o materialismo, ao duvidar da existência do espírito, seja como o dualismo, ao considerá-lo como tendo uma existência comparável à da matéria e capaz de se opor a ela. Pois a matéria é a realidade na medida em que ela nos é dada; e, portanto, se impõe a nós de fora, ao passo que o espírito é um ato que realizamos internamente e que não é nada mais do que a sua própria realização. Dessa forma, é fácil entender por que o materialismo, precisamente porque considera toda realidade como dada, pode negar a realidade do espírito, que, de fato, nunca é dado; e também é fácil entender por que o dualismo, precisamente porque se recusa a aceitar que toda realidade seja uma realidade dada (ou seja, material), faz do espírito uma substância distinta da substância material, que só pode ser definida por negação: não se pode dizer nada além de que ele é imaterial.
Entretanto, é importante afirmar, contra o materialismo, que nem tudo é redutível à materialidade; e contra o dualismo, que o espírito não entra com a matéria numa mesma categoria, que é a da substância. E mesmo, parece melhor evitar a ambigüidade da palavra “substância”, que não convém nem à matéria (se esta não for mais do que um fenômeno), nem ao espírito (se este não for mais do que um ato e nunca uma coisa): isso evitará tanto de nos embaraçarmos no problema da unidade ou dualidade das substâncias, quanto nos permitirá definir a matéria e o espírito não apenas pela contradição que os opõe, mas pela conexão que os une.
Porque se nós mesmos só podemos descobrir o ser no único ponto em que coincidimos com ele, isto é, em nossa consciência (que é o nosso próprio ser), podemos ver que é apenas em relação a ele que a matéria pode assumir um significado, como aquilo que tanto nos limita quanto nos ultrapassa: ela é, portanto, o ser na medida em que é colocado por nós, mas como externo a nós; ou seja, conforme ele é apenas uma aparência. Há assim, na escala da participação, uma sorte de dupla e inversa preeminência: do espírito em relação à matéria e da matéria em relação ao espírito. Pois, por um lado, o espírito pertence ao mundo do ser, e a matéria ao mundo da aparência, de modo que, onde o espírito deixa de agir, a matéria deve desvanecer por si mesma. E, por outro lado, a matéria está sempre manifestada e o espírito sempre secreto, de modo que o espírito perdura no estado de possibilidade até que a matéria venha permitir que ele se realize. Assim, parece que o espírito nunca deixa de se enriquecer por seus contatos sucessivos com a matéria; e como poderia ser diferente, já que a matéria define os limites do seu exercício e traz constantemente o que lhe falta? Mas essa contribuição não é nada até que o espírito a tenha penetrado e a feito sua. Deste modo, compreende-se o duplo movimento ao qual o espírito se sujeita, que explica tanto a constituição do mundo material quanto a criação da essência individual: a saber, que ele deve sempre se encarnar; caso contrário, não seria nada além de uma virtualidade pura, e sempre se desencarnar, a fim de espiritualizar tudo o que existe.[4]
Caso o leitor tenha aprendido algo com nossos textos, favor considerar uma doação, via PIX [real] ou Lightning Network [Bitcoin], no código QR correspondente. Sua contribuição nos motiva a continuar fornecendo filosofia de forma simples, mas não simplificada.
Bônus: Recomendações de leitura ao interessado em Louis Lavelle.
por Helkein Filosofia
Comentário: Louis Lavelle pode ser visto como estranho a seu tempo: em um mundo prestes a afundar-se ou no niilismo ou em seus parentes, o filósofo resolveu tomar a direção inversa e fazer metafísica. O desespero, que alimenta tantos tipos de pensamento, nasce da constatação do abismo sob os pés; uma queda constante, um devir cruel, i.e, uma sensação de que nada há senão o caos que, uma vez camuflado por nossas elucubrações, volta do princípio dos tempos para nos pegar. Mas se é assim, o que a filosofia pode fazer? Ela pode fornecer bases fixas e certas, o regramento da realidade que nos mostra que o caos está antes em nossa incapacidade de compreender a ordem. O que o desesperado precisa não é constatar sua miséria e permanecer nela; ele não precisa amar sua miséria, amar seu estado decaído e crer que suportaria, impávido, um destino em que tudo se repetisse eternamente ou que fôssemos meros entes atirados no ser; o que ele [o desesperado] precisa é do instrumento final da filosofia: a disciplina do ser enquanto ser. Não sei se Lavelle pensou assim, mas o dado é que agiu como se tivesse — e talvez também por isso tenha se tornado um autor tão querido. Forneço aqui algumas sugestões de leitura ao interessado naquele que por vezes foi chamado de Platão do sec. XX.
Urge que sigamos a sugestão do autor e leiamos seus escritos populares. Sendo assim, em primeiro lugar, creio que a melhor porta de entrada seja o magnífico A Consciência de si; logo em seguida vem o tão necessário O Mal e o Sofrimento e então talvez um dos livros mais estranhos a seu tempo que saíram da pena de nosso filósofo, O Erro de Narciso. Resta então, quanto aos escritos populares disponíveis em português, a coletânea de artigos Ciência Estética Metafísica, um livro misto, dado que seu conteúdo pode, em linguagem jovem, “ir de zero a 100 muito rápido” e passar de uma simples resenha a um comentário de física quântica. Deixo o Regras da Vida Cotidiana a critério do leitor, dado que o livro é constituído de anotações que o filósofo não pretendia publicar.
Creio que todos os livros sugeridos sejam de leitura livre, i.e., podem ser lidos a qualquer momento sem que exijam muito mais do que atenção redobrada — dado que o autor é famoso por escrever pouco e dizer muito. Mas a coisa muda totalmente de figura quando falamos de A Presença Total, o “livro de divulgação metafísica” [sic] de Lavelle, em que ele busca apresentar um resumo [sic, novamente] de sua imensa Dialética do Eterno Presente, coleção de que gozamos de apenas um mísero volume em português, a saber, Do Ser. Para ambos os citados roga-se que o leitor tenha feito o dever de casa, a saber, conhecer mais ou menos os dois mil anos de filosofia que ocorreram antes de Lavelle começar a escrever suas obras. Há muitas outras obras escritas por Lavelle e principalmente muitas outras que não possuem traduções para o português; por outro lado, creio que as recomendadas aqui darão ao interessado um bom panorama das idéias do filósofo.
Notas:
[1] « Ici la transcendance est seulement celle d’une forme d’expérience par rapport à une autre : elle est, si l’on peut dire, une transcendance. » Cremos que haja aqui um erro seja de Lavelle, seja na digitalização do texto, pois a frase parece não possuir sentido. Entretanto, mantemos a tradução fiel ao arquivo tal como o dispomos. [N.T]
[2] É provável que se prefira, em geral, situar o transcendente ao lado do dado, sustentando que ele é o que, no dado, torna inadequado qualquer ato que procure igualá-lo. Todavia, isso significa que ele próprio não é dado, ou ainda, que ele é um dado possível que só poderia se transformar em um dado real através de um ato que exceda todos os atos que somos capazes de realizar. Em relação a um ato capaz de atualizar todo dado possível, não haveria mais dado nenhum, pois não haveria nada capaz de ultrapassá-lo. Portanto, é sempre a transcendência de um tal ato que temos em vista: ela aboliria a imanência ou seria imanente ela mesma. Assim como é ilegítimo falar do infinito como um termo quando na verdade ele é uma origem, também é ilegítimo falar do transcendente como um objeto, quando na verdade ele é uma fonte. [N.A]
[3] « Temporel ». Novamente, pensamos que haja um erro aqui, pois parece-nos que Lavelle tinha a intenção de escrever “intemporal”. [N.T]
[4] “Epitome Metaphysicae Spiritualis”. Artigo publicado no volume de Julho-Setembro de 1947 da Revista Giornale di Metafisica, Turim. Este volume foi consagrado ao tema “O que é metafísica?” [N.E]