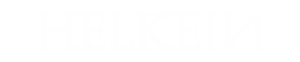Por Helkein Filosofia
Dois filósofos, talvez os dois maiores filósofos que já teve a humanidade, Platão e Aristóteles, diferentes em muitíssimas coisas — a tal ponto que poder-se-ia reduzir toda a filosofia ocidental a uma oposição entre platonismo e aristotelismo – estavam totalmente de acordo sobre um ponto: sobre o fato de que a filosofia nasce da maravilha, ou da pesquisa, da pergunta, da dúvida.
Enrico Berti – Convite à Filosofia p.56
Há de se concordar que Convite à Filosofia é um nome infeliz quando se sabe que há vários livros de mesmo nome e objetivo. Mas, ainda que a intenção – nominal – de tais livros seja a mesma, o conteúdo difere. Ainda que alguns sejam maiores e mais abrangentes em filosofia, sabemos que assim como os piores venenos estão contidos nos menores frascos, livros pequenos podem ser mais instrutivos do que livros grandes. Esse é o caso do Convite à Filosofia de Enrico Berti.
Talvez o leitor conheça Berti por seus comentários a Aristóteles, como o magnífico Novos Estudos Aristotélicos e Perfil de Aristóteles. E, de fato, ainda que o Convite não seja um comentário de Aristóteles, encontraremos muito de seu espírito imbuído pelas páginas do livro. Em convites e introduções à filosofia, espera-se de pronto uma definição escolar no modelo da pergunta “o que é filosofia” seguida de alguma notícia de sua história; Berti escolhe um caminho diferente, mais ou menos autobiográfico, para convidar o leitor, antes de se ater a definições, a compreender mais ou menos o espírito da filosofia. Para isso, divide o já pequeno livro em três partes: a primeira fala sobre as motivações que nos levam à filosofia; a segunda fala sobre o que é a filosofia; e a terceira é uma exortação à filosofia.
- Capítulo 1 – O que nos motiva?
O primeiro capítulo tratará das motivações: o que nos impele à filosofia? E divide as motivações em sete: existenciais, intelectuais, científicas, religiosas, éticas, políticas e culturais.
Por motivações existenciais, Berti entende aquelas referentes ao sentido da vida e semelhantes que foram objeto de discussão desde o início da atividade filosófica. Voegelin costuma referir em seus escritos que a filosofia cedo ou tarde toca nesse ponto e o dado é que isso já estava previsto em Aristóteles, quando diz em sua Metafísica que o homem começa se perguntando como se movem os astros e termina se perguntando sobre o ser mesmo. ((Por exemplo, em Metafísica 982b 11-20: “De fato, não é uma ciência prática e fica claro desde os primeiros filósofos, pois os homens começaram a filosofar, agora e antes, por admiração. No princípio se admiravam com as dúvidas mais simples, depois, aos poucos, procederam para as mais complexas, para as mudanças da Lua, do Sol, das estrelas e, também, a geração de todo o universo. Quem, pois, duvida e se admira parece ignorar. Assim, quem ama o mito é, de certo modo, filósofo, pois os mitos se compõem de coisas admiráveis. Assim, se os homens filosofaram para se libertar da ignorância, é evidente que buscaram o saber pelo saber, e não por alguma utilidade.”)) Tais são as questões que se referem à existência e seu sentido e, para explicar seu tratamento comum, Berti fará uso de tópicos de história da filosofia – citando Platão, Aristóteles, Plotino, Pascal, Whitehead, Husserl e outros – e até de trechos de Hamlet, de Shakespeare, para familiarizar o leitor leigo ao pensar filosófico “sem deixar a peteca cair” – como costuma ocorrer em tais livros. ((É o que ocorre em um dos livros homônimos ao Convite, que logo de cara coloca o dogma da filosofia como sistema nas primeiras páginas (a saber, a p.15).))
Por motivações intelectuais, Berti refere-se à curiosidade comum aos estudantes de lógica e metafísica: quer-se saber no que consiste o verdadeiro e o falso. Muitos adentram a filosofia precisamente por tal motivo, em especial após toparem com um relativista e, sem saber o que responder mesmo sabendo que algo está errado, resolvem investigar melhor o assunto. Em suma, é a motivação dos curiosos acerca do problema da verdade. Atentemos que, no capítulo das motivações intelectuais, Berti faz uma distinção bem sutil entre os problemas da ciência e os da filosofia ao mesmo tempo em que as interliga, mostrando como a filosofia pode fazer uso dos dados da ciência e vice-versa. ((É bom que haja tal relação entre as disciplinas para que tais cooperem sem se confundirem.))
Em seguida trata-se das motivações científicas, referente àquelas questões que a ciência precisa responder. ((Refere-se também às questões suscitadas pela ciência que nos levam à filosofia e vice-versa.)) Normalmente, os motivados cientificamente se interessam pela epistemologia, nossa querida teoria do conhecimento, que procura responder à questão de como conhecemos ou como podemos conhecer algo, visto que, sabido que a ciência funciona, não temos dúvida de que conhecemos: o que fica obscuro é o processo. Berti faz um pequeno apanhado do modelo de ciência que conhecemos e das questões que ela suscita, que são intimamente ligadas aos temas associados às motivações intelectuais e existenciais. Um dos pontos fortes do livro de Berti é mostrar sutilmente como os temas ligam-se uns aos outros.
Seguem-se as motivações religiosas. Atualmente, vemos tais motivações nos filósofos apologetas, que utilizam o aparato filosófico para dar apoio à fé, como Alvin Plantinga o fez ao formalizar o Argumento Ontológico no sistema s5 da lógica modal. ((Podemos encontra-lo em Deus, a Liberdade e o Mal p.131)) Pode-se dizer que a Suma Contra os Gentios, de Sto. Tomás, segue motivações similares. Berti explica que as formas de saber da fé e da filosofia são diferentes, mas não contraditórias, o que permite que o aparato filosófico sirva de instrumento para a explicação de verdades reveladas. ((Para além disso, há motivações religiosas no sentido de uma espécie de religião racional. Por isso há pensamentos como o deísta, que não aceita uma fé revelada, ou o panteísta, que, através da filosofia, fará do mundo algo divino.)) É curioso lembrar que é precisamente assim que Sto. Tomás explica seu empreendimento na Suma Contra os Gentios:
-
[48b] A razão humana, por conseguinte, para conhecer a verdade da fé, que só pode ser evidentíssima para quem contempla a substância divina, ordena-se a esta de modo que dela possa receber semelhanças verdadeiras as quais, contudo, não são suficientes para que a referida verdade seja compreendida de maneira quase demonstrativa ou enquanto conhecida em si mesma.
-
[49] Não obstante, é útil para a mente humana exercitar-se no conhecimento dessas razões, por mais fracas que sejam, desde que se afaste a presunção de compreendê-las ou demonstrá-las. Ora, conseguir ver algo das coisas altíssimas, mesmo por pequena e fraca consideração, já é agradabilíssimo, como foi acima dito. ((Sto. Tomás de Aquino – Suma Contra os Gentios p.56))
Às motivações anteriores ligam-se aquelas de tipo ético, que trazem consigo as questões mais antigas e espinhosas da filosofia, sendo um dos grandes temas da filosofia de Platão. Normalmente, as motivações éticas seguem-se às motivações intelectuais no sentido de que tendem a relacionar-se como o tema da verdade na medida em que este refira-se à correção do agir. Em filosofês, diz-se que a motivação intelectual refere-se à verdade especulativa e a motivação ética, à verdade prática. Não é novidade que vivamos no tempo do politeísmo dos valores e que seja até difícil dizer que algo seja certo ou errado sem que alguém proteste; mas isso é precisamente o que a filosofia precisa para florescer: problemas a serem resolvidos. Berti faz um bom apanhado de como os temas éticos surgem dos mais diversos campos e como eles são estritamente ligados à concepção de pessoa – e, portanto, à antropologia.
Por outro lado, as motivações de tipo ético influem diretamente nas motivações de tipo político, ligação existente desde a antiguidade. Recentemente as motivações políticas tomaram a dianteira e muitos acabam por fazer inverso, digo, em vez de primeiro estudar filosofia e depois política, acaba-se indo para a filosofia após a política – o que costuma ser desastroso, tendo em vista a grande variedade de temas políticos ininteligíveis quando desprovidos de tratamento filosófico anterior. Isso ocorre porque ações políticas, em sua maioria, são altamente questionáveis do ponto de vista ético e, também, por pressuporem a filosofia, os dogmas das várias doutrinas políticas excitam a problemática ética. Por exemplo: o aborto é moral? Qual a justificação da desapropriação? Normalmente, tais questões levam também à filosofia do direito.
E então, temos as motivações culturais comumente associadas ao desejo de compreender nosso tempo e contexto em relação a outras eras, tema que, por conseguinte, pressupõe estudos em todos os outros listados anteriormente na medida em que todos eles formam, no dito voegeliano, um cosmion cultural.((Cosmion, ou “pequeno mundo de ordem”, é a visão que o homem tem da relação de si com seu meio. É um termo que procura expressar, em termos de filosofia da consciência, a relação expressa no princípio antropológico de Platão que, grosso modo, diz que a pólis saudável só pode ser composta por homens de alma saudável. Lemos na introdução de História das Idéias Políticas vol.1: “[…] surge aquele “pequeno mundo de ordem”, o “cosmion”. O termo, tomado emprestado do filósofo austríaco Adolf Stöhr em seu livro Wege des Glaubens [Caminhos da Fé], nunca foi abandonado por Voegelin, pois traz à consciência um fato fundamental sobre todas as sociedades: elas são, mesmo na forma mais secularizada, análogas visão imaginativa que o homem tem do cosmo.” Eric Voegelin – História das Idéias Políticas vol.1 p.47)) Normalmente tal tema liga-se aos estudos históricos e em especial ao tratamento dos livros chamados clássicos, que, em tese, representariam o ápice cultural de sua época.
- Capítulo 2 – O que é?
É justo dizer que as motivações tomaram quase metade do livro – e da resenha! –, mas não responderam o que é filosofia. Berti não se interessa por inovar o que já foi dito e redito, então escolhe explicar através do que já foi explicado e praticado.
A primeira possibilidade é tratar a filosofia como um estado de ânimo de certa disposição a aceitar as coisas como são, uma espécie de amor fati. Mas isso não pode ser e, embora aceitar as coisas como são seja parte da filosofia, nem de longe é seu todo. Outra possibilidade é identificá-la com um estilo de vida; e, de fato, muitos acreditam nisso, num lifestyle filosófico e até há certo estereótipo de filosofeiro – ainda que tal esteja muito longe dos filósofos de verdade. Mas a filosofia vista assim é bem próxima da realidade na medida em que a teoria filosófica não pode desligar-se da prática e, nesse sentido, estudar filosofia fatalmente muda o agir do estudante; não poucos relatam que, após levarem as coisas a sério, tiveram seu círculo de amigos destroçado por conta da disparidade de valores cultivados; por outro lado, novos contatos e alegrias sempre surgem. Sócrates morreu precisamente por conta de sua prática filosófica. Mas também não podemos fazer tal redução, tendo em vista que explicariam só metade da filosofia, a saber, como ela se exterioriza, e o mesmo vale para a redução da filosofia a uma atividade puramente especulativa. Outra possibilidade é tratá-la como atividade teórica e prática ligada ao desejo de saber; e é algo assim a que a etimologia de palavra filosofia se refere. Berti expõe dois exemplos interessantes:
Alguém aduziu, para confirmar tal concepção, a composição da palavra mesma “filosofia”; ela indicaria não o saber, que corresponde ao termo grego sophia, “sabedoria”, mas o ser amante (philos) do saber, ávido de saber. O representante emblemático dessa concepção da filosofia foi considerado Sócrates, que afirmava que apenas “deus”, isto é, o ser superior ao homem, imortal e feliz, é verdadeiramente “sábio” (sophos), ao passo que o homem é ignorante, mas sabe que não sabe e deseja sair da própria ignorância, por isso é “amante do saber” (philosophos). Cícero, o primeiro que traduziu para o latim o termo grego philosophia, chamou-a de studium sapientiae, que quer dizer precisamente desejo da sabedoria e esforço no procurá-la. ((Convite à Filosofia p.53))
Mas, como Berti bem identifica – e talvez isso seja um balde de água fria! –, uma definição assim lata, além de não servir precisamente para todos os filósofos, é tão ampla que transformaria qualquer atividade em filosófica – e um elemento capital das definições é a diferença específica. O autor também aponta que a filosofia como pesquisa e como busca não deve ser descartada nem mantida assim visto que, além de ser uma definição lata demais, não especifica o objeto da pesquisa.
Para prosseguir na busca pela definição de filosofia, Berti volta a Platão e Aristóteles e aponta que ela pode ser vista também como uma atividade de pesquisa que nasce da admiração ou da maravilha ((Berti escreveu um livro chamado No Início era a Maravilha para falar de filosofia antiga.)); por vezes dizemos também que nasce de certa perplexidade tanto com dados quaisquer da realidade,((Evitei “natureza” e preferi “realidade” por conta do primeiro remeter à concepção de natureza no sentido tomado pela ciência moderna, o que nem de longe tem que ver com o que a filosofia quer dizer com o mesmo termo. Por outro lado, quis também evitar algum viés naturalista.)) como com nossa própria ignorância. Berti passará boas páginas explicando no que consiste tal maravilhamento e como tal é expresso por Aristóteles.
A filosofia será entendida por Berti como pesquisa sobre o todo de forma que expresse a problemática do real que não está ao alcance de outras disciplinas. Assim, a filosofia se dividirá na metafísica, que estuda o ser enquanto ser, na antropologia, que quer saber o que é o homem, e na ética, que quer saber como devemos agir ((Citei apenas três disciplinas, mas há outras. A resposta de Berti começa na p.74 e aqui me recolho a dar apenas as linhas gerais de sua resposta.)), atraindo para si a acepção de certa unificação do conhecimento que, ainda que nos seja vetada em sua totalidade – dado que o conhecimento absoluto foi vetado ao homem –, pode nos fazer conhecer algo de si. E por conta de sua característica problemática e unificadora, a filosofia exigirá de seu pupilo o conhecimento das mais diversas áreas:
Além disso, para fazer bem filosofia, julgo ser necessário também conhecer um pouco de ciência, ou seja, estar informado suficientemente — tanto quanto seja possível para um não especialista conhecer essa divulgação — sobre o estado atual das ciências mais importantes: a física, a química, a biologia, a psicologia, a sociologia, a economia etc. Isso se deve ao fato de que os problemas da filosofia frequentemente, como vimos, nascem das descobertas científicas, e porque as ciências são autêntico saber e efetivamente resolvem certo número de problemas, cuja solução é bom conhecer. O mesmo vale para a história, a história civil, política, social, que também são autênticos saberes e por isso ajudam a conhecer e a compreender melhor os homens, as suas ações, as suas aspirações, os seus problemas.
Mas, em minha opinião, o filósofo deve nutrir-se também de poesia, de literatura e de arte em geral, ainda que elas descrevam não o mundo real, mas mundos frequentemente imaginários, a que chamamos fiction, porque — como disse, mais uma vez, Aristóteles — a poesia é “mais filosófica” (philosophôteron, isto é, faz conhecer mais) do que a história, na medida em que diz o que poderia acontecer a todos, isto é, fala do universal. Além disso, quem se ocupa de filosofia deve ter um mínimo de preparação no campo da lógica, devendo, portanto, saber distinguir um raciocínio errôneo de um raciocínio correto, deve ser capaz de fazer uma correta inferência lógica. Esses são, a meu ver, os “instrumentos” da filosofia. ((Convite à Filosofia p.91))
- Capítulo 3 – Protréptico
O terceiro capítulo, de certa forma, homenageia um dos livros perdidos de Aristóteles, a saber, o Protréptico, ((Protréptico significa, literalmente, exortação.)) que era uma exortação e elogio à filosofia. Berti retira da reconstrução do Protréptico a seguinte pergunta: deve-se ou não filosofar? E responde de modo curioso: caso se diga que não, então segue-se que sim, dado que para negar que se deva filosofar, deve-se filosofar. É um pergunta filosófica e só pode ser respondida filosoficamente. Assim, aquele que nega que se deva filosofar, do mesmo modo que aquele que diz que não há filosofia ou que a filosofia já não é mais, deve fazer filosofia para defender seu ponto e por conseguinte trai a si mesmo.
Para fazer filosofia, não se exige muito mais do uma cabeça bem feita; não é necessário instrumental de ponta – a menos que consideremos bons livros por esse nome. Essa característica fez com que surgissem filósofos em todas as classes sociais e profissões, o que deixa no ar se a filosofia, que sabemos ser de certo modo prática, pode ser vista como profissão. O que fica certo no livro de Berti é que qualquer um que disponha de algum tempo livre pode dedicar-se à filosofia.
E é no espírito do Protréptico que o Convite foi escrito; apresenta em linhas gerais do que a filosofia trata sem que a amplitude ofusque sua diferença específica e mostra que ela pode ser conhecida por qualquer um que esteja disposto a cumprir alguns pressupostos, ainda que, como dito no fim do livro, nem todos que estudam um assunto se dedicarão de corpo e alma a ele. Assim, nem todos que aprenderam a desenhar se tornarão desenhistas do mesmo modo que nem todos que estudaram filosofia se tornarão filósofos – alerta que em nada é novo, podendo ser facilmente encontrado em Platão. O livro se encerra com um incentivo ao leitor e com o dito de que qualquer pessoa deveria ter a experiência, ao menos uma vez na vida, de se defrontar com um problema filosófico para que, ao menos, saiba do que a filosofia trata.
Afinal de contas, não é considerado importante fazer conhecer aos jovens a literatura, a poesia, a música, a arte em geral? Certamente não é para fazer que todos se tornem romancistas, ou poetas, ou músicos, mas para fazer que eles leiam os clássicos da literatura e da poesia, ouçam a música clássica, visitem os museus e os monumentos da arte clássica. Por que não se deve poder fazer a mesma coisa com a filosofia? ((Convite à Filosofia p.130))
O livro cumpre de forma exemplar o que seu nome denota: não é uma Introdução claudicante e nem uma História da Filosofia supersimplificada; é precisamente um convite que exorta o leitor à filosofia dando as linhas gerais de como ela opera.
Caso o leitor tenha aprendido algo com nossos textos, favor considerar uma doação, via PIX [real] ou Lightning Network [Bitcoin], no código QR correspondente. Sua contribuição nos motiva a continuar fornecendo filosofia de forma simples, mas não simplificada.
Revisão por H&L Revisão e Tradução
***
Notas de Rodapé no modelo tradicional:
[1] Por exemplo, em Metafísica 982b 11-20: “De fato, não é uma ciência prática e fica claro desde os primeiros filósofos, pois os homens começaram a filosofar, agora e antes, por admiração. No princípio se admiravam com as dúvidas mais simples, depois, aos poucos, procederam para as mais complexas, para as mudanças da Lua, do Sol, das estrelas e, também, a geração de todo o universo. Quem, pois, duvida e se admira parece ignorar. Assim, quem ama o mito é, de certo modo, filósofo, pois os mitos se compõem de coisas admiráveis. Assim, se os homens filosofaram para se libertar da ignorância, é evidente que buscaram o saber pelo saber, e não por alguma utilidade.”
[2] É o que ocorre em um dos livros homônimos ao Convite, que logo de cara coloca o dogma da filosofia como sistema nas primeiras páginas (a saber, a p.15).
[3] É bom que haja tal relação entre as disciplinas para que tais cooperem sem se confundirem.
[4] Refere-se também às questões suscitadas pela ciência que nos levam à filosofia e vice-versa.
[5] Podemos encontra-lo em Deus, a Liberdade e o Mal p.131
[6] Para além disso, há motivações religiosas no sentido de uma espécie de religião racional. Por isso há pensamentos como o deísta, que não aceita uma fé revelada, ou o panteísta, que, através da filosofia, fará do mundo algo divino.
[7] Sto. Tomás de Aquino – Suma Contra os Gentios p.56
[8] Cosmion, ou “pequeno mundo de ordem”, é a visão que o homem tem da relação de si com seu meio. É um termo que procura expressar, em termos de filosofia da consciência, a relação expressa no princípio antropológico de Platão que, grosso modo, diz que a pólis saudável só pode ser composta por homens de alma saudável. Lemos na introdução de História das Idéias Políticas vol.1: “[…] surge aquele “pequeno mundo de ordem”, o “cosmion”. O termo, tomado emprestado do filósofo austríaco Adolf Stöhr em seu livro Wege des Glaubens [Caminhos da Fé], nunca foi abandonado por Voegelin, pois traz à consciência um fato fundamental sobre todas as sociedades: elas são, mesmo na forma mais secularizada, análogas visão imaginativa que o homem tem do cosmo.” Eric Voegelin – História das Idéias Políticas vol.1 p.47
[10] Berti escreveu um livro chamado No Início era a Maravilha para falar de filosofia antiga.
[11] Evitei “natureza” e preferi “realidade” por conta do primeiro remeter à concepção de natureza no sentido tomado pela ciência moderna, o que nem de longe tem que ver com o que a filosofia quer dizer com o mesmo termo. Por outro lado, quis também evitar algum viés naturalista.
[12] Citei apenas três disciplinas, mas há outras. A resposta de Berti começa na p.74 e aqui me recolho a dar apenas as linhas gerais de sua resposta.
[14] Protréptico significa, literalmente, exortação.
[15] Convite à Filosofia p.130