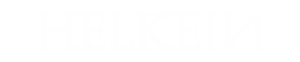Por A.E. Taylor
Tradução e Notas de Helkein Filosofia
Aristóteles admite, afinal, a disparidade entre a percepção sensível e o conhecimento científico; a primeira, por si só, não pode nos fornecer verdades seguras, pois sua capacidade é meramente assegurar que “um fato é assim”, sem o explicar, exibindo sua conexão com o resto de um sistema – “ela não dos dá a razão dos fatos”. O conhecimento advindo dos sentidos é “imediato” e, por isto, não é científico. Se estivéssemos na lua e víssemos a terra se interpondo entre nós e o sol, ainda assim não teríamos conhecimento científico sobre o eclipse, porque “ainda precisaríamos perguntar a razão dos fatos” – ademais, sequer poderíamos perscrutar a razão disto sem uma doutrina óptica cujo escopo incluísse a proposição da propagação da luz em linha reta, etc. Aristóteles insiste, da mesma forma, que a indução não produz provas científicas: “O indutor aponta algo, mas não demonstra coisa alguma”.
Sabemos, por exemplo, que cada espécie de animal destituído de vesícula possui vida longa e, daí, podemos deduzir a longevidade de todos os animais destituídos de vesícula, mas, nisto, não compreendemos a causa ou como a ausência de vesícula contribui com sua longevidade. Tais perguntas podem ser reduzidas a quatro: a) tal coisa existe? b) este evento ocorre? c) se existe, o que é? d) se ocorre, por quê? A ciência nada conclui sem avançar das duas primeiras perguntas para as duas últimas; o conhecimento científico não é mero catálogo de coisas e eventos, mas consiste em investigações sobre as “essências reais”, as características das coisas e as leis que conectam os eventos.
Observando o raciocínio científico do ponto de vista formal, é possível dizer que toda ciência consiste na busca por “termos médios” de silogismos, por meios dos quais conectamos a verdade que surge como conclusão de verdades menos complexas feitas premissas das quais a extraímos. Ao perguntarmos se “tal coisa existe” ou “tal evento acontece” questionamos o seguinte: “existe um termo médio que conecte esta coisa ou evento com o restante da realidade conhecida?”. Como a regra do silogismo é o termo médio ser universal, ao menos nas premissas, a busca por termos médios pode ser descrita como a procura pelos universais, e talvez possamos chamar a ciência de conhecimento das interconexões universais entre fatos e eventos.
Uma ciência pode, portanto, ser avaliada sob três aspectos. Em primeiro lugar, uma classe de objetos que compõem o objeto de sua investigação; numa exposição científica ordenada, tais objetos aparecem, tal em Euclides, como os dados sobre os quais a ciência raciocina. Em segundo lugar, uma série de princípios, postulados e axiomas a partir dos quais são feitas demonstrações; alguns são princípios universais ao raciocínio científico, e outros são específicos do tema restrito a tal ou qual ciência. Em terceiro lugar, características dos objetos enquanto passíveis de demonstrações mediante axiomas e postulados decorrentes das definições iniciais, i.e., a acidentalidade per se dos objetos definidos; estas últimas são o expresso pelas conclusões de uma demonstração científica.[1] Sabemos, cientificamente, que B é verdadeiro em relação a A quanto mostramos sua decorrência, em virtude dos princípios de alguma ciência, da definição de A. Assim, se nos convencêssemos de que a soma dos ângulos de um triângulo plano é igual a dois ângulos retos, não poderíamos considerar o conhecimento da proposição como científico. Por outro lado, mostrando uma proposição como decorrente da definição de um triângulo plano mediante aplicações dos axiomas ou postulados geométricos admitidos de antemão, nosso conhecimento se torna científico. Tendo isto em cota sabemos que é e por que é assim, pois fica visível a conexão de tal verdade com as verdades iniciais postas pela geometria.
Isto nos leva à consideração do ponto mais característico de toda a doutrina aristotélica: a ciência é o conhecimento demonstrado, i.e., o de que certas verdades [complexas] decorrem de verdades mais simples; portanto, as mais simples entre as verdades necessárias a quaisquer ciências não podem ser inferencialmente conhecidas. Não podemos inferir a veracidade dos axiomas geométricos, pois, se suas conclusões são verdadeiras, isto se dá, pois elas são conseqüências da veracidade dos axiomas, e não se deve pedir pela demonstração dos axiomas como conseqüências de premissas mais simples, pois, se todas as verdades podem se provadas, então devem se provadas e, daí, surge a necessidade de uma cadeia infinita de demonstrações, algo sabidamente impossível; segue que os primeiros princípios científicos devem ser, portanto, indemonstráveis.[2] Ora, tais princípios devem ser conhecidos imediata e não mediatamente; mas como os conhecemos? A resposta aristotélica parece, num primeiro momento, contraditória. O filósofo diz que tais verdades simples são apreendidas intuitivamente, ou por inspeção, como autoevidentes para o intelecto ou mente;[3] por outro lado, também as conhecemos como resultado de uma indução a partir da experiência sensível. Assim, parece ser um platônico ou um empirista, conforme destacamos uma declaração ou outra, e tal inconsistência aparente fez sua autoridade ser reivindicada por diferentes pensadores. Mas um estudo cuidadoso revela que a “fusão” entre as declarações se deve ao fato de ele tentar combinar, num único discurso, respostas a duas perguntas diferentes: 1) como refletimos sobre os axiomas e 2) quais evidências sustentam sua veracidade. À primeira pergunta, ele responde “por indução da experiência” e, até aqui, pode parecer um precursor de John Stuart Mill. Repetições sucessivas das mesmas percepções originam uma única experiência, e tomamos nota dos princípios mais simples e universais mediante a reflexão acerca da experiência. Podemos ilustrar a tese considerando como o pensamento “dois mais dois são quatro” pode ser apresentado a uma criança. Podemos pegar, primeiro, duas maçãs e mais duas outras maçãs e, então, pedir que a criança as conte. Repetindo o processo com maçãs diferentes, podemos ensinar a criança a dissociar o resultado da contagem das maçãs e avançar para a proposição: “duas maçãs quaisquer e duas outras maçãs quaisquer formam quatro maçãs”. Em seguida, podemos substituir as maçãs por peras ou cerejas, de modo a sugerir o pensamento: “duas frutas e duas frutas fazem quatro frutas”. E, por meio de métodos semelhantes, deveríamos, no final, evocar o pensamento: “dois objetos quaisquer e outros dois objetos quaisquer formam quatro objetos”. Isso ilustra a concepção de indução aristotélica, ou comparação de exemplos, em fixar a atenção num princípio universal do qual não se tinha consciência antes de a comparação ser feita. Chega, então, o ponto em que Aristóteles difere totalmente dos empiristas. Mil considera os resultados da indução como duplamente funcionais: não apenas fixam a atenção num princípio, mas também evidenciam sua verdade. Isto origina a maior dificuldade de sua lógica. A indução por enumeração imperfeita é considerada (por realmente ser) falaciosa, mas o princípio de uniformidade natural, considerado por Mill como premissa final de todas as ciências, deve ser provado por tal método radicalmente falacioso. Aristóteles evita inconsistências semelhantes, sustentando como função da indução a fixação de nossa atenção num princípio que ela mesma não pode provar – pois os primeiros princípios não permitem ou exigem provas. Uma vez feito o trabalho indutivo, chamando a atenção a um princípio, é necessário ver por si mesmo sua veracidade, isto por inspeção imediata, tal como na percepção sensível vemos a cor diante dos olhos como vermelha ou azul. Por isto, Aristóteles afirma que o conhecimento dos princípios científicos não é a ciência mesma (como conhecimento demonstrado), mas o chamado intellectus e, nos seja permitido nomeá-lo desta forma, de intuição intelectual.[4] Sua doutrina é distinta, assim, não apenas do empirismo[5] (onde os princípios universais são provados mediante os fatos particulares), mas também de todo hegelianismo enquanto considera princípios e fatos como provando, reciprocamente, um ao outro, e também a doutrina de alguns lógicos modernos que sustentam a dispensabilidade da “autoevidência” dos princípios científicos últimos, pois, dizem, a lógica refere-se apena à questão de quais conseqüências decorrem de quais suposições – e não com a verdade das proposições.[6] Aristóteles então repete, com poucos acréscimos, a doutrina platônica da natureza da ciência: a ciência consiste em deduções de princípios universais apenas “sugeridos” pela experiência, mas apreendidos por uma inspiração puramente intelectual cuja operação pretere dados sensíveis. A aparente rejeição da “luz transcendental” não leva, portanto, a coisa alguma; a única diferença entre Platão e seu aluno está na clareza da intelecção demonstrada pelo primeiro quando expressa, explicitamente, que os universais científicos não estão “na” percepção e, portanto, devem ser extraídos mediante um processo abstrativo, mas jazem “à parte” ou “acima” delas e formam um sistema ideal de conceitos interconectados meramente “imitados” ou “aproximados” pela experiência sensível.
Há, ainda, um ponto a considerar para completude de nosso esboço da gnoseologia aristotélica. As ciências possuem “princípios” cuja veracidade é discernida imediatamente via inspeção; como resolver uma situação onde um homem professa ver um princípio autoevidente enquanto o outro duvida ou nega sua verdade? Não é possível silenciar o opositor via demonstração, pois princípio simples algum admite demonstrações. É possível apenas – por exemplo, no caso de um homem duvidar que coisas iguais a outra coisa sejam iguais entre si, ou negar o princípio de contradição – examinar as conseqüências da negação de um axioma e mostrar sua falsidade, ou a adesão de seu antagonista a teses desta tonalidade. É possível, desta forma, mostrar a absurdez das conseqüências decorrentes da negação de um princípio e, assim, demonstrar sua veracidade. No entanto, este raciocínio difere do científico precisamente quando toma como premissas não o considerado verdadeiro, mas a tese antagonista, considerada falsa, pois o objetivo não é provar a veracidade de uma conclusão, mas absurdidade das conclusões das premissas oponentes. Este é, no sentido aristotélico, o “raciocínio dialético”, i.e., raciocinar não a partir de premissas próprias, mas das de outra pessoa; portanto, a importância filosófica atribuída à “dialética” é fornecer uma forma de defender os axiomas indemonstráveis contra objeções. A dialética desta cepa tornou-se muito importante no aristotelismo escolástico, vertendo num método regular, como podemos verificar na Suma Teológica de Sto. Tomás, quando começa por considerar uma doutrina através do exame de todos os argumentos que pode encontrar ou conceber contra a conclusão pretendida[7] – neste sentido, a primeira divisão de qualquer artigo da Suma tomista é regularmente constituída por argumentos baseados em premissas oponentes reais ou possíveis, sendo estritamente dialética (Aristóteles deveria, em prol da precisão, ter observado que tal método é inútil no caso de um axioma pressuposto em toda dedução; nisto, cai em falácia quando procura defender, dialeticamente, o princípio de contradição. É verdade, sim, que da negação desta lei segue a indiferente atribuição de quaisquer predicados a quaisquer sujeitos, mas, até sua admissão, não há direito de considerar absurdos todos os predicados indiscriminadamente atribuídos a todos os sujeitos. Assim, são apenas as leis assumidas, não as leis finais da lógica, passíveis de justificação dialética. Se uma verdade for definitiva a ponto de ser reconhecida por inspeção direta ou de forma alguma, então não é possível argumentar com quem não pode vê-la).
Caso o leitor tenha aprendido algo com nossos textos, favor considerar uma doação, via PIX [real] ou entrar em nosso canal no Telegram, no código QR correspondente. Sua contribuição nos motiva a continuar fornecendo filosofia de forma simples, mas não simplificada.
Notas:
[1] Tal classificação tríplice de ciência origina, mais tarde, a concepção baseada na distinção entre objeto material, formal terminativo e formal motivo. O primeiro refere-se, naturalmente, ao objeto da ciência; o segundo, a forma, sob razão de causa final, dos princípios da disciplina em questão; e o terceiro, à razão de ser da ciência pretendida, o motivo de apenas ela resolver tal questão. [N.T.]
[2] “O conhecimento dos princípios da ciência, isto é, essencialmente das definições, a rigor não pode sequer ser denominado ciência, visto que – diz Aristóteles – toda ciência é acompanhada por raciocínio, ou seja, por demonstração, ao passo que, como vimos, os princípios não são demonstráveis. Esse conhecimento é, portanto, chamado por Aristóteles de nous, termo quase intraduzível, visto que seu correspondente latino, usado a partir de Boécio, a saber, intellectus, foi traduzido para o alemão pelo monge beneditino Notker (que viveu na abadia de Saint Gall entre os séculos X e XI) por Vernunft, termo que, ao contrário, a partir de Kant, ou melhor, de Baumgarten, foi usado para traduzir o latino ratio e que, portanto, por causa da enorme influência que teve na filosofia alemã, de Kant em diante, é normalmente traduzido por razão.” Enrico Berti – As Razões de Aristóteles p.12-13 [N.T.]
[3] Taylor confunde intellectus e mens. Intelecto (intellectus) é o hábito natural dos primeiros princípios especulativos; mente (mens), em sentido lato, significa continente do pensamento onde opera a razão (ratio, capacidade de raciocínio) sob a luz do intelecto. Todas estas faculdades ficam subordinadas à alma (anima). Tais distinções costumam se perder, facilmente, em autores de língua inglesa. [N.T.]
[4] Taylor comete, aqui, um erro comum, consistente em confundir o intelecto como hábito natural com o intelecto feito intuição; o primeiro é aristotélico, mas o segundo não. Podemos encontrar detalhes no As Razões de Aristóteles (p.14-5), de Enrico Berti: “O que mais interessa, para além de toda consideração terminológica, é o significado do nous aristotélico. Ele foi freqüentemente confundido com uma espécie de intuição, isto é, com um conhecimento imediato, não-discursivo […] Para nos limitarmos somente a este último autor [Heidegger], hoje em voga depois da publicação de muitos cursos inéditos seus, é interessante notar que o texto a que ele continuamente se refere a propósito do nous é o capítulo 10 do livro IX da Metafísica, no qual Aristóteles compara o ato do nous a um “atingir” (thigéin ou thingánein), o qual se subtrai à alternativa entre verdadeiro e falso, mas pode somente ocorrer ou não: se ocorre, é sempre verdadeiro, e se não ocorre não se pode dizer que se tenha um erro, mas somente que se tem ignorância (1051 b 17-1052 a 2). Deve-se recordar, todavia, que nesse capítulo Aristóteles declara, sim, que, “em tomo das coisas que são o ser exatamente alguma coisa e são em ato [isto é, as essências], não é possível enganar-se, mas ou aprendê-las ou não (noéin e me)”, porém logo depois especifica: “mas o que é [a definição] é objeto de investigação em torno delas, isto é [é objeto de investigação] se são assim ou não (allá to ti esti zetéitai perí autón, ei toiáuta estin e me)”, o que significa que a definição de essência, a saber, o princípio da ciência, em que consiste propriamente o nous, é o resultado de uma investigação, vale dizer, de um processo, caracterizado pela alternativa entre certa determinação e sua negação. Como se conciliam as duas afirmações? Provavelmente supondo que a apreensão imediata dos princípios, que tem como única alternativa a ignorância, seja aquela que tem lugar em uma situação de ensino, na qual o docente fornece aos discípulos uma definição já bela e feita, e eles devem apenas “entendê-la”: se a entendem, estão no verdadeiro, se não, ignoram-na. Essa imediatez da apreensão, todavia, não exclui que o docente, para dar a definição, anteriormente a tenha investigado, por meio de um processo que não é, absolutamente, uma apreensão imediata. Isso é confirmado pelo que diz Aristóteles a respeito do nous nos Segundos analíticos, isto é, na obra dedicada a expor, como vimos, a ciência que se ensina. Ali ele apresenta o nous como resultado de uma epagogé, isto é, de um processo que significa não só “indução”, como geralmente se o entende, mas também “guia para alguma coisa” (de ago, conduzir, guiar, e epí, para, ou na direção), ou seja, “introdução”. Bata-se do processo pelo qual o docente guia, ou conduz, os discípulos à apreensão dos princípios. Ele se move, como se sabe, da sensação, por exemplo da visão de uma figura desenhada, passa pela recordação, isto é, por sua fixação na mente, pela experiência, isto é, pela repetição deste último ato, e chega ao universal, ou seja, à definição da figura em geral, do qual a figura desenhada é somente um caso particular (II 19).”
[5] Sequer o sentido de “experiência” é compartilhado entre Aristóteles e os empiristas, como nos explica Enrico Berti: “Por experiência entendo não o simples conhecimento sensível, isto é, cada uma das sensações visuais, ou auditivas, ou táteis, ou as percepções de cada objeto sensível. Essa é a concepção da experiência própria do empirismo moderno, que fala exatamente de sensações, de percepções ou de “impressões” (David Hume). A experiência no sentido antigo (empeiria), definida, por exemplo, por Aristóteles, é um grau de conhecimento superior seja em relação à percepção de um objeto particular, a qual se pode ter apenas uma vez, seja em relação à recordação de tal objeto – dele conservada na mente uma imagem, mesmo depois de não estar mais presente. E consiste em “muitas lembranças do mesmo objeto”, ou seja, (como se diz hoje em dia) consiste no ser um perito. Por exemplo, eu posso dizer que sou perito (empeiros) em relação a uma cidade quando a vi não apenas uma vez, mas várias vezes, e conservo a lembrança de cada uma dessas vezes, de modo que sei me orientar nela, reconheço os lugares, sei onde se encontram. Uma experiência desse tipo constitui já uma forma de conhecimento e é utilíssima na vida prática. Os “peritos” resolvem uma quantidade de problemas, em geral de caráter prático. Podemos ser peritos nos campos reservados às técnicas, mesmo não sendo propriamente verdadeiros técnicos.” Convite à Filosofia p.68 [N.T.]
[6] Neste caso, a lógica refere-se a inferências válidas e não à veracidade referente ao conteúdo das proposições. [N.T.]
[7] O método disputatio utilizado na Suma segue o seguinte esquema: a) uma pergunta, cuja conclusão aparente é o contrário do pretendido (Ex: Deus existe? E parece que não); b) em seguida, argumentos a favor da conclusão inversa à pretendida; c) concluídos os argumentos em prol da negativa, elenca-se os argumentos contra a negativa, comumente utilizando algum trecho bíblico; d) isto feito, vem a resolução, onde a resposta definitiva é proferida levanto em conta não apenas os argumentos erigidos mas questões anteriores do mesmo livro; d) por fim, resolve-se “as pontas soltas” aclarando e respondendo possíveis questões remanescentes. [N.T.]