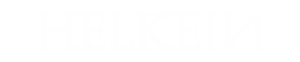Por Louis Lavelle
Tradução de Johann Alves
Introdução
O tempo é o problema central da filosofia, aquele que dá origem a todos os outros e que, por assim dizer, os faz existir. É fácil ver que a nossa vida só nos é um problema porque ela se desdobra no tempo: o mistério da vida é o mistério da sua origem e do seu desfecho. Quando nos perguntamos de onde viemos e para onde vamos, estamos tão-só procurando, para trás, no passado, um princípio de que dependemos e que explica como começamos, e para a frente, no futuro, um objectivo para o qual nos dirigimos e que é a razão de ser daquilo que fazemos. E durante a nossa própria vida, todos os problemas que a inteligência ou a vontade nos propõe devem implicar o tempo como a condição de colocá-los e resolvê-los: conhecer é procurar a causa dos fenômenos; agir é escolher um fim que nos propomos a realizar. É em virtude da contextura do tempo que o mundo, a vida e a nossa própria consciência se apresentam como tantas questões a que temos de responder. E talvez se deva dizer que é ao próprio tempo que convém nos dar o segredo da existência, se é verdade que ela sempre nos é oferecida, mas precisamente para que dela nos apropriemos, ou seja, como um problema cuja solução está em nossas mãos.
Pois o motivo que confere ao tempo uma espécie de privilégio sobre todos os demais objectos da meditação filosófica: é que a nossa vida não pode se passar sem ele. Temos dele uma experiência constante que é, ao mesmo tempo, pessoal, variável e emocionante; que divide a nossa consciência entre o arrependimento, o medo e a esperança; e que às vezes nos arrasta em um fluxo de acontecimentos que não conseguimos controlar, e às vezes abre diante de nós um caminho de possibilidades em que nos empenhamos com um êxtase conquistador. Essa experiência, a sentimos, realizamos e vivemos de uma só vez; ela é própria de cada um e comum a todos; um segredo para cada consciência e uma abertura de todas elas para o segredo do mundo. O que nos é dado através dela são as próprias condições da nossa entrada na existência, da nossa participação em uma realidade que nos ultrapassa; o jogo dos nossos poderes, o seu exercício e a sua limitação; uma ordem de acontecimentos em que estamos envolvidos, mas sobre a qual podemos agir; e o ponto de intersecção, em cada momento da nossa vida, entre a fatalidade e a liberdade. A experiência íntima do tempo permite-nos, portanto, apreender a gênese da realidade na gênese do nosso próprio ser. Ela está voltada para dentro de nós e pode ser chamada de psicológica, em oposição a uma experiência física que, para alcançar o tempo, só pode considerar o movimento, isto é, uma ordem de sucessão entre as posições de um móvel no espaço. Mas é também metafísica, porque nos permite apreender, a partir do interior, os processos profundos pelos quais assistimos à criação da nossa própria vida, à sua inserção no universo, à aparição deste espetáculo em constante mudança que nos circunda e limita a nossa consciência, ao mesmo tempo que a faz se expandir. Encontra-se, então, na experiência íntima do tempo, uma aplicação desse método que é o próprio método da filosofia e que poderia ser corretamente chamado de método psicometafísico. Com ele procuramos, no ponto mais escondido e solitário de cada um, a origem e o sentido de uma vida que só nos pertence na medida que, no Ser total, aceitamos assumir a responsabilidade por ela e realizá-la.
I. Os dois aspectos da experiência do tempo
Em primeiro lugar, deve-se dizer que o tempo talvez não seja o objecto de uma experiência imediata, mas apenas um objecto de reflexão. A espontaneidade suprime a consciência do tempo. A criança vive em um presente imediato: absorvida pela sensação, pelo prazer ou pelo jogo, ela não tem a oportunidade de formar idéias sobre o que já foi ou sobre o que será. E todos os homens conhecem certos momentos de inocência fácil e jubilosa em que o tempo passa sem que eles percebam o seu curso, de modo que a sua atenção e a sua atividade estão tão fielmente harmonizadas com os acontecimentos que se lhes oferecerem, que se encontram incapazes de serem despertos por qualquer antecipação ou lembrança. Qualquer um de nós sabe que nos momentos mais altos da nossa vida — na emoção da descoberta, da criação ou do amor, a consciência do tempo é abolida: não é mais o futuro que parece se abrir diante de nós, mas a eternidade.
Por outro lado, assim que a consciência do tempo aparece, a nossa espontaneidade é interrompida, a nossa atividade começa a vacilar, uma fenda se introduz na densidade dessa presença que antes preenchia a nossa consciência por todos os lados. Começamos a sentir a nossa limitação e a nossa insuficiência, a comparar o que temos com o que nos falta, a duvidar até mesmo da realidade do que possuímos, que nos é retirado assim que nos é dado e que surge apenas diante de nós por um momento para escapar sem retorno. Um sentimento de incerteza e de insegurança apodera-se de nós, o chão foge-nos os pés, a nossa própria existência vai-se a dissolver: tudo se transforma numa ilusão efêmera e inconsistente. É por isso que, todos os que consideraram o tempo tão-somente sob o aspecto em que ele nos revela a infinita variedade de formas do ser, que desaparecem uma após a outra sem que a inteligência consiga fixá-las ou o amor retê-las, consideraram a vida como uma tristeza desesperada, juntando-se assim ao lamento de Eclesiastes e a todas as lástimas da poesia lírica, onde se lamenta a fugacidade da existência e o abismo intransponível entre a infinidade dos nossos desejos e a fragilidade dos objectos com que procurarmos satisfazê-los.
Mas este não é o único aspecto do tempo. Porque, no momento em que a reflexão o descobre, ela coloca a nossa vida em suspensão. Ela pode fazer com que tomemos consciência da nossa miséria, mas é para nos mostrar que, se nada possuímos de forma estável, é porque a nossa vida nunca está feita, mas sempre em vias de se fazer. Nunca nada nos é adquirido, e mesmo tudo nos é constantemente retirado; mas isso é para que não nos confundamos com qualquer objecto no qual a nossa iniciativa viria a se consumir e morrer. Este fluxo de aparências que se desenrolam diante dos nossos olhos sem nunca parar, impede-nos de ligar o nosso destino a qualquer uma delas: mostra-nos que somos de outra natureza; permite-nos, ao pensá-las, colocar-nos acima delas e a conquistar, através delas, a nossa independência espiritual. A reflexão nos ensina, em vez de procurar a verdadeira realidade nas coisas — que de facto permitem que a nossa atividade se exerça, mas que não deixam de passar, testemunhando assim que nos são um instrumento e não um fim — a colocá-la nessa própria atividade que dispomos e pela qual a nossa personalidade pouco a pouco se constitui. O facto de as aparências fugirem de nós após terem nos servido é um sinal de que a função do tempo não é apenas dissipativa: mas também purificadora e libertadora.
Todo homem que pensa o tempo domina aquilo que lhe é dado; pensa no que não é mais e no que ainda não é; a idéia do que foi e do que será se opõe à realidade do que é. O possível começa a competir com o ser; o próprio indivíduo deixa de estar unido a uma forma particular de existência. O mundo adquire então uma espécie de jogo que compreende simultaneamente o espetáculo que temos diante dos nossos olhos; um passado pensado que existe apenas em nossa consciência, onde adquiriu uma existência espiritual; e um futuro ainda virtual, onde o nosso pensamento experimenta as possibilidades antes de convertê-las em actos. A experiência do tempo é, pois, a experiência do espírito no seu duplo poder de conhecer e criar.
E compreende-se que tal experiência não ocorra sem uma emoção incomparável, visto que nela parece que perdemos o ser que pensávamos possuir e nos encontramos reduzidos a uma pura potência que nos obriga a assumir a responsabilidade pelo ser que um dia seremos. Uma potência colocada em nossas mãos que, por debaixo de todos os estados que podemos experimentar, constitui a nossa essência mais profunda, que nos parece sempre intermediária entre o ser e o nada, e nos obriga, como Hamlet, a constantemente escolher entre um e outro. Eis o que nos revela a experiência íntima do tempo: um tempo que nunca deixa de arrebatar tudo, excepto o próprio pensamento que o pensa e que sempre recupera em si o passado abolido, excepto a atividade que o produziu e que abre incessantemente diante de si o vazio do futuro, onde fará a prova da sua própria eficácia.
Jean-François de Troy – An Allegory of Time Unveiling Truth
II. A presença e a ausência
Todavia, estes dois aspectos do tempo, tanto opostos quanto interdependentes, e entre os quais a nossa consciência sempre oscila, não esgotam toda a experiência que temos dele. Se a estudarmos em seu estado nascente, veremos que ela está longe de possuir a forma organizada e sistemática que a reflexão mais tarde lhe dará. Em certo sentido, podemos dizer que esta experiência é paradoxal e que, se existe uma infelicidade inseparável da consciência, como pensava Hegel, é porque ela é obrigada tanto a aceitá-la quanto a rejeitá-la. Ela a aceita, pois o tempo é constitutivo de cada um dos seus passos; e a rejeita, não só porque gostaria de escapar do tempo que perpetuamente arranca-lhe o ser, mas também porque essa mesma experiência parece-lhe impossível e contraditória. De facto, o passado e o futuro não são nada. Mas como podemos ter a experiência do que não é? Toda a experiência é, por definição, a experiência de uma realidade presente. E mais ainda: a observação confirma esta visão do espírito, pois sabemos que nunca saímos do presente e que nunca o abandonamos. O passado e o futuro são idéias presentes no instante em que as penso; e só podem ser realidades presentes no momento do tempo em que as situo. De sorte que temos a impressão de que o escândalo do tempo é que ele parece expulsar-nos do presente, enquanto ele é apenas uma relação entre diferentes formas de um presente permanente, do qual nem a vida nem o pensamento conseguem escapar.
Contudo, estas diferentes formas de presente, têm-nos valores muito desiguais. E mesmo quando a presença do objecto, ou a presença percebida, desaparece e converte-se numa presença puramente ideal ou representada, dizemos então que a ausência substituiu a presença. Portanto, a ausência é sentida como ausência precisamente porque deixa a própria idéia do que nos falta, e cujo papel é nos mostrar o vazio desta idéia se a compararmos com a plenitude da posse, em que a própria realidade do objecto nos é dada. Este contraste aparece tanto na decepção da criança, de quem tiraram o brinquedo e que chora porque mantém presente a sua imagem, como na morte de uma pessoa que amamos e cuja memória, que ainda vive em nossa consciência, não cessa de aumentar a dor de não podermos revivê-la numa presença mais real.
A experiência do tempo repousa, pois, antes de mais, sobre a experiência da oposição entre presença e ausência; ou melhor, uma vez que a pura ausência não é nada, entre presença sensível e presença imaginária. E talvez seja verdade que os próprios infortúnios que preenchem a nossa vida, os sentimentos que a sustentam e a atividade que a anima, nasçam do intervalo que separa estas duas formas de presença, da impossibilidade — e, todavia, da esperança — de que algum dia elas venham a coincidir. É importante notar que esta oposição precede a distinção entre o passado e o futuro. O que me interessa é saber se um objecto está ali à minha frente à minha disposição; ou se não está e se sou resignado a pensar a sua presença possível através da sua ausência real. O passado e o futuro são, portanto, os dois aspectos da ausência; a noção de tempo só se forma para a consciência quando consigo reconhecer a sua diferença. Mas não é de imediato, pois na maior parte da vida, a linha clara e nítida que imediatamente traço entre ausência e presença é suficiente para mim. A criança confunde o passado e o futuro e coloca ambos no mesmo domínio indeterminado, isto é, no domínio das coisas que não pode dispor: ela percebe imediatamente que uma certa pessoa que conhece não está lá quando a representa, mas ainda não associa esta representação nem a um tempo passado em que já a viu, nem a um tempo futuro em que em breve poderá revê-la. Esta distinção é objecto de uma análise mais subtil; é ela que faz emergir progressivamente a verdadeira noção do tempo.
III. A oposição no hoje entre ontem e amanhã
A consciência do tempo é frequentemente imaginada como uma corrente que me arrasta, mas de tal maneira que eu sempre ocuparia um lugar determinado nela, podendo sentir e abraçar a continuidade do seu fluxo. Essa representação pode ser resultado da contaminação entre duas perspectivas diferentes que posso ter sobre o tempo. Por vezes é o tempo mesmo que penso enquanto observo um corpo em movimento, a água corrente, ou a sucessão dos meus próprios estados: neste caso, estou diante de uma série de acontecimentos, cada qual ocupando uma posição específica entre um evento que o precede e outro que o sucede. No entanto, não consigo me pensar no tempo dessa maneira: pois isso exigiria que o tempo que penso transbordasse a minha própria consciência que o pensa. Sempre que tento me colocar dentro do tempo, é o tempo que se coloca em mim. Sendo assim, não é verdade, apesar de ser uma afirmação que nunca deixamos de repetir e que parece ser uma verdade adquirida pela consciência universal, que o sentimento que tenho da minha própria vida seja o de uma passagem, uma transição que continuaria indefinidamente. De facto, tudo ao meu redor ou dentro de mim passa: os objectos que vejo, as palavras que ouço, os próprios sentimentos que sinto. Mas será verdade que também sinto a mim mesmo passar? Quando percebo o mundo inteiro como uma constante mudança, posso também ver-me envolvido neste movimento. Mas será que esta é uma experiência verdadeira, realmente experimentada pela consciência, ou uma mera impressão? Sabemos que entramos aqui há pouco, que passamos por uma série de sensações, de sentimentos e de idéias e que logo partiremos. Mas podemos transpor esta evanescência, dada no espetáculo, para a alma do espectador? Para apreciar a fuga do tempo, tenho de aplicar a minha atenção a um objecto que tenho diante de mim, e não em mim mesmo: ele me abandona sem que eu possa me abandonar. Quando tentamos nos retirar em nosso ser mais secreto e mais íntimo para lá descobrir a realidade do puro devir, ele abranda e se imobiliza: daí o tédio sentido por todos os que vivem apenas para o exterior e que precisam que o tempo os afaste para o mais longe possível de si mesmos. Estamos então reduzidos à seguinte alternativa: se a minha consciência tenta sentir o tempo passar dentro si, ela interrompe esse fluxo; se ela o deixa passar sem estar atenta a ele, então esse fluxo deixa de lhe existir.
Isto se deve ao facto de que a consciência do tempo é mais complexa do que pensamos. Ela não é uma apreensão imediata de uma realidade evidente que seria a mesma para todos, mas um produto da reflexão: representar o tempo é construí-lo. Cada homem vive em um tempo que cria à sua medida, que preenche como quer, e do qual depende o sentido que dá ao seu destino, consoante à direção da sua atenção no presente, à fidelidade que mantém ao seu passado e à escolha que sempre realiza entre as diferentes possibilidades que o futuro nunca deixa de lhe oferecer. Mas para que compreendamos como se produz a experiência do tempo, temos de abandonar a imagem clássica de uma corrente contínua que, vinda de um passado longínquo, nos transportaria com ele para um futuro desconhecido. A experiência do tempo não é assim. Ela não se estende do passado para o futuro. Como toda a experiência e como o eu que a realiza, ela se estabelece primeiro no presente. É sempre a partir do agora que parto. Só neste agora, onde me encontro como numa espécie de cume que abrange todo o horizonte da minha consciência, vejo os objectos que passam e os meus estados que se modificam; posso distinguir duas vertentes opostas, conforme considero os objectos e os estados que me abandonam e recuam uns após os outros para o passado, ou os que se aproximam de mim e emergem do futuro, ora apesar de mim, ora porque os chamei, e que rapidamente se juntarão aos que me abandonaram e já desceram pela outra encosta. Dessa forma, só descubro o ontem e o amanhã em oposição ao hoje, assim como só descubro a ausência em oposição à presença. O pensamento do passado nunca é primitivo, mas sempre retrospectivo; e o pensamento do futuro é sempre prospectivo: é o pensamento do que um dia será do presente antes de pertencer ao passado. De certa forma, é um passado antecipado. O passado e o futuro se opõem ao presente que, porém, os liga mutualmente, pois é passando por ele que o futuro se realiza e se completa para finalmente se confundir com o passado.
IV. O instante
Tal descrição nos permitirá encontrar os traços essenciais das diferentes fases do tempo, bem como as operações fundamentais pelas quais a consciência as opõe e as unifica. É do instante que devemos partir, mas sabemos muito bem que ele é um puro corte sem dimensões entre um passado e um futuro, ambos infinitos: de modo que este instante nos parece sem realidade e, para salvá-lo, o psicólogo nos mostra que ele sempre invade um pouco do que o precede e um pouco do que o sucede, que há nele um rudimento de memória e um rudimento de desejo. No entanto, essa derrota altera a sua verdadeira essência e o afasta da realidade que se pretendia dar a ele. Ao manter a rigorosa indivisibilidade do instante, consegue-se de facto subtraí-lo do devir em vez de apenas reduzi-lo a um fragmento muito breve deste, cujo mal se compreende como — ao somá-lo aos outros fragmentos — se poderia gerar o fluxo do tempo e a sua continuidade ininterrupta. Pois bem sei que não somente o instante em que falo é real e que não preciso defender a sua realidade, mas também que toda realidade do mundo está contida e fundamentada nele. Não é necessário que se lhe acrescente do exterior uma realidade que lhe falta, pois é ele que a confere, pelo contrário, a tudo o que, sem ele, ainda não teria saído do limbo da possibilidade. Mas é pelo facto de ele ser a própria origem de toda a realidade que a sua pureza indivisível deve ser mantida. Dizemos que ele é um corte e traçamos esse corte entre um passado e um futuro que nos aparecem como duas formas diferentes de ser, ao passo que, se os considerássemos em si, eles pertenceriam mais ao não-ser do que ao ser, e o próprio ser que lhes atribuímos é-lhes dado pelo instante, na medida em que não podem ser destacados dele; é no instante que eles se opõem mutualmente, que se tocam e convertem-se incessantemente um no outro. O privilégio metafísico do instante só permanecerá na sua totalidade se, consequentemente, resguardarmos a sua simplicidade sem dimensão: veremos então a sua verdadeira natureza, que é ser não um elemento do tempo, mas a sua própria fonte — o ponto em que a nossa vida se ancora no absoluto e que todo ser possível deve necessariamente cruzar para um dia se tornar ser realizado.
Floris Gerritsz van Schooten – Allegory of Time, Life and Death
Daí os dois aspectos aparentemente contraditórios do instante. Pois é nele que tudo se passa, quer consideremos a sucessão dos acontecimentos, quer a dos nossos estados de alma. Por conseguinte, ele não tem conteúdo, é o lugar da pura transição, um ponto de fuga e um ponto de iminência. Ele que nos proíbe reter ou possuir qualquer coisa. E a impossibilidade de nos atermos a algo que se nos ofereça no instante, liberta-nos da servidão de todos os objectos e de todos os estados: impede-nos de nos confundirmos com eles; salva a nossa espiritualidade. Porém, este instante em que tudo passa, não passa ele próprio; e é porque não passa que nele vemos tudo passar. Ele é a nossa própria presença para nós mesmos; é nele que se realiza o próprio acto que nos faz ser. O instante está sempre presente: já não há mais um instante no passado e ainda não há um instante no futuro. É ao penetrar no instante que toda existência se coloca, que se actualizam todas as recordações, que se realizam todos os empreendimentos. Como se poderia falar então de uma pluralidade de instantes, senão confundindo o instante com os acontecimentos aos quais ele dá uma actualidade fugidia, ou seja, atribuindo a eles, ao longo de um tempo que já não é ou que ainda não é, essa actualidade que ainda não receberam ou que já perderam? A actualidade não pode ser dividida. Não se pode falar de uma actualidade que foi ou que será: é a mesma actualidade que todos os acontecimentos vêm encontrar, ela não os acompanha quando parecem precedê-la ou deixá-la para trás. É no mesmo instante, como uma janela infinitamente estreita, sempre aberta para uma realidade eterna, que todos os aspectos da nossa vida perecível se sucedem. E é por isso que é fácil compreender como ele ora nos parece como uma mudança ininterrupta, se considero o que o preenche; ora como a constância inalterável da minha participação na existência, se considero o acto pelo qual o penso e o faço meu. Portanto, o próprio instante é sempre o mesmo e, no entanto, sempre novo, mas não se pode dizer que envelhece, nem que ressuscita: é um primeiro começo sempre reencontrado. É através do mesmo instante que o conteúdo da minha vida, ao fluir, gera o tempo; e se o próprio Deus não está no tempo, é porque ele é o instante eterno.
V. O futuro
Mas é impossível ao ser finito permanecer constante em sua presença para si mesmo e para o mundo. O tempo é precisamente uma presença dividida, uma presença que cinde em aspectos distintos ou mesmo opostos precisamente para mostrar, por um lado, a insuficiência ou a imperfeição da minha natureza e, por outro lado, a possibilidade de me dar uma existência que escolhi, que depende da minha própria operação, e sem a qual eu seria uma coisa entre as coisas e não um ser dotado de consciência e iniciativa capaz de dizer eu, isto é, de assumir a responsabilidade por mim mesmo. O tempo, portanto, é simultaneamente a marca da minha impotência, pois revela o que me falta e o que me escapa, e a marca da minha liberdade, pois é graças a ele que posso agir, escolher e fazer da minha própria vida uma obra que me pertence.
A partir de então, a experiência do tempo torna-se inseparável do pensamento do futuro. Não se pode negar que a originalidade do tempo se manifesta pela primeira vez quando a posse de um objecto amado nos é subitamente retirada, deixando-nos apenas a sua dolorosa recordação; nem que o passado, precisamente porque está consumado, seja sempre um objecto privilegiado do conhecimento; nem que a própria idéia do futuro seja inteiramente derivada das relações que estabelecemos entre o nosso presente e o nosso passado; e que, por fim, o nosso presente pareça ter necessariamente um futuro, uma vez que nos lembramos de que o nosso presente era um futuro quando o nosso passado era o presente. Contudo, na gênese do tempo, o futuro deve gozar de uma sorte de primazia, pois todo o passado foi, para nós, antes um futuro. E se a reflexão está naturalmente voltada para o passado, podemos dizer que a vida está sempre voltada para o futuro. Ela é um impulso que se dirige a ele visando desbravá-lo e conquistá-lo. A vida é a princípio uma mera potência em nós; mas nos cabe fazer um uso dela. Tomar consciência de si é reconhecer a nossa miséria, mas também sentir nela uma força que nos permite repará-la. O ser nunca nos é mais do que uma possibilidade a qual temos o dever de concretizar. Nascer é ser chamado a realizar a si mesmo. É preciso, pois, que se abra diante de nós um caminho, mas um caminho que não seja nada mais do que um caminho, para que possamos cruzá-lo e deixar nele o rastro dos nossos passos. Ou melhor, o futuro não é mais do que uma pluralidade de caminhos entre os quais devemos escolher e seguir; é vazio porque somos nós que temos de preenchê-lo; é indeterminado para podermos impor-lhe a marca dos nossos actos; é o não-ser que deve ser convertido em ser, mas por um processo que nos é próprio e que nos permite formar o ser que nos pertence.
Sem dúvida, pode nos parecer que o futuro sempre surge sem que a nossa vontade tenha de intervir: ele frequentemente a surpreende e a contradiz. Pelo que temos a ilusão, de certa forma, de que é pré-formado e existe antes de nós, tornando inúteis todas as nossas ações. Mas é que o futuro, uma vez que se tornou passado, parece-nos sempre ter um carácter de necessidade: pensamos que não poderia ter sido diferente. Além disso, quando ele ainda é tão-somente o futuro, a nossa vontade, que deseja dominá-lo, sente o gosto da sua fraqueza; é obrigada a competir com as forças da natureza, com as outras vontades, com a inércia da matéria e do passado, o que pesa sobre todas as suas decisões. Ela é frequentemente derrotada: e o fim que alcança nunca coincide exatamente com o fim que desejava.
Dessa forma, a consciência pode ter posturas muito distintas em relação ao futuro: primeiro, ela dá espaço à expectativa que parece ter um carácter de pura passividade, prologando indefinidamente o tempo e conferindo-nos a emoção de uma possibilidade que tarda em se tornar uma existência. No entanto, uma vez que essa expectativa se torna mais intensa, ela se transforma na angústia, que alguns dos nossos contemporâneos consideram uma revelação metafísica, uma vez que ela nos faz refletir sobre a própria situação do eu consciente de ser apenas um puro poder, mas que teme se exercer e permanece suspenso entre o ser e o nada. A expectativa e a ansiedade já contêm em si uma associação de esperança e de medo: e o pensamento do futuro não deixa de nos fazer oscilar entre estes dois sentimentos opostos, seja porque ainda não se aplicam a nenhum objecto definido, seja porque vão buscar em nossa experiência passada as recordações que os justificam. Já há mais actividade no desejo que indubitavelmente constitui a verdadeira experiência do futuro, isto é, de uma privação, mas que exige uma posse e já a envolve de certa maneira; de um poder que exige ser actualizado e de uma conversão que deve ocorrer entre uma presença virtual ou pensada e uma presença dada ou realizada. A vontade não nega o desejo, ela toma emprestadas as suas forças e o penetra com todas as luzes da reflexão: concentra à sua volta todos os recursos da consciência e obriga a pessoa inteiramente a assumir a responsabilidade por ela.
O futuro não é nada senão o ser em sua forma indeterminada, possível ou inacabada, mas que sempre se desdobra diante de nós para nos permitir assumi-lo, enriquecê-lo e introduzi-lo no universo como nosso. Apoderamo-nos dele e lhe imprimimos o nosso selo, mas para isso, a acção é necessária: é ela que, no instante, permite-nos inserir a nossa vontade no mundo e converter a nossa possibilidade em realidade. Daí o sentimento muito vivo que todos experimentamos de que só a acção nos compromete, que só ela nos liga ao presente, que nos obriga a transcender o horizonte da nossa vida subjetiva e a testemunhá-la diante dos olhos dos outros, e que nos submete à realidade antes de nos permitir modificá-la. No instante, há tão-somente esta acção que pode ser chamada de o nosso próprio ser; e a natureza de uma acção é nunca poder estar nem passado, nem futuro. No entanto, ela é o ponto de junção do passado e do futuro: seu papel é constantemente converter um no outro.
VI. O Passado
A mesma acção que nos envolve no futuro é, portanto, a que cria o nosso passado; um passado que reside inteiramente em nós, mesmo quando está sepultado no esquecimento, e que é tanto o nosso presente espiritual quanto o ser mesmo que nos demos. Em relação ao presente percebido, no qual a minha acção não deixa de se introduzir, pode-se dizer que o passado é, como o futuro, uma forma de ausência. Mas há uma diferença singular entre estas duas formas de ausência: pois o futuro aparecia-me como uma multiplicidade de possibilidades que podiam coexistir no meu pensamento, visto que lhes faltava algo para ser, ao passo que, no momento em que elas o recebem, seja por um efeito da necessidade, seja por um efeito da liberdade, então excluíam-se mutuamente: cada uma delas só podia realizar-se à custa de todas as outras. Esta é a operação que ocorre no instante. Mas, ao produzir-se, ela altera a natureza do possível: determina-o e o completa. Doravante, o passado é para mim o realizado, ou seja, o que é único e irrevogável. Ele se separa imediatamente do acto que o criou e possui um carácter estranho e ambíguo: pois parece ter-me escapado de modo que já não posso obter dele um gozo sensível, é como um bem que perdi definitivamente. Mas, ao mesmo tempo, está tão intimamente ligado a mim, adere tão rigorosamente à minha substância, que não posso nem rejeitá-lo como meu, nem afugentar a sua memória, que se impõe a mim e me oprime como um fardo que não posso rejeitar, embora gostaria.
Dessa maneira, vemos que o passado sempre se revela à consciência por meio de um sentimento de arrependimento, e que a própria palavra arrependimento possui um duplo sentido singularmente instrutivo, uma vez que ela designa tanto o estado de uma consciência que deseja reviver uma felicidade que lhe fugiu, como o estado de uma consciência que deseja abolir da sua vida um acontecimento que se tornou indelével. Existem certas almas perturbadas para as quais o passado é apenas um remorso. E sem dúvida não há ninguém que possa suportar a visão de todo o seu passado sem sentir uma espécie de constrangimento.
Mas esta dupla atitude que temos em relação ao nosso passado, que resulta de não podermos ressuscitá-lo ou aniquilá-lo, revela-nos a sua verdadeira natureza e que uso devemos fazer dele. Pois, ao nos obrigar a reconhecer que o passado é incapaz de renascer, ela obriga-nos a aceitá-lo como passado, a encontrar nele uma forma de realidade purificada que não abala os nossos corpos como a realidade sensível, mas que oferece à actividade do espírito a matéria mais delicada e mais dócil. Só podemos penetrar o valor dos dons que a vida nos traz, o sentido das acções que realizamos, a felicidade que experimentamos e a própria profundidade do sentimento que nos uniu àqueles que amamos, quando a memória os liberta desta forma corporal em que a sua essência por vezes se esconde. É a fraqueza do nosso corpo que chora por tê-los perdido, mas o nosso espírito os reuniu numa posse que não mais perecerá. O que dizer então da tristeza que sentimos por não podermos apagar do passado o que a nossa vontade hoje reprova? Sempre encontramos em nós a marca de tudo o que fizemos; e, no entanto, se é vão gemer por um acto que gostaríamos não só que não fosse lembrado, mas também que não houvesse ocorrido, é porque devemos fazer um uso mais salutar da sua própria lembrança. Assim como o passado que lamentamos ter perdido deixa de nos entristecer se não desejarmos que ele reapareça no mesmo estado transitório em que outrora nos foi dado, e se aceitarmos que ele nos conduzirá a um mundo espiritual onde toda a posse se tornou permanente, assim também o passado que lamentamos ter contribuído para produzir não deve mais nos oprimir se deixarmos de considerá-lo em sua materialidade dissipada, que nos priva de qualquer controle sobre ele. Mas não devemos tentar banir a sua lembrança, pois ela deve permanecer em nós como testemunho da nossa miséria, dos perigos aos quais a nossa liberdade está sempre exposta e da ameaça que ainda paira sobre nós, agora que tal acção nos foi inscrita, e, finalmente, da conversão que o simples pensamento dela basta para produzir em nossa consciência, e que talvez não teria ocorrido se nos abandonássemos aos nossos impulsos naturais, sem experimentar o seu fracasso. Tal experiência aumenta a nossa força e a nossa luz na medida em que a consideramos como pertencente a um passado vivo que hoje está à nossa disposição, isto é, na medida em que deixa de ser para nós uma coisa fixa que parece irreparável e que, porém, gostaríamos de abolir.
VII. Conclusão
Vemos então que a experiência psicológica do tempo não é a experiência de uma corrente na qual seríamos arrastados junto com todo o universo, mas a experiência de um presente em que estamos estabelecidos e do qual não podemos sair. E chamamos-lhe de instante precisamente quando queremos mostrar que é nele que ocorre a transformação incessante da nossa existência possível em uma existência realizada. Portanto, a experiência do tempo é a experiência do acto pelo qual nunca deixamos de nos fazer. É fácil compreender que, ao considerarmos o que passa pelo instante em vez do acto mesmo que nele se realiza, podemos distinguir entre diferentes formas instantes, e até mesmo ordená-las ao longo de uma linha estendida entre o passado e o futuro, onde cada uma apareceria como um ponto do devir universal. Mas o instante não está no devir, uma vez que o devir se produz precisamente no instante. Ele deve permanecer imutável para se tornar o próprio agente da mudança. Porém, essa mudança só é possível porque há heterogeneidade entre duas formas de ser: entre esse ser desconhecido para nós, incompleto e incessantemente oferecido, que chamamos de futuro; e esse ser de que nos apropriamos pela acção, que se tornou agora o nosso passado, que adere ao nosso eu e que lhe é, por assim dizer, entregue, não como uma imagem que o oprime, nem como um peso que o esmaga, mas como uma luz, uma força e um alimento, que ele transporta dentro de si e do qual é livre para dispor.
É uma observação curiosa o facto de o futuro parecer estar sempre à nossa frente, quando todo o futuro está destinado a tornar-se um dia passado; e que ainda exista, para além do futuro mais longínquo, o passado no qual ele cairá. Mas este passado é quase sempre considerado como uma servidão, porque queremos fazer dele um objecto doravante eximido da acção da vontade. No entanto, este passado, que é nossa obra, só tem existência em nosso espírito, que agora suporta toda a sua realidade. Cada acto que realizo é antes de tudo apenas uma tentativa à qual o universo deve dar a sua resposta. Mas é apenas no passado que o possuo, quando ele se tornou o presente do meu espírito: é o passado que o liberta e lhe confere a livre disposição de si. Porém, seria iníquo para com o passado querer dissociá-lo do futuro, sem o qual ele não se tornaria o meu próprio passado, e do instante, onde se produz indivisivelmente o acto pelo qual o crio e o contemplo. A experiência psicológica do tempo aparece-me assim como a experiência da criação de mim mesmo, por uma dissociação operada no instante entre o que eu posso ser e o que eu mereci ser.
“A experiência psicológica do tempo”. Conferência dada em Bruxelas sob os auspícios do Instituto de Estudos Superiores da Bélgica. O texto foi publicado na Revista de Metafísica e Moral, em abril de 1941.
***
Mantivemos a grafia aportuguesada preferida pelo tradutor.
***
Caso o leitor tenha aprendido algo com nossos textos, favor considerar uma doação, via PIX [real]
ou Lightning Network [Bitcoin], no código QR correspondente. Sua
contribuição nos motiva a continuar fornecendo filosofia de forma
simples, mas não simplificada.
Bônus: Recomendações de leitura ao interessado em Louis Lavelle.
por Helkein Filosofia
Comentário: Louis Lavelle pode ser visto como estranho a seu tempo: em um mundo prestes a afundar-se ou no niilismo, ou em seus parentes, o filósofo resolveu tomar a direção inversa e fazer metafísica. O desespero, que alimenta tantos tipos de pensamento, nasce da constatação do abismo sob os pés; uma queda constante, um devir cruel, i.e, uma sensação de que nada há senão o caos que, uma vez camuflado por nossas elucubrações, volta do princípio dos tempos para nos pegar. Mas se é assim, o que a filosofia pode fazer? Ela pode fornecer bases fixas e certas, o regramento da realidade que nos mostra que o caos está antes em nossa incapacidade de compreender a ordem. O que o desesperado precisa não é constatar sua miséria e permanecer nela; ele não precisa amar sua miséria, amar seu estado decaído e crer que suportaria, impávido, um destino em que tudo se repetisse eternamente ou que fôssemos meros entes atirados no ser; o que ele [o desesperado] precisa é do instrumento final da filosofia: a disciplina do ser enquanto ser. Não sei se Lavelle pensou assim, mas o dado é que agiu como se tivesse — e talvez também por isso tenha se tornado um autor tão querido. Forneço aqui algumas sugestões de leitura ao interessado naquele que por vezes foi chamado de Platão do sec. XX.
Urge que sigamos a sugestão do autor e leiamos seus escritos populares. Sendo assim, em primeiro lugar, creio que a melhor porta de entrada seja o magnífico A Consciência de si; logo em seguida vem o tão necessário O Mal e o Sofrimento e então talvez um dos livros mais estranhos a seu tempo que saíram da pena de nosso filósofo, O Erro de Narciso. Resta então, quanto aos escritos populares disponíveis em português, a coletânea de artigos Ciência Estética Metafísica, um livro misto, dado que seu conteúdo pode, em linguagem jovem, “ir de zero a 100 muito rápido” e passar de uma simples resenha a um comentário de física quântica. Deixo o Regras da Vida Cotidiana a critério do leitor, dado que o livro é constituído de anotações que o filósofo não pretendia publicar.
Creio que todos os livros sugeridos sejam de leitura livre, i.e., podem ser lidos a qualquer momento sem que exijam muito mais do que atenção redobrada — dado que o autor é famoso por escrever pouco e dizer muito. Mas a coisa muda totalmente de figura quando falamos de A Presença Total, o “livro de divulgação metafísica” [sic] de Lavelle, em que ele busca apresentar um resumo [sic, novamente] de sua imensa Dialética do Eterno Presente, coleção de que gozamos de apenas um mísero volume em português, a saber, Do Ser. Para ambos os citados, roga-se que o leitor tenha feito o dever de casa, a saber, conhecer mais ou menos os dois mil anos de filosofia que ocorreram antes de Lavelle começar a escrever suas obras. Há muitas outras obras escritas por Lavelle e principalmente muitas outras que não possuem traduções para o português; por outro lado, creio que as recomendadas aqui darão ao interessado um bom panorama das idéias do filósofo.